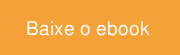Laboratórios do pós-digital
Este livro é uma compilação de artigos que eu escrevi nos últimos dois anos, relacionados a laboratórios experimentais, inovação baseada em conhecimento livre, MetaReciclagem, cidades inteligentes, gambiologia e uma série de fatores que apontam a um campo pós-digital: internet das coisas, computação física, fabricação doméstica, mídia locativa e afins.
Escolha uma das versões:
- Impressa (via Clube de Autores);
- Para seu Kindle (via Amazon);
- Ebook (epub);
- Navegável (neste site);
- HTML (inteiro);
- Para ler na tela (PDF horizontal);
- Para imprimir em casa (PDF, A4, PB);
- Pocket (via Bookess);
- Para ler na tela (Issuu);
- Todas as versões no archive.org.
Todos os textos já foram publicados neste ou em outros sites, e foram revisados e refinados para esta coletânea.
O livro pode ser baixado gratuitamente, mas também existe uma versão em POD (impressão sob demanda) disponível para encomenda no site Clube de Autores. É um preço meio salgado (R$ 28,22) para um livrinho de 76 páginas, mas é um trabalho semiartesanal - eu mesmo montei, diagramei, revisei, fiz a capa e finalizei o livro. Para cada cópia vendida eu ganho menos de R$ 5. Encomendas de quantidades maiores podem fazer o preço baixar.
Para quem baixou alguma versão grátis do livro e quer demonstrar que gostou, eu também aceito flattrs, doações pelo paypal ou pagseguro, e cliques nos anúncios deste site (nos blocos de "jabá", na coluna bem da direita). Toda ajuda será bem-vinda e vai ajudar a desenvolver o projeto Ubalab e todas as outras coisas que eu quero fazer em 2011 (este livro já é uma delas).
 |
||
| bitcoin: 1MjyEB1oK9drJkathMpbBW4VEsjqLpeH13 | ||
É a primeira vez que eu uso o serviço do Clube de Autores. Só terei certeza da qualidade dos livros quando chegar a primeira cópia que eu encomendei, na semana que vem. Para quem não quer correr riscos, as versões digitais são mais garantidas. Chegou minha cópia aqui, e gostei bastante da qualidade de impressão e montagem. Só faltou lombada, mas o livro é fininho - 76 páginas.
Agradeço o apoio de
- Luiz Algarra
- Thiago Carrapatoso
- Marcelo Bohrer
- Ricardo Ruiz
- Elenara Iabel
- Adriano Belisário
- Clarissa Mansour
- Marion Pfeffer
- Meus pais
Intro
Minhas pesquisas atuais passam pela busca de formatos que possibilitem a experimentação com tudo aquilo que opera na interseção entre as redes digitais livres e a vida cotidiana. Também me interessam possibilidades baseadas na expansão da ideia de inovação. Geralmente a inovação é associada a intenções meramente instrumentais, formas de criar oportunidades de exploração comercial. Entretanto, existe um potencial gigantesco de estimular o desenvolvimento da inovação também como motor de transformação social, a partir do diálogo entre o campo dos commons - a produção aberta e em rede - e o que se poderia chamar de pós-digital - internet das coisas, computação física, fabricação doméstica, mídia locativa e afins. Existe ainda outra linha que se cruza com esses referenciais: a incorporação e valorização de traços culturais presentes nas culturas brasileiras - a gambiarra como criatividade do dia a dia e o mutirão como sociabilidade dinâmica e orientada à mudança. Minha busca atual é costurar todas essas coisas em propostas concretas.
Este livrinho é uma coletânea de artigos que escrevi recentemente e que navegam por alguns desses temas. “Cyberpunk de chinelos” é o mais antigo, de setembro de 2009, e marca o começo dessa tentativa de relacionar áreas que até então caminhavam em paralelo. “Caminhos Brasileiros para uma Cultura Digital Experimental” é de junho de 2010, quando começávamos a explorar as bases da plataforma Rede//Labs . “MetaReciclando as Cidades Digitais” foi escrito em agosto de 2010, depois que eu fui convidado a falar sobre MetaReciclagem num debate em Araraquara. O artigo em duas partes “Inovação e Tecnologias Livres” foi publicado em janeiro de 2011, em plena virada de década e de mandatos governamentais. Dois meses depois eu publiquei “Laboratórios Experimentais: interface rede-rua”, ainda tentando construir pontes entre a reflexão sobre laboratórios e o que estou começando a articular em Ubatuba com o Ubalab . Isso também inspirou o artigo final, “Cidades digitais, a gramática do controle e os protocolos livres”, publicado em abril. Nenhum desses textos é inédito, mas acredito que faça sentido publicá-los juntos.
Ubatuba, maio de 2011.
Sobre esta publicação
Esta publicação foi editada e produzida exclusivamente com software livre (Inkscape,Gimp, Sigil, Drupal, eLyXer, gedit, LyX). Ela se inspira em metodologias desenvolvidas pelo coletivo MutGamb. Todos os textos aqui publicados estão sob a licença CC-BY-SA.
Cyberpunk de Chinelos
O mundo virou cyberpunk. Cada vez mais as pessoas fazem uso de dispositivos eletrônicos de registro e acesso às redes - câmeras, impressoras, computadores, celulares - e os utilizam para falar com parentes distantes, para trabalhar fora do escritório, para pesquisar a receita culinária excêntrica da semana ou a balada do próximo sábado. Telefones com GPS mudam a relação das pessoas com as ideias de localidade e espaço. Múltiplas infraestruturas de rede estão disponíveis em cada vez mais localidades. Essa aceleração tecnológica não resolveu uma série de questões: conflito étnico-cultural e tensão social, risco de colapso ambiental e lixo por todo lugar (em particular o Lixo Eletrônico, que no Brasil ainda está longe de ter o tratamento adequado), precariedade em vários aspectos da vida cotidiana, medo e insegurança em toda parte. Mas ainda assim embute um grande potencial de transformação.
O rumo da evolução da tecnologia de consumo era óbvio até há alguns anos - criar mercados, extrair o máximo possível de lucro e manter um ritmo autossuficiente de crescimento a partir da exploração de inovação incremental, gerando mais demanda por produção e consumo. Em determinado momento, a mistura de competição e ganância causou um desequilíbrio nessa equação, e hoje existem possibilidades tecnológicas que podem ser usadas para a busca de autonomia, libertação e auto-organização - não por causa da indústria, mas pelo contrário, apesar dos interesses dela. As ruas acham seus próprios usos para as coisas, parafraseando William Gibson. Em algum sentido irônico obscuro, as corporações de tecnologia se demonstraram muito mais inábeis do que sua contrapartida ficcional: perderam o controle que um dia imaginaram exercer.
O tipo de pensamento que deu substância ao movimento do software livre possibilitou que os propósitos dos fabricantes de diferentes dispositivos fossem desviados - roteadores de internet sem fio que viram servidores versáteis, computadores recondicionados que podem ser utilizados como terminais leves para montar redes, telefones celulares com wi-fi que permitem fazer ligações sem precisar usar os serviços da operadora, videogames que se tornam estações multimídia. Um mundo com menos intermediários, ou pelo menos um mundo com intermediários mais inteligentes - como os sistemas colaborativos emergentes de mapeamento de tendências baseados na abstração estatística da cauda longa.
Por outro lado, existe também uma forte reação. Governos de todo o mundo - desde os países obviamente autoritários como o Irã até algumas surpresas negativas como a França - têm tentado restringir e censurar as redes informacionais. O espectro do grande irmão, do controle total, continua nos rondando, e se reforça com a sensação de insegurança estimulada pela grande mídia - a quem também interessa que as redes não sejam assim tão livres.
Nesse contexto, qual o papel da arte? Em especial no Brasil, qual vem a ser o papel da arte que supostamente deveria dialogar com as tecnologias - arte eletrônica, digital, em "novas" mídias? Veem-se artistas reclamando e demandando espaço, consolidação funcional e formal, reconhecimento, infraestrutura, formação de público. São demandas justas, mas nem chegam a passar perto de uma questão um pouco mais ampla - qual o papel dessa arte na sociedade? Essa "nova" classe artística tem alguma noção de qual é a sociedade com a qual se relaciona?
Aqui no Brasil é recorrente uma certa projeção dos circuitos europeus de arte em novas mídias, como se quisessem transpor esses cenários para cá. Não levam em conta que todos esses circuitos foram construídos a partir do diálogo entre arte e os anseios, interesses e desejos de uma parte da população que é expressiva tanto em termos simbólicos como quantitativos. Se formos nos ater à definição objetiva, o Brasil não tem uma "classe média" como a europeia. O que geralmente identificamos com esse nome não tem escala para ser “média”. Aquela que seria a classe média em termos estatísticos não tem o mesmo acesso a educação e formação. É paradoxal que a "classe artística" demande que as instituições e governo invistam em formação de audiência, mas se posicione como alheia a essa formação, como se só pudesse atuar plenamente no dia em que a "nova classe média" for suficientemente educada para conseguir entender a arte, e suficientemente próspera para consumi-la.
Muita gente não entendeu que não só o Brasil não vai virar uma Europa, como o mais provável é que o mundo inteiro esteja se tornando um Brasil - simultaneamente desenvolvido, hiperconectado e precário. Não entendeu que o Brasil é uma nação cyberpunk de chinelos: passamos mais tempo online do que as pessoas de qualquer outro país; desenvolvemos uma grande habilidade no uso de ferramentas sociais online; temos computadores em doze prestações no hipermercado, lanhouses em cada esquina e celulares com bluetooth a preços acessíveis, o que transforma fundamentalmente o cotidiano de uma grande parcela da população - a tal "nova classe média". Grande parte dessas pessoas não tem um vasto repertório intelectual no sentido tradicional, mas (ou justamente por isso) em nível de apropriação concreta de novas tecnologias estão muito à frente da elite "letrada".
Para desenvolver ao máximo o potencial que essa habilidade espontânea de apropriação de tecnologias oferece, precisamos de subsídios para desenvolver consciência crítica. Para isso, o mundo da arte pode oferecer sua capacidade de abrangência conceitual, questionamento e síntese. Vendo dessa forma, as pessoas precisam da arte. Mas a arte precisa saber (e querer) responder à altura. Precisa estar disposta a sujar os pés, misturar-se, sentir cheiro de gente e construir diálogo. Ensinar e aprender ao mesmo tempo. Será que alguém ainda acredita nessas coisas simples e fundamentais?
Rede//Labs - Caminhos brasileiros para a Cultura Digital Experimental
Nos anos recentes, as tecnologias de informação e comunicação se desenvolveram em um ritmo bastante acelerado, disseminando-se por praticamente todas as áreas do conhecimento. Os brasileiros viramos recordistas no tempo mensal de uso de internet, especialmente com o uso em massa de redes sociais – uma tendência que seria vista em todo mundo alguns anos depois do que por aqui. As tecnologias em rede fazem cada vez mais parte do imaginário – mais um motivo para experimentação, crítica e reflexão. Grande parte dos programas de inclusão digital do terceiro setor e do setor público também já entenderam que sua missão não pode estar limitada a oferecer acesso, e atuam na dinamização de projetos (como os projetos comunitários nos programas Acessa SP e Telecentros.br articulados pela Weblab.tk), formação de público e desenvolvimento do potencial de jovens criadores.
Em particular, cresceram de maneira significativa as ações no cruzamento entre arte, ciência, tecnologia e sociedade. Uma quantidade cada vez maior de espaços, eventos, redes e programas dedicam esforços a promover reflexão, produção e articulação na área – costurando atuação entre as instituições culturais e artísticas, a academia, os coletivos independentes, o governo e a indústria. Artistas, produtores, estudantes e curiosos têm cada vez mais oportunidades para se conhecer e aprender uns com os outros. Não só brasileiros – frequentemente, os eventos realizados aqui contam com a presença de nomes importantes do mundo todo, enquanto eventos de todo o mundo também convidam representantes brasileiros. Instituições de naturezas diversas têm fomentado a criação e exibição de projetos críticos e engajados, reconhecendo a relevância dessa produção. O mesmo em eventos como o FILE, o Emoção Art.Ficial, o Arte.Mov, a Submidialogia e tantos outros. No Brasil ainda não existe uma visão clara de circuito, mas grande parte dessas iniciativas operam em parcerias informadas. Estratégias conjuntas já parecem estar no horizonte, é só questão de criar os mecanismos adequados.
Uma particularidade: “mídia” e “laboratório”
Eu demorei para prestar atenção nisso, mas é emblemático que aqui no Brasil a gente fale em “a mídia” como uma palavra no singular. Talvez isso seja um eco dos tempos em que praticamente o único meio de comunicação relevante era aquela grande emissora de televisão. Talvez tenha a ver com a tendência que os meios de comunicação de massa têm ao uníssono, ao alinhamento e à falta de diversidade. De qualquer forma, às vezes tenho a impressão de que usar o termo “mídia” para identificar esse tipo de experimentação convergente para a qual queremos propor caminhos acaba por limitar bastante a compreensão dela: muitas pessoas pensam que se trata de “fazer vídeos”, ou então de “fazer meios de comunicação alternativos” – o que é necessário, mas não é o foco aqui. Um assunto sobre o qual todo mundo acha que precisa tomar uma posição clara a favor ou contra acaba tendo pouco espaço para aquele tipo de liberdade que permite inovação concreta. Por isso queremos desviar um pouco do foco da mídia e concentrar mais nas possibilidades de intercâmbio entre espaços de articulação, ou laboratórios.
Durante o Labtolab, Gabriel Menotti me falou que achava a ideia de laboratório tão ou mais complicada que a de mídia. Concordo que alguns dos significados geralmente atribuídos a laboratórios são realmente difíceis. Mas ainda assim, muitas interpretações são possíveis. Tentando equacionar uma construção que vá além da ideia disseminada de laboratórios de mídia, prefiro manter o termo que permite uma maior flexibilidade de interpretação.
Raqueando estruturas
Talvez porque até há pouco tempo não existia quase nenhuma possibilidade formal de financiamento de projetos experimentais, as pessoas interessadas na área aprenderam a ocupar todo espaço possível, mesmo em projetos com outras naturezas. Um exemplo emblemático é o papel que o SESC de São Paulo exerce há alguns anos – como um dos primeiros espaços a abrigar um tipo de experimentação que se posiciona entre o ativismo midiático e a educação. Muita gente começou ou desenvolveu a carreira oferecendo oficinas no SESC. Um caso próximo (entre dezenas ou centenas desenvolvidos por conhecidos): entre janeiro e fevereiro de 2007, eu organizei com Ricardo Palmieri o LaMiMe – Laboratório de Mídias da MetaReciclagem. Foi uma ocupação temporária da sala de internet do SESC Avenida Paulista, que ofereceu oficinas sobre eletrônica básica e hardware livre (arduinos, etc.), software livre (pd, cinelerra, ardour, etc.) e outras. Foi uma oportunidade excelente para trocar conhecimento e conhecer gente nova. Mas o formato de oficina condiciona as trocas para um lado mais instrumental e pontual, e coíbe um pouco o ritmo mais caótico e despretensioso da descoberta. Por mais que se beneficiem mutuamente, a educação e a experimentação têm objetivos e naturezas distintas, e é necessário que aconteçam com respeito a essas diferenças.
O mesmo pode ser visto no contexto dos Pontos de Cultura: é comum ver pessoas interessadas em desenvolver projetos experimentais mas que por força dos formatos possíveis acabaram se submetendo à lógica educacional. Repito: oficinas são fundamentais. Mas não são tudo.
Propondo novos caminhos
Em vez de ficar sempre tentando encontrar brechas nos formatos possíveis, precisamos pensar em quais são os formatos que podem dar conta de equilibrar a diversidade de necessidades pessoais, artísticas, institucionais e sociais.
Uma das conversas online do Rede//Labs debateu a questão da experimentação e da incorporação do erro dentro do processo. Em um desdobramento daquela conversa na rede MetaReciclagem, eu citei uma imagem que Ivana Bentes trouxe para o debate Arte Open Source (com Giselle Beiguelman e André Mintz, na Campus Party de 2010): “a obra é o lixo do processo artístico”. O fato de grande parte dos mecanismos de apoio à arte ainda se basearem na ideia de obra pode ser uma das causas pelas quais existe mais competição do que colaboração. Como fazer para trazer essa dimensão do processo para dentro do ciclo?
Hoje em dia, um espaço que tem recebido reconhecimento pela inovação e relevância é o Eyebeam, em Nova Iorque. Um dos formatos com os quais eles trabalham são as fellowships, bolsas concedidas para artistas destacados, não necessariamente ligadas a um projeto específico. Será que isso é um caminho interessante? Certamente, nos últimos anos têm aparecido oportunidades similares aqui no Brasil. Só para citar algumas: as bolsas da Funarte, que desde 2009 reconhecem a cultura digital como uma área de investigação e produção, ou o programa Rumos do Itaú Cultural. Também o Prêmio Sergio Motta, o novo File Prix Lux e alguns recentes prêmios do Ministério da Cultura propõem questões próximas. O Minc criou também o projeto XPTA.Labs, que se posiciona de maneira bastante específica na questão experimental, e lançou um edital de Esporos de Cultura Digital, que também se propõe a apoiar espaços de articulação e produção.
Um pouco do meu pé atrás em propor uma política centrada em laboratórios parte do princípio de que a falta de infraestrutura – equipamentos e acessibilidade – não é mais o maior obstáculo à produção. O coordenador de um famoso laboratório de mídia europeu comentou comigo no ano passado que estava frente a um problema grave: o espaço e a infraestrutura de sua organização triplicariam nos próximos anos, mas o orçamento para atividades deveria diminuir em 30%. Ele questionava a retórica de infraestrutura que havia usado para conquistar apoio institucional em seu contexto. O que acho que faz mais falta aqui no Brasil são os mecanismos adequados para a troca, exibição, formação de público e – é claro – sobrevivência. Estamos no momento de propor esses mecanismos.
Daí vêm algumas perguntas que tenho repetido nas últimas semanas para algumas pessoas, e que quero fazer também a qualquer pessoa interessada no assunto:
- Faz sentido pensar em um projeto que tenha por foco apoiar e desenvolver ações de cultura digital experimental? No que ele deveria consistir?
- Como ir além do modelo de laboratório de mídia? Acesso à internet, equipamentos para produção e espaços de encontro estarão cada vez mais disponíveis. Se é possível fazer cultura digital experimental em uma livraria que ofereça internet sem fio, no próprio quarto ou na garagem de casa, o que um espaço que se dedica a isso precisa ter para atrair as pessoas e fomentar a troca e a produção colaborativa?
- É possível construir uma conversa realmente colaborativa entre laboratórios? Projetar em um cenário em que as diferentes instituições e grupos envolvidos se proponham a, mais do que demandar recursos, também oferecer partes de sua estrutura, conhecimento aplicado e oportunidades de apoio para uma rede aberta de laboratórios de cultura digital experimental. Mais do que residências, promover itinerâncias e nomadismo comunicante pode ser um bom caminho.
- Qual a necessidade que temos hoje em dia de infraestrutura? O Minc, por exemplo, está caminhando no sentido de interligar seus espaços com fibra ótica – o que cria uma possibilidade de uso de banda larguíssima para experimentação e projetos. O que é possível propor em uma estrutura interconectada dessas?
MetaReciclando as cidades digitais
A MetaReciclagem
A rede MetaReciclagem completou recentemente oito anos de um diálogo aberto e colaborativo sobre apropriação tecnológica. Ainda insistimos em não nos deixar enquadrar nas caixinhas temáticas que tentam nos associar ao mero reuso de computadores com a instalação de software livre e montagem de espaços de inclusão digital. Certamente, isso constitui uma das bases comuns entre os integrantes da rede, e até assumiu ao longo do tempo um caráter ritual, de replicação de metodologias que constroem identidade. Mas nossos horizontes são mais amplos: a desconstrução de tecnologias é um universo abrangente. Aí incluímos computadores e dispositivos enredados, mas também a construção de habitações, a culinária, a tecnologia aplicada ao meio ambiente, assim como os meios de comunicação, as linguagens artísticas, as formas coletivas de organização e existência. Entendemos como tecnologia toda ação ou objeto que embute um propósito a partir de algum método.
O aspecto da desconstrução merece um pouco mais de atenção. O que importa aqui não é tanto seu aspecto objetivo, mas sim o processual - não o ponto a que a desconstrução leva, mas o caminho que percorre. É o proverbial "abrir a caixa preta", questionando aquilo que se apresenta a cada etapa. A abertura supõe antes de mais nada uma sensibilidade do gesto de abrir, uma habilidade relacionada à percepção daquilo que pode ser aberto. Mesmo tratando de caixas pretas simbólicas, buscamos provocar processos evolutivos - como o monolito de 2001 - cuja mera existência teria provocado a curiosidade que nos diferenciou das bestas. É essa curiosidade - um potencial criativo latente - que emerge como traço comum a todos os bandos metarecicleiros. Propomos uma criatividade não mais separada da experiência cotidiana, mas harmonizada com todos os aspectos da vida.
Complementar à gestualidade da abertura é a defesa da circulação livre de informação e conhecimento: as ações de MetaReciclagem usam software livre e buscam caminhos para o desenvolvimento de hardware aberto, promovem o espectro eletromagnético aberto, publicam conteúdo com licenças livres. A rede em si funciona não somente como virtualização das relações, mas como um espaço construído socialmente que estende o potencial das ações locais - em escala proporcional à quantidade de informação que os atores locais publicam e à diversidade dos integrantes da própria rede. Sempre esteve presente na MetaReciclagem a certeza de que é difícil estabelecer limites precisos entre o online e o offline. Essa visão se reflete nas múltiplas identidades que ela assume - compreendendo simultaneamente o relacionamento com comunidades a partir de ações ultralocais e a mais profunda sensação de socialização remota. Isso possibilita um nível elevado de produção colaborativa e enredada: ideias e projetos desenvolvidos através da rede, que podem ser rapidamente replicados em qualquer lugar.
Cidades Digitais
De certa forma, refletir sobre perspectiva da cidade traz para as redes um contraponto que pode ser muito produtivo. A cidade é a experiência imediata de estar em sociedade, uma experiência cuja iminente irrelevância os mais afoitos pregadores das redes digitais quiseram determinar. Segundo eles, a vida na cidade seria cada vez menos necessária, uma vez que não precisaríamos mais conviver com vizinhos desagradáveis. Felizmente, estavam equivocados em sua tentativa de elevar ao extremo o efeito da câmara de eco - em que as pessoas só ouvem opiniões parecidas com suas próprias. Hoje a cidade volta ao foco não como oposto do digital, mas como um cenário que ele pode ampliar e multiplicar, e com isso ampliar e multiplicar a si mesmo. É uma relação certamente complementar.
Nos últimos anos foram desenvolvidos milhares de sistemas, ferramentas e aplicativos, além de instalações artísticas, projetos educacionais e comerciais, que propõem o hibridismo entre as redes e o "mundo lá fora", possibilitando uma infinidade de interfaces físicas para sistemas de informação. Em paralelo, veio também a disseminação do discurso das "cidades digitais". Mesmo que se tenha constituído em grande medida como mais uma expressão da moda para os surfistas de hype, que adotam ideias que soam impactantes sem necessariamente refletir sobre suas consequências, é interessante pensar na expansão de possibilidades enredadas para as cidades.
É possível construir pontes entre as propostas da MetaReciclagem e os projetos de cidades digitais. Podemos começar desconstruindo a própria definição de “digital”. Por exemplo: apesar do suporte digital, grande parte dos usos das novas tecnologias são experiências analógicas - mover um mouse ou tocar na tela, ver uma imagem, escutar música. Chamá-las de digitais só faz deslocar o foco do que é realmente importante: as possibilidades de desintermediação, de colaboração e de autogestão. Até que ponto os projetos de cidades digitais não incorrem no mesmo vício?
Outro aspecto que deve ser considerado em relação a essas tecnologias: acesso não é tudo. Para falar a verdade, acesso não é quase nada. Existem tantas camadas que se sobrepõem ao mero acesso que toda a retórica da inclusão digital precisa ser repensada, ainda mais se colocada em perspectiva histórica. Em levando-se a sério, qualquer iniciativa de inclusão propriamente dita deveria ansiar pela própria irrelevância em alguns anos. Deveria considerar que sua missão terá sido cumprida quando não for mais necessária.
Aquelas experiências de cidades digitais que tratam apenas de oferecer acesso à internet, mesmo sem fio, deixam de lado um grande potencial. Precisam, antes de mais nada, incorporar a convicção de que as tecnologias são políticas, que constroem e transformam imaginários. Não são meros instrumentos cujos usos estão encerrados em maneiras predefinidas de uso. Por isso, tais projetos não podem se submeter à lógica da indústria, que trata as tecnologias somente como oportunidades de expandir e aumentar os lucros dos mercados de "produção cognitiva". É fundamental que se estimulem a experimentação, a reinvenção e a liberdade de usos.
Mas todos esses argumentos (hoje em dia) são quase óbvios. Eu gostaria de ir além. A gente muitas vezes esquece que a ideia contemporânea de cidade não é um absoluto, mas um episódio a mais em um longo processo histórico. Desde os primeiros assentamentos e tribos, passando por aldeias, pela polis grega e cidades-estado, pelo surgimento e queda dos diferentes impérios do ocidente e do oriente, o limite entre civilização e caos romanos, os castelos medievais, os burgos, até a aglomeração que se viu a partir da revolução industrial. Uma transição que fez com que a vida em sociedade gradualmente perdesse a sensação de familiaridade, acompanhada em séculos recentes de projetos urbanísticos e de políticas públicas que ajudaram a forjar a ideia moderna de cidade. Como a conhecemos hoje, a cidade é reflexo de um ideal de sociedade - industrializada, capitalista, baseada na democracia representativa e em religiões monoteístas. Nessa forma idealizada, ela possui algumas características específicas:
- induz ao agrupamento por atividade econômica, que traz vantagem competitiva a todos - empresas, fornecedores e clientes;
- propõe uma distinção clara entre os espaços particulares com privacidade absoluta e os espaços públicos, onde a informação circula;
- requer estabilidade e homogeneidade, baseada na formação de classes médias;
- supõe a centralização de poder (delegado pela população às autoridades), o que facilita o controle e a segurança;
- privilegia a centralização das fontes de informação: escola, imprensa, igreja/sinagoga/mesquita e comunicação de massa.
Podemos questionar as suposições sobre as quais essa cidade está baseada. O futurólogo alemão Chris Heller, por exemplo, discorda da associação comumente feita entre privacidade e liberdade. Segundo ele, ao tratar a privacidade como absoluto, o dissenso fica esmagado - o que gera sociedades mais moralistas e hipócritas. Heller não é o único a sugerir uma redefinição da privacidade. Especialmente no caso do Brasil, a cidade moderna é uma ideia que foi importada sem muita preocupação com sua adequação às nossas características. Pior ainda, foi distorcida e implementada de maneira equivocada. Se podemos ler a ideia de cidade como uma tecnologia - geralmente desenvolvida de cima para baixo -, podemos também tentar metareciclá-la - desconstruindo suas bases, propondo releituras, apropriações e ressignificações.
MetaReciclando cidades digitais
O ideal de cidade moderna está cada vez mais distante do que se pode ver cotidianamente nos nossos centros urbanos, talvez mais bem descritos como pós-cidades cyberpunk. Um exemplo claro, talvez extremo, é São Paulo. Vemos redes digitais por toda parte, sabotando as hierarquias da informação - para o bem e para o mal. Uma cidade não mais centralizada, mas fragmentada em diversas frentes. Uma economia distribuída e em grande medida informal. Um dinamismo que responde criativamente à instabilidade. Grandes contraste e mobilidade sociais. Uma sensação constante da iminente irrupção da violência, reforçada pelo alto nível de ilegalidade e impunidade, que refletem uma perda daquele controle que a cidade como estrutura costumava representar. É importante tentar atualizar nosso referencial sobre o que é uma cidade, para entender como podemos atuar para efetivamente transformá-la.
Um dos primeiros rascunhos de ações elaborado dentro do Projeto Metá:Fora foi o Prefeituras Inteligentes, de Daniel Pádua, muito antes de qualquer um de nós ter contato com políticas públicas do mundo real. Propunha basicamente que as cidades fossem vistas como espaços informacionais complexos, e que se desenvolvessem espaços de catalisação do potencial transformador dessa informação a partir de laboratórios ligados em rede com infraestrutura metareciclada. Isso nunca virou um projeto concreto, mas certamente influenciou coisas que a gente desenvolveria nos anos seguintes.
O que é essencial na cidade? Quais são suas estruturas de informação? Ruas, praças, espaços públicos, espaços particulares de uso público, espaços privativos... como se pode interferir para criar relações mais colaborativas, participativas e livres? Como vamos raquear a tecnologia cidade? Como podemos transpor as ações que promovem a transparência de dados para o espaço urbano?
Mesmo com cada vez mais ruído na relação, a cidade continua sendo central na vida contemporânea - pelo acesso a infraestrutura compartilhada (serviços básicos, saneamento, etc.), pela concentração de oportunidades de estudo, trabalho e atividades culturais. Existe também uma certa vertigem que leva à projeção (ou ilusão) de crescimento, enriquecimento, mudança de vida. Mas é fato que cidades menores têm cada vez mais acesso a infraestrutura, e que cada vez mais oportunidades de trabalho poderão ser realizadas à distância. A médio e longo prazos, qual será o efeito disso na concentração urbana?
Até mesmo nos grandes centros, começam a despontar projetos mais focados nos bairros do que na cidade toda - tentando trazer de volta a familiaridade da vizinhança, o compromisso de pessoas que compartilham condições de vida. Um movimento interessante nesse sentido é o das transition towns, que propõe soluções para os desafios das mudanças climáticas a partir da transformação emergente do cotidiano local - bairros, vilarejos, pequenas cidades. Outro projeto interessante é o espanhol Wikiplaza, que propõe entender o espaço público como sistema operacional, e nele promover a circulação de informação.
Experimentação
É necessário refletir sobre o papel que as ações situadas na fronteira entre arte, ciência e tecnologia devem assumir nessa metareciclagem de cidades. Um dos aspectos que investigamos no projeto Rede//Labs é justamente essa conexão entre a experimentação e a cidade. De que forma podemos propor que a exploração das fronteiras abstratas da inovação continue fazendo sentido e realimentando a vida "real"?
É interessante perceber essa mudança acontecendo também nos circuitos experimentais. A edição de junho de 2010 do projeto Interactivos, no Medialab Prado de Madri, reconheceu o movimento de "ciência de garagem", que vem emergindo nos últimos anos, mas propôs uma abordagem mais participativa: ciência de bairro. Os resultados foram muito interessantes: projetos que mesclavam conhecimento científico, perspectiva estética e demandas sociais ou ambientais.
Uba
Mesmo em contextos nos quais o urbanismo moderno nunca chegou a se desenvolver plenamente, é útil pensar na metareciclagem da ideia de cidade como ferramenta de construção de imaginário e transformação (talvez pensando em um desurbanismo). Nos últimos tempos, tendo a concordar com John Thackara - podemos fazer muito mais em nossa própria vizinhança do que fora dela. Estou articulando um projeto aqui em Ubatuba, litoral do estado de São Paulo, tentando trazer todas essas questões para um ambiente diferente daqueles em que trabalhei até hoje. Vamos ver no que dá.
Inovação e tecnologias livres 1 - a década que foi
O começo do milênio
Dez anos atrás, naquele começo de década que foi também começo de milênio, eu tinha acabado de decidir que continuaria em São Paulo. Havia me mudado para a capital do concreto no ano anterior para viver com a família de meu pai, mas ele estava retornando a Porto Alegre. Foi o coração que me convenceu a permanecer. O coração romântico, apaixonado por aquela que veio a se tornar minha amada e mãe da minha filha, mas também o coração da coragem, do desafio. Me incomodava a ideia de voltar a Porto Alegre sem ter realizado nada de relevante. Fiquei. Para pagar as contas vendi o carro, comecei a trabalhar em uma produtora multimídia e de internet, mudei para uma casinha pequena e simpática a dois quarteirões do trabalho.
A internet era cada vez mais importante na minha vida. Eu tinha a sensação de que a vivência em rede levava a modos de aprendizado, criação e sociabilidade que não tinham precedentes. Pela rede conheci outras pessoas que compartilhavam a certeza de que a internet não era só comércio, nem o mero acesso a conteúdo publicado por outras pessoas. Entendi que cada pessoa conectada à rede é também uma co-criadora, que não só acessa conteúdo (uma abstração equivocada), mas também constrói um contexto único em que interpreta e reconfigura tudo que vivencia.
Inspirado pelas conversas em listas de discussão, criei meu primeiro blog em 2001. Comecei a estudar sistemas para o compartilhamento online de ideias e referências, e esse foi meu primeiro contato com software livre. Em pouco tempo eu quase não trabalhava mais, e dedicava o dia todo a essas pesquisas. Acabei demitido da produtora, mas fiquei amigo de um dos sócios, Ike Moraes. Ele também tinha um projeto chamado Roupa Velha, elaborado com alguns amigos e tocado pelo saudoso Adilson Tavares.
Meu foco de interesses foi mudando naquela época. Acabei deixando a publicidade de lado para trabalhar numa empresa de cursos corporativos. Ali tinha um pouco (um pouquinho) mais de liberdade pra pensar em tecnologia para educação e inovação, e no tempo livre testar sistemas livres de publicação online e colaboração. Paralelamente, participava de um monte de redes abertas. Em 2002 criamos o projeto Metá:Fora, que reuniu gente interessante como Hernani Dimantas, Daniel Pádua, Paulo Bicarato, Bernardo Schepop, Dalton Martins, Charles Pilger, Tati Wells, Marcus e Paulo Colacino, TupiNambá, Marcelo Estraviz, Drica Veloso, André Passamani, Felipe Albertão, Edney Souza e mais algumas dezenas de pessoas.
Foi um ano de muita efervescência experimentando com criatividade e aprendizado distribuídos, autopublicação, economia da dádiva, apropriação crítica de tecnologias, conhecimento livre, mídia tática, mobilização em rede e diversas formas de ação para transformação social. Defendíamos que imaginar uma diferença entre "real" e "virtual" era um equívoco tremendo. Operávamos em ações pontuais mas informadas, inspirados pelo imaginário das zonas autônomas temporárias (TAZ) e de redes rizomáticas. Criamos muita coisa juntos até que o projeto foi encerrado, deixando de herança para o mundo "um wiki recheadaço" e alguns projetos que tentariam se manter de forma autônoma. O mais relevante deles foi a rede MetaReciclagem.
A MetaReciclagem foi concebida genuinamente em rede, e implementada de forma distribuída e totalmente livre. Ela começou na prática como um laboratório de recondicionamento de computadores usados destinados a projetos sociais, baseado na zona sul de São Paulo. Foi uma parceria com o Agente Cidadão, OSCIP que era a reencarnação do projeto Roupa Velha. Depois de algum tempo o foco da MetaReciclagem se tornou mais amplo. Ela se expandiu para outros lugares, em projetos independentes e autogestionados. Desde o princípio, adotamos alguns posicionamentos que à época estavam longe de ser senso comum:
- a importância central do acesso à internet como condição para transformação social profunda;
- a viabilidade do software livre como plataforma local e remota em projetos de tecnologia para a sociedade;
- o caráter cultural das redes livres conectadas, a emergência de novas formas de relacionamento social e de inovação a partir delas;
- a urgência do debate sobre lixo eletrônico e a possibilidade de reutilização criativa de hardware;
- o potencial de outras formas de acesso à internet: redes comunitárias wi-fi, dispositivos móveis, etc.
É importante enfatizar aqui: em 2002, nenhum desses tópicos era consenso entre os principais atores institucionais dos projetos de "inclusão digital". A prioridade no uso da internet era questionada pelos projetos que só promoviam o adestramento de manobristas de mouse. Diziam que os coitadinhos só precisavam aprender a operar o teclado para preencher seu currículo e conseguir um emprego, e que qualquer outro uso era supérfluo. Acreditavam que era perda de tempo a garotada ficar (antes da era do Orkut) no bate-papo do UOL. Falavam que "ninguém quer computador velho, o lugar disso é no lixo". Afirmavam que o software livre era um equívoco, porque "o mercado não vai aceitar". Essa posição, aliás, existia no mercado de TI em geral. Eu lembro da empolgação que nos tomava a cada minúscula nota sobre software livre publicada na imprensa especializada.
Eu continuo acompanhando projetos de tecnologia e inclusão digital em diversos contextos institucionais, partidários e geográficos. Tenho orgulho de dizer que influenciamos pelo menos meia dúzia de grandes projetos de tecnologia para a sociedade. Ganhamos algumas batalhas desde aquela época. Os princípios que defendíamos são hoje amplamente aceitos.
A lista de discussão da MetaReciclagem tem mais de quatrocentas pessoas. O site, mais de mil cadastros. Alguns milhares já participaram de oficinas de MetaReciclagem, de forma radicalmente descentralizada. Fomos convidados a participar de eventos em diversos lugares do mundo, de Banff (Canadá) - onde Hernani Dimantas foi palestrar - a Kuala Lumpur (Malásia), onde Dalton Martins participou de um seminário de empreendedorismo. Fomos tema de teses, dissertações e artigos acadêmicos. Inspiramos dezenas de projetos. E a rede continua pulsante, o que me deixa feliz todo dia.
Uma Cultura Digital
Em termos de compreensão sobre o papel das novas tecnologias de informação e comunicação, o momento agora é outro. Não precisamos mais convencer as pessoas sobre a importância da internet. Das redes sociais. Do software livre. Boa parte dos figurões do mundo político, de todos os partidos, tem pelo menos um blog, usa o twitter e tem canal no facebook. Começamos a nova década em um patamar muito mais alto. A internet é entendida como recurso fundamental para uma cidadania plena. Existem iniciativas como o Plano Nacional de Banda Larga, o programa Computador Para Todos, o Um Computador por Aluno. A maioria dos estados tem projetos de inclusão digital com software livre. Já existem mais telefones celulares do que habitantes no Brasil. Pessoas que tinham aversão aos computadores são hoje os mais entusiásticos usuários das redes sociais. Os internautas brasileiros são os que usam a rede por mais tempo a cada mês, em comparação com outros países.
Tivemos por seis anos um Ministro da Cultura que declarou-se hacker e fomentou o desenvolvimento de uma série de projetos baseados em uma Ecologia Digital (José Murilo, que tornou-se o coordenador de cultura digital no Ministério, escreve há anos sobre o assunto). Os primeiros anos da ação cultura digital nos Pontos de Cultura, implementada por integrantes de diversas redes e coletivos independentes e orquestrada por Claudio Prado , foram um capítulo importante na construção de uma compreensão brasileira das tecnologias livres como expressão cultural legítima e extremamente fértil. Alguns dos princípios colocados naquele projeto - descentralização integrada, autonomia, identificação de catalisadores locais para replicação das redes, incentivo a uma ecologia de publicação de conteúdos livres, educação sobre ferramentas livres de produção multimídia - foram de uma inovação profunda para o mundo institucional, mesmo que - por conta do descompasso entre a velocidade necessária e a precariedade de condições de implementação - nunca tenham chegado a se desenvolver plenamente.
O Ministério precisaria de uma equipe muito maior do que é viável para gerenciar e acompanhar satisfatoriamente essa multiplicidade de contextos. Os Pontos também acabam ficando dependentes das verbas de uma só fonte (verbas que por sinal nunca chegam na data prevista), e não trabalham com o horizonte de autonomia efetiva de recursos. É necessário avançar, e muito, nas questões da autogestão da rede de Pontos; dos arranjos econômicos locais; do seu impacto social, econômico e ambiental. Mas eles continuam sendo umas das experiências mais transformadoras realizadas pelo governo que se encerrou dezembro passado. Estamos esperando que a nova gestão trate de ampliar, profissionalizar e aprofundar essa experiência.
Livre?
Uma questão que ficou em aberto no meio do caminho está ligada à qualidade do engajamento em ecologias abertas e livres. O Brasil tem se tornado de fato um grande usuário, mas estamos lá atrás no que toca ao desenvolvimento propriamente dito de software livre. De certa forma, é uma relação parasitária: estamos nos utilizando de software disponibilizado livremente, mas não estamos em retorno contribuindo com esse banco aberto de conhecimento aplicado. Não é uma situação tão desequilibrada que inviabilize o sistema como um todo (a tragédia do comum não se transfere totalmente para o contexto digital), mas investir de forma mais pesada no desenvolvimento de software livre seria a atitude coerente com o discurso que estamos adotando. O conhecimento livre é muito mais profundo do que a mera distribuição gratuita. Ele engendra uma economia aberta, distribuída e descentralizada. E precisa de investimento que assegure o funcionamento dessa economia.
Os novos governos federal e estaduais que assumiram nesse momento de referenciais avançados em relação a oito anos atrás precisam entender o potencial e a importância de adotarem alguns princípios claros. O apoio à liberdade de circulação da informação (e a publicação de dados oficiais abertos, como tem defendido a Transparência Hacker), o fomento à emergência de soluções livres e à descentralização integrada, a orientação sobre a sustentabilidade socio-economico-ambiental da produção criativa em rede e a escolha intransigente de protocolos abertos e livres são necessários em todas as áreas do conhecimento. Precisamos compreender que o acesso à informação não basta - precisamos é de participação, cotidianos compartilhados e aprendizado em rede. O estímulo à inovação aberta baseada nesses princípios pode promover saltos quantitativos no alcance de iniciativas das comunicações, diplomacia, educação, cidades, segurança, defesa civil, saúde, meio ambiente, transporte, turismo, direitos humanos, ciência e tecnologia, e por aí vai.
Inovação e tecnologias livres 2 - hojes e depois
Acesso é só o começo. Nos dias de hoje e no futuro próximo, a separação entre incluídos e excluídos digitais está se reduzindo cada vez mais. Mas existe outra tensão à qual precisamos ficar atentos: a tensão entre tecnologias de confiança e tecnologias de controle (como exposto por Sean Dodson no prefácio do Internet of Things, de Rob van Kranenburg). Essa situação já está à nossa porta.
Por mais que tenhamos avançado substancialmente nos últimos anos, existem ameaças cada vez maiores à liberdade que em última instância é a matéria-prima para a inovação na internet. São congressistas elaborando leis para controlar a rede, invadindo a privacidade de seus usuários. São empresas de telecomunicações que não respeitam a neutralidade da rede. Associações de propriedade intelectual que forçam a associação entre compartilhamento e pirataria (e empresas jornalísticas que usam a lei para silenciar críticas bem-humoradas). Fabricantes de hardware que deliberadamente restringem o uso de seus produtos. Iniciativas que tendem a usar as tecnologias como ferramentas de controle, para o benefício de poucos. Essa é uma batalha árdua e longa que está sendo travada globalmente, e vai ficar ainda mais feia nos próximos anos. Não podemos perdê-la de vista.
Além desse quadro atual de conflitos, também é importante trazer para a reflexão as novas possibilidades das tecnologias digitais, que cada vez mais se distanciam daquela ideia equivocada que opunha o virtual ao real. A tecnologia que vem por aí não trata somente de computadores ou telefones móveis para acessar a internet. Existe um amplo espectro de pesquisa e desenvolvimento que propõe novas fronteiras, no que pode ser entendido como pós-digital: computação física e realidade aumentada; redes ubíquas; hardware aberto; mídia locativa; fabricação digital, prototipagem e a cena maker; internet das coisas; diybio, ciência de garagem e ciência de bairro.
A internet deixou de ser um assunto de mesas e computadores. A cada dia surgem mais tipos de aparelhos conectados. O exemplo óbvio são os telefones celulares com acesso à internet, mas é possível ir muito além e pensar em todo tipo de objeto que pode se beneficiar de conectividade em rede. Interruptores de energia associados a sensores de temperatura e umidade, que podem prever quando a chuva está chegando e fechar janelas automaticamente. Um enfeite de mesa que avisa quando chegou email. Chips RFID para identificar objetos. Aparelhos que monitoram o consumo doméstico de energia elétrica e ajudam as pessoas a diminuírem a conta de luz. Graças ao hardware e ao software livres (e o conhecimento sobre como utilizá-los), esse tipo de objeto conectado não precisa mais de uma grande estrutura para ser projetado e construído. Muito pelo contrário, eles podem ser criados a custo baixo, e adequados à demanda específica de cada localidade, de cada situação.
As pesquisas sobre fabricação doméstica, impressão tridimensional e prototipadoras replicantes prometem uma nova revolução industrial: a partir do momento em que as pessoas podem imprimir utensílios, ferramentas e quaisquer outros objetos em suas casas, o que acontece? Se um dia pudermos reciclar materiais plásticos em casa - desfazer objetos para transformá-los em outros - quais as consequências disso na produção industrial como a conhecemos hoje? Em paralelo, quando começamos a misturar coordenadas geográficas com a internet móvel, que tipo de serviço pode emergir? Locais físicos podem ser enriquecidos com camadas de informação. E como a ciência de garagem pode enriquecer o aprendizado nas escolas públicas? Esqueça o laboratório de química: hoje em dia, com hardware de segunda mão, os alunos podem montar seus próprios microscópios digitais.
Laboratórios Experimentais Locais
Os projetos que levam tecnologias de informação e comunicação às diferentes comunidades do Brasil não podem se limitar a reproduzir os usos já estabelecidos dessas tecnologias - acesso à internet e impressão de documentos. O que precisamos são pólos locais de inovação, dedicados à experimentação e ao desenvolvimento de tecnologias livres. Esses pólos precisam ser descentralizados, mas enredados. Devem tratar de diversos assuntos, não somente acesso à internet: dialogar com escolas, projetos sociais, ambientais e educativos. Precisam acolher coletivos artísticos, engenheiros aposentados, amadores apaixonados, empreendedores sociais, inventores em potencial. Não podem ter medo de gerar renda, criar novos mercados. Precisam configurar-se em laboratórios experimentais locais.
No ano passado eu comecei um projeto chamado Rede//Labs, que tem por objetivo entender qual tipo de laboratório experimental de tecnologia e cultura é adequado ao Brasil dos dias atuais. A pesquisa foi documentada em um weblog e um wiki . Entre as conclusões, percebi que a infraestrutura é mero detalhe. Como dizia Daniel Pádua, "tecnologia é mato, o que importa são as pessoas". Ainda assim, precisamos pensar em infraestrutura, mas indo além do trivial. O modelo "computadores, banda larga, impressoras e câmera" é uma resposta adequada à demanda explícita de locais para acesso à internet. Mas temos também que tratar das demandas que não estão explícitas: criar condições para o desenvolvimento de tecnologia livre brasileira. Para isso, precisamos de massa crítica. Além de espaços configurados como pólos de inovação livre, precisamos também dar as condições para o desenvolvimento de novos talentos.
Hoje em dia, jovens de cidades pequenas que têm potencial precisam migrar para grandes centros em busca de oportunidades. É raro que voltem, o que leva a uma espécie de êxodo criativo. Mesmo aqueles que chegam às cidades grandes também precisam fazer uma escolha difícil: podem vender seu talento criativo ao mercado - por vezes de maneira equilibrada, mas em muitos casos limitando-se a ajudar quem tem dinheiro a ganhar mais dinheiro; ou então trocar seu futuro por capital especulativo. Podem também tentar usar suas habilidades para ajudar a sociedade - mas para isso precisam conviver com precariedade e instabilidade. Essa é uma condição insustentável para um país que tanto precisa de inovação e criatividade. Por que razão uma pessoa jovem, criativa, talentosa e consciente não encontra maneiras viáveis de usar essas qualidades para ajudar a sociedade? Alguma coisa está errada. E não me interessa que isso seja verdade no mundo inteiro. Estamos em uma época de transformações e de expectativas altas.
O sotaque tecnológico brasileiro
Existem países que nos anos recentes se tornaram emblemáticos da aceleração que as tecnologias possibilitam. A China terceiriza a fabricação de hardware. Tem uma vasta oferta de mão de obra, uma população disciplinada e trabalhadora - e um estado controlador que reforça essa disciplina -, além da "flexibilidade" social, ambiental e de segurança no trabalho. A Índia tem despontado na terceirização de telemarketing - por conta também de grande oferta de mão de obra, associada à educação em língua inglesa - e no desenvolvimento de software, talvez relacionado às suas faculdades que formam mais de uma centena de milhar de engenheiros a cada ano. A Coreia do Sul promoveu grandes avanços na educação e treinamento técnicos e colhe os frutos dessa escolha. E o Brasil?
Eu tive a oportunidade de viajar algumas vezes nos últimos anos para localidades em diversos países - de Manchester a Bangalore. Em toda parte, existe uma grande curiosidade sobre o Brasil - um certo fascínio pela nossa naturalidade em encarar transformações (mais do que isso, temos um grande desejo pela transformação), pelo caráter iconoclasta de algumas de nossas realizações, pela nossa sociabilidade sem travas. Com base nisso, fico pensando: qual é a nossa característica contemporânea essencial? Antropofágica, certamente. Tropicalista, sim. Criativa, talvez?
Até há pouco tempo, se falava que o povo brasileiro não é empreendedor. Essa visão absurdamente preconceituosa está gradualmente mudando, à medida que nosso sotaque criativo é compreendido e tratado como tal. A inovação do cotidiano, presente nos mutirões e nas gambiarras, vem aos poucos sendo reconhecida não como atraso e sim como vantagem competitiva. Nossa criatividade não se enquadra facilmente nos modelos pré-definidos das chamadas indústrias criativas.
Quando falo em criatividade, não me refiro somente à indústria de entretenimento e cultura, baseada na exploração comercial da separação entre criadores e consumidores. Não estou falando daquele "conteúdo" que não se relaciona com o contexto. É, pelo contrário, o espírito inovador que transborda no dia a dia.
Voltando ao ponto anterior - hoje em dia é possível projetar soluções tecnológicas baseadas em conhecimento livre, disponível abertamente nas redes. Isso aliado a essa criatividade que temos no dia a dia tem o potencial de oferecer saltos tecnológicos consideráveis. A inovação tecnológica tipicamente brasileira (com um quê da sensibilidade criativa da gambiarra) pode ser fomentada em pólos de inovação baseados no conhecimento livre. Ela pode ajudar a metareciclar as cidades digitais, como sugeri no primeiro capítulo. Isso possibilita que o desenvolvimento de tecnologias dialogue com as diferentes realidades locais.
Todos sabemos o que acontece quando a tecnologia é desenvolvida sem contato com o cotidiano. Ela fica espetacular, alienada e homogênea. Vamos trazer a inovação tecnológica de volta ao dia a dia, fazer com que ela seja não somente lucrativa mas também relevante. Que ajude a construir a sociedade conectada que queremos. Temos a oportunidade de provocar uma onda de criatividade aplicada em todas as regiões do país. Temos a oportunidade de provar que o Brasil é digno da fama de país do futuro. Mas precisamos decidir qual é o futuro que queremos. Já deixamos de lado os futuros imaginários da guerra fria. Nosso futuro pode ser um futuro participativo, socialmente justo, que reconheça mérito, talento e dedicação. Precisamos da coragem para fazê-lo acontecer.
Laboratórios Experimentais: interface rede-rua
Qualquer cidade pode ser entendida como justaposição de fluxos de informação que se entrecortam, afetam-se uns aos outros e no processo criam realidades, oportunidades e também limitações. Essa visão quase óbvia sugere incontáveis formas de intervir na realidade local. Há alguns meses eu estava procurando um foco específico para concentrar esforços, um formato para inspirar e orientar. A imagem da interface pareceu um caminho interessante.
Inovação de ponta vs. inovação nas pontas
Há pouco tempo eu estava assistindo (com alguns anos de atraso) ao documentário Zeitgeist Addendum. Naturalmente, não consigo concordar com todas as teses expostas por ali. Me incomoda em particular a visão de um futuro impecável pintada por Jacque Fresco, que de certa forma coloca a tecnologia de ponta acima de todo o restante do conhecimento humano. Seu Venus Project tem uma visão algo datada de tecnoutopia, em alguns sentidos ingênua e em outros até opressora. Ele parece exigir conversão total para funcionar. Em outras palavras, demanda um contexto social em que não existe dissenso. Uma espécie de ditadura dos inventores - um futuro que eu não desejo para ninguém.
Por outro lado, não posso deixar de concordar quando ele sugere que uma postura inovadora em relação às tecnologias poderia resolver uma série de problemas que consideramos inevitáveis. Um dos exemplos que ele dá são os acidentes com automóveis, um tipo de ocorrência que poderia ser amenizado se o foco do desenvolvimento tecnológico fosse a solução de problemas. Faz sentido. Mas a minha projeção de inovação aplicada para futuros melhores não é centralizada nem depende de grandes estruturas. Pelo contrário, ela está nas pontas, conversando com as ruas, presente nas gambiarras do dia a dia, naturalizada como prática cultural que alia adaptabilidade, autodidatismo e desejo de mudança. Essa visão de ação inovadora que transforma o cotidiano me parece extremamente necessária em um país repleto de desigualdades.
Alta tecnologia e apropriação cotidiana são extremos complementares do mesmo espectro. A inovação de ponta requer especialização, grandes capitais orientados à criação de mercados que sustentem todo o processo. A inovação nas pontas precisa essencialmente de generosidade, criatividade transdisciplinar e inteligência de rede. A inovação de ponta tem formatos e estruturas estabelecidos - reconhecidamente na fronteira entre mercado, universidade e ciência. A inovação nas pontas tem cada vez mais se dinamizado a partir de espaços autônomos - laboratórios experimentais que operam em rede promovendo a apropriação crítica de tecnologias. Que tipo de função esses laboratórios podem assumir na sociedade atual?
Conhecimento compartilhado e o mundo lá fora
Através da internet, as redes sociais e os ambientes colaborativos online têm possibilitado a construção e circulação de conhecimento compartilhado - em especial naqueles ecossistemas informacionais que usam licenças livres como ferramenta de disseminação e replicação. Independente da licença mais adequada para cada caso, a ideia de commons (análoga ao que os espanhois estão chamando de procomún) é essencial.
Tendo em vista o horizonte amplo de inovação aplicada, muito mais importantes do que música e vídeo disponibilizados online são os bancos compartilhados de conhecimentos específicos que ensinam qualquer pessoa a solucionar uma infinidade de problemas. Desde receitas de comida ou de medicina natural até dicas de afinação para instrumentos musicais. De tutoriais para criar robôs com pedaços de sucata eletrônica até guias sobre como cuidar de bebês ou construir casas que gastem menos energia. Informações sobre a história e geografia de localidades no mundo inteiro. Opiniões sobre equipamentos, serviços, organizações. Um volume imenso de informação honesta, livre, relevante e remixável. Mas esse universo em expansão não parece ter nenhuma relação direta com os dispositivos informacionais da cidade contemporânea.
De fato, a vida urbana como a entendemos não tem - ainda - nenhuma conexão estruturada e intencional com o conhecimento livre disponível na internet. Voltando à metáfora da cidade como sistema: bibliotecas podem ser entendidas como estações de acesso ao mundo editorial. Agências de correios nos põem em contato com qualquer pessoa que tenha um endereço físico. As instâncias administrativas como Câmara de Vereadores e Prefeitura abrem caminho para a participação na política representativa. Escolas e Universidades proporcionam o contato com conhecimento acadêmico, homogêneo e estável (com algumas notáveis exceções, que vão muito além disso). O transporte público nos leva de um lugar ao outro. Podemos analisar através dos fluxos de informação também os bancos, postos de saúde, centros comunitários, escritórios de contabilidade, agências de motoboys, e por aí vai.
Por sua vez, as lanhouses e telecentros oferecem de fato o acesso à internet, em toda a sua potência. Mas se tecnicamente têm tudo que alguém precisa para vivenciar aquele conhecimento comum disponibilizado nas redes, elas não têm nenhuma orientação estratégica nesse sentido. Têm as máquinas e o acesso, mas a intenção e o horizonte de atuação são amplos demais, e por consequência algo superficiais. É óbvio que existem muitos telecentros e algumas lanhouses que vão além, criam programação local voltada à autonomia, à apropriação das tecnologias em rede, ao desenvolvimento de projetos. Mas o modelo mental sobre o qual estão montados é sempre um fator de limitação: a prioridade no acesso a algo que está remoto e estabelecido.
Acesso e construção
Eu sempre acho estranho que um monte de ONGs (e escolas) brasileiras que se dizem influenciadas pelo pensamento de Paulo Freire - um crítico contundente da própria ideia de "transmissão de conhecimento" - permitam-se pensar a internet como questão de mero acesso. Para Paulo Freire, o conhecimento é criado na vivência, no momento mesmo do diálogo.
Se é possível uma analogia das teorias de Paulo Freire com a internet, a relevância não estaria no conteúdo publicado, mas na relação criada a cada instante, quando se trava contato com diferentes informações, pessoas e contextos. Aquela hora em que a gente manda uma mensagem para um grupo de centenas de pessoas espalhadas por todas as regiões do Brasil ou do mundo e curiosamente se sente em casa. O momento em que queremos aprender sobre algum assunto e encontramos pela rede uma pessoa que publicou, espontaneamente, um verdadeiro roteiro de aprendizado justamente sobre aquele tema. O conhecimento gerado no processo, na vivência, na troca, no compartilhamento.
Se queremos fortalecer os aspectos transformadores das redes colaborativas e enriquecer os contextos locais com suas possibilidades, precisamos ultrapassar o paradigma do acesso. Na MetaReciclagem temos insistido na importância da apropriação, da experimentação e da proximidade com o cotidiano para trilhar essa estrada. É a partir dessa experiência que tenho pensado sobre Laboratórios Locais de Tecnologias Livres.
Labs como interfaces
Através da experiência Rede//Labs, eu tenho tido a oportunidade de saber um pouco mais sobre iniciativas do mundo inteiro que têm proposto estruturas para experimentação e criatividade distribuída. São formatos diversos, com graus variados de autonomia, atuando justamente no diálogo entre o conhecimento comum das redes e as diferentes realidades locais.
Uma iniciativa pioneira de Laboratório no Brasil foi o IP://, criado em 2004 na Lapa carioca. O nome veio das iniciais de "Interface Pública", e essa é uma ideia que tem ressoado nas minhas andanças por aqui. Laboratórios Experimentais locais orientados para o desenvolvimento de inovação livre socialmente relevante podem funcionar justamente como interfaces entre os fluxos locais e a abundância das redes digitais. Também me vêm à cabeça dois outros projetos que têm bem clara a natureza de interface: o Medialab Prado, de Madri e o Bailux, em Arraial d’Ajuda.
É bom enfatizar aqui o que se entende por interface: aquilo que se coloca como ponto de comunicação entre dois campos distintos. A tradução ativa entre contextos ou áreas de conhecimento diversos. O portal entre mundos. O buraco de minhoca que possibilita saltos quânticos. O IP://, o Medialab Prado, o Bailux e tantos outros se colocam justamente nessa posição de fronteira.
Algumas dezenas ou mesmo centenas de projetos em todo o Brasil têm potencial para tornarem-se esse tipo de interface. Só precisam tomar algumas decisões. Preocupar-se menos com a ideia abstrata de público e de oficinas de formação, e mais com o desenvolvimento de tecnologias em si, solução de problemas. Tentar criar um ambiente acolhedor, que receba visitas não agendadas sem intimidar as pessoas. Que proporcione liberdade de ação e facilite a criação colaborativa. Que tenha um mínimo de infraestrutura (cadeiras, bancadas, tomadas, cabos de rede). Uma mistura de esporo de MetaReciclagem, Ponto de Cultura, The Hub, hacklab, centro comunitário e incubadora de startups. Podem ter programação de encontros e oficinas, complementada por um cotidiano de experimentação e desenvolvimento de projetos. E mais importante, que promovam a colaboração a partir da liberdade e da diversidade, e assumam seu papel de interface entre as redes digitais e as redes tecidas na vida da cidade. Projetos que se posicionam dessa forma mais ampla são o Open Design City em Berlim, o Citilab Cornellá em Barcelona, entre outros.
Como eu sugeri em um texto no ano passado , esses núcleos não precisam se definir somente como "laboratórios de mídia". Não devem limitar-se à produção de "conteúdo". Tratam, na verdade, de criatividade aplicada, busca de soluções em múltiplas áreas de conhecimento. Um laboratório experimental pode, claro, produzir vídeos, programas de rádio, cobertura online de eventos, material gráfico, websites. Mas também desenvolve pesquisa em captação e armazenamento de energia alternativa, monitoramento ambiental com sensores, redes de aprendizado distribuído, instalações imersivas, projetos de robótica educacional. Pode trabalhar com mediação de conflitos, democracia experimental, política cultural, financiamento solidário de pequenos projetos. Elabora e implementa planos críticos para cidades digitais. Não existem limites para laboratórios que se proponham a atuar como interfaces entre o mundo cotidiano e a multiplicidade das redes.
Cidades digitais, a gramática do controle e os protocolos livres
A busca por alternativas locais, sustentáveis e justas para o desenvolvimento de inovação e tecnologias livres aponta necessariamente para uma maior articulação entre duas classes de estruturas informacionais que se sobrepõem: a cidade e as redes digitais.
No terceiro capítulo eu citei a perspectiva de cidade como sistema operacional. Essa aproximação não é inédita. Na mesma confluência mas talvez em sentido inverso, o artigo Reading the Digital City, publicado no site Next Layer por Clemens Apprich, analisa justamente a influência que a ideia de cidade exerceu nos primeiros anos de popularização da internet, e como essa influência foi usada para estabelecer relações de controle e poder:
"Não é por acidente que a cidade tenha sido escolhida como uma das mais significativas metáforas para os primeiros dias da internet. A cidade tem (como o Ciberespaço) uma origem militar e é definida (pelo menos simbolicamente) por muros cujos portões constituem a interface para o resto do mundo. (...) A interface determina como o usuário concebe o próprio computador e o mundo acessível a partir dele."
Naquele momento, em meados dos anos noventa, procurava-se entender como os processos sociais aconteceriam em um espaço de fluxos para o qual não existia precedente histórico. Lançou-se mão da cidade como modelo de organização e identidade, mas também como instrumento para estabelecer limites. Eu ainda não tinha refletido, no contexto contemporâneo das redes, sobre a questão da cidade também como controle e segregação de identidades. Talvez porque o urbanismo que eu vivencio cotidianamente seja algo mais permeável do que a referência histórica de Apprich, um pesquisador europeu.
Nós não temos muralhas separando a cidade histórica de seus desenvolvimentos posteriores, como ainda pode ser visto em Barcelona, Londres e outras cidades europeias. Na minha experiência, pensar no limite entre cidades é visualizar uma placa na estrada, cercada de vazio. Até que ponto isso se torna uma barreira cultural quando falamos em urbanismo? A ordem urbana europeia, invejada por boa parte da classe média brasileira, é considerada por alguns pesquisadores uma grande castradora da inovação, como sugere John Thackara em "Plano B":
"Grande parte do nosso mundo é simplesmente projetado demais. Controle demais sobre o espaço público é prejudicial para a sustentabilidade dos locais. Várias cidades europeias estão levando em consideração a promulgação de zonas livres de design, nas quais o planejamento e outras melhorias de cima para baixo e de fora para dentro serão mantidas a distância para permitir os tipos de experimentação que podem surgir, sem planejamento e inesperadamente, de um território selvagem, livre de design."
Quando nossas realidades que tendem muito mais à complexidade - senão ao caos - entram em contato com essas referências trazidas de fora, é natural que surjam descompassos. Rob Kranenburg chamou minha atenção para dois artigos sobre o megaprojeto de monitoramento urbano no Rio: um na Fast Company e outro em um site coreano. É claro que usar tecnologias de informação para prever deslizamentos e enchentes é necessário. Os problemas surgem com a gramática do "centro de controle" (no mínimo uma ilusão em uma cidade como o Rio) e a pretensão de que esse tipo de projeto esgote o assunto "cidades digitais inteligentes".
Centros de informação para prevenção de emergências são somente a ponta do iceberg em um cenário urbano recheado de dispositivos de produção, transmissão e análise de dados. Mas minha questão para esses projetos é: a quem pertencem os dados gerados? Como acessá-los? A tendência é o surgimento de um novo domínio de informação relevante para a sociedade, e ninguém está debatendo sobre como essa informação vai circular. Grande parte dos atores envolvidos só querem saber quanto dinheiro ou quanta exposição na mídia essas tecnologias vão gerar.
Um elemento comum, mas raramente analisado, nas propostas de "cidades digitais inteligentes" é justamente a tensão entre controle e emergência como comento de maneira mais aprofundada no capítulo “Inovação e Tecnologias Livres” . Não podemos ser ingênuos. A cidade, enquanto tecnologia de organização de informação, é usada frequentemente como instrumento de manutenção das relações de poder.
O controle não é exercido somente sobre a circulação de pessoas, objetos e informações, mas também sobre as maneiras como a própria cidade se desenvolve. Isso está presente em grande parte das cidades do Brasil (e certamente do mundo): o envolvimento escuso da indústria imobiliária com as campanhas políticas em troca de favorecimento futuro, a gentrificação dos centros e o urbanismo midiático que adota a lógica do espetáculo e se relaciona mais com a mídia do que com a população. São iniciativas impostas de cima para baixo, sem dialogar com aquilo que é a própria essência da cidade: as redes formais e informais de circulação de informação. Essa é uma limitação que inevitavelmente vai se repetir nos projetos de tecnologias aplicadas ao cenário urbano.
Mesmo iniciativas bem intencionadas acabam usualmente refletindo a lógica do controle. No capítulo anterior eu já critiquei o projeto Venus, de Jacque Fresco, como exposto no documentário Zeitgeist Addendum. Vou me permitir falar mais um pouco sobre isso porque Fresco foi novamente entrevistado para o terceiro filme, Zeitgeist - Moving Forward. O documentário tem alguns momentos interessantes, como mostrar o potencial transformador das iniciativas de prototipagem e fabricação doméstica como o RepRap de Adrian Bowyer. Mas pretende (uma vez mais) indicar a supremacia da ciência sobre a economia, a religião e a política. E entende esses três assuntos de maneira superficial, não reconhecendo que são em última instância o resultado de alguns milênios de evolução de nossas necessidades materiais, espirituais e sociais. Sugerir que se jogue tudo isso fora para viver uma vida controlada e homogênea é uma insanidade.
Jacque Fresco tem uma imaginação ímpar. É certamente um visionário. Mas passa a impressão de ignorar a história humana (talvez só tenha lido ficção científica). Sua proposta de cidade ideal, além de provavelmente entediante, também tem alguns problemas de condicionamento. Não por acaso, um dos elementos centrais de seu projeto é o "centro de controle", com um "mainframe" que gerencia sensores espalhados por toda a cidade e permite o monitoramento de tudo que acontece. Subliminarmente, cria-se uma assimetria entre quem administra (controla) a cidade, e a população que só tem acesso restrito aos dados gerados.
É a mesma lógica que opera em experimentos corporativos como os dos laboratórios da francesa Orange: sensores vão gerar dados, que serão úteis para tomar decisões que refletem no gasto público (energia, manutenção, semáforos, etc.). Mas é a administração das cidades (em conjunto com as próprias empresas que desenvolvem a infraestrutura) quem decide o que será feito com esses dados.
O problema, obviamente, não são os sensores ou o monitoramento em si. No ano passado, enquanto visitava com o grupo do LabtoLab o espaço La Tabacalera em Madri, debatemos rapidamente sobre as câmeras espalhadas pelo prédio (uma antiga fábrica de tabaco transformada em centro cultural autogestionado), cujo centro de controle ficava justamente em seu Espacio Copyleft. Alguns artistas e ativistas levantaram a possível contradição entre o copyleft e as câmeras. Eu discordei, argumentando que o problema não eram as câmeras em si, mas a potencial relação de poder embutida nelas: quem é que tem acesso à informação que elas capturam e transmitem? Se toda a comunidade tivesse acesso às câmeras, talvez elas pudessem ser entendidas como a radicalização da coletividade, em vez de invasão de privacidade. Não era o caso, mas eu estava tentando desconstruir aquela associação direta entre monitoramento e controle. Nesse sentido, o problema não são os dispositivos que geram dados, mas decidir quem está autorizado a acessar e manipular esses dados, e a informação que vão gerar. Em outras palavras, interessa saber se o sistema é desenhado para o controle ou para a participação.
Cidades conversacionais
Adam Greenfield publicou no Urban Scale o artigo "Além da cidade inteligente" , no qual discorre sobre a importância de padrões abertos em um cenário urbano iminente no qual diversos objetos geram informações disponibilizadas aos cidadãos. Ele propõe "alavancar o poder do processamento de informação em rede para possibilitar um modo mais leve, flexível e responsivo, até brincalhão, de interagir com a diversidade metropolitana".
Para isso, Greenfield considera fundamental que esses objetos adotem protocolos abertos e publiquem dados de forma aberta. "A vantagem primordial dos dados abertos nesse contexto é que eles resistem a tentativas de concentração poder através da alavancagem de assimetrias de informação e diferenciais de acesso. Se uma pessoa tem esse conjunto de dados, todas têm". Ele associa o potencial inovador de ver-se a cidade como software de código aberto: "assim como o programador iniciante é convidado a aprender, entender e até incrementar - ’hackear’ - software de código aberto, a própria cidade deveria convidar seus usuários a demistificar e reengenheirar [desculpem pelo neologismo] os lugares nos quais vivem e os processos que geram significado, no nível mais íntimo e imediato".
Mais tarde, escreve que "se por nenhuma outra razão do que as expectativas serem tão altas, qualquer sistema distribuído com uma superfície de ataque tão ampla quanto uma cidade enredada precisa verdadeiramente da segurança acentuada que acompanha o desenvolvimento aberto. Ou seja, a internet das coisas precisa ser aberta." Greenfield acredita (e eu também) na criatividade potencial que reside nas pontas, na apropriação cotidiana (e na gambiarra), na liberdade potencial que acompanhar os protocolos abertos.
Entretanto, em paralelo à essencial especificação de protocolos, é necessário refletir sobre e esclarecer a maneira como entendemos a cidade do futuro: se queremos uma mera máquina para a manutenção do status quo e alimentação do sistema capital-consumista, ou uma construção participativa que possibilite o pleno desenvolvimento do potencial humano, criativo e econômico de cada indivíduo e grupo que nela vive. Eu acho muito relevantes algumas iniciativas que aparentemente passam ao largo da discussão mais específica sobre tecnologias da informação mas acabam cumprindo o papel fundamental de debater a cidade como uma tecnologia em si. Um exemplo aqui no Brasil é a rede Nossa São Paulo, que busca transformar a cidade em um espaço conversacional cooperativo, a partir de uma tecnologia simples e direta.
Tecnologia é poder. Marcelo Braz mandou na lista MetaReciclagem a dica de um texto de Langdon Winner que toca nesses aspectos:
"A esperança de que novas tecnologias trarão liberdade e democracia tem sido um tema comum nos últimos séculos. Às vezes essas idéias são razoáveis ou até louváveis. O que elas têm em comum é uma crença de que a inovação traz uma grande benção e que não envolve imaginação, esforço ou conflito. O que freqüentemente ocorre, entretanto, é que a forma institucionalizada da tecnologia – na indústria, nos meios de comunicação etc. – incorpora poder econômico e político."
Pensar a cidade como sistema operacional invariavelmente leva ao conflito com poderes estabelecidos localmente, em especial com aqueles que se baseiam na manutenção de privilégios através da escassez de informação. É um conflito implícito, e essa é uma de suas qualidades. Seu impacto profundo se revela gradualmente, e a partir de determinado momento se torna irreversível. É uma corrida de resistência, e estamos nela pelo longo prazo. O desenvolvimento de tecnologias de informação e sua incorporação ao cotidiano (a partir de laboratórios experimentais locais baseados em tecnologias livres) é um braço importante dessa busca. Seguimos em frente.