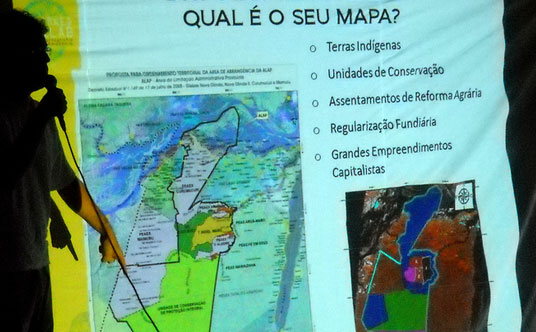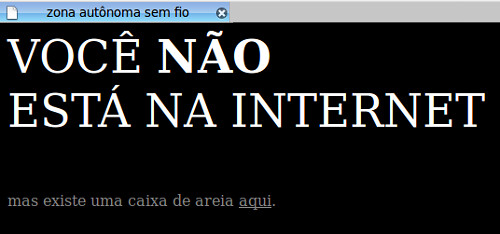Textos
Textinhos que eu escrevi por aí.
Adjetivos, MetaReciclagem e laboratórios experimentais
No início deste mês estive em Medellín, na Colômbia, participando da quinta edição das Jornadas Ciudades Creativas, organizada pela Fundação Kreanta. O texto abaixo é uma costura da minha apresentação na mesa sobre "Apropriação de tecnologias para cidades inteligentes". Pra quem já leu meus outros textos, esse não tem nenhuma novidade. Mas fica como impressão do momento. Assim que tiver tempo também quero publicar por aqui um relato sobre minha experiência durante o evento.
Respondendo a uma questão da plateia após sua palestra na edição de 2012 das Jornadas Kreanta, a socióloga Saskia Sassen problematizou a aparente "explosão de adjetivos" que tem atualmente acompanhado a reflexão sobre cidades e urbanismo: cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e por aí vai. Disse que ela mesma tem tentado evitar os adjetivos, porque em pouco tempo as consultorias comerciais oportunistas que se multiplicam pelo mundo acabam por sequestrar quaisquer termos que poderiam ter alguma relevância.
Coincidentemente, dois dias antes eu havia discutido um tema similar em encontro com integrantes de diferentes projetos no Museu de Arte Moderna de Medellín. Naquela manhã de quarta-feira eu sugeria que em vez de encontrar o adjetivo certo para definir as cidades que queremos, talvez mais interessante fosse desenvolver a pleno a ideia (a utopia?) da cidade moderna como ambiente propício para a convivência com a diversidade cultural, o compartilhamento de infraestrutura e a otimização de recursos.
Durante minha curta estada em Medellín, acompanhando à distância o noticiário sobre as eleições municipais no Brasil que aconteceriam na semana seguinte, eu ainda reformularia minha opinião sobre o tema: adjetivar a cidade pode sim ser temporariamente útil, como forma de contrapor-se a todas aquelas práticas arraigadas que vão no sentido oposto ao adjetivo em questão. Assim, falar em uma cidade criativa é posicionar-se contra a cidade conservadora (posicionar-se contra a agenda conservadora e as ações conservadoras dentro do espaço urbano); a cidade sustentável se opõe à cidade baseada no desperdício; defender a cidade inteligente é acusar e refutar as cidades imobilizadas pela falta de comunicação e planejamento. Mas a chave aqui é justamente o aspecto temporário: o adjetivo não deve ser a meta em si. Antes, é indicação importante de escolha de caminho prioritário.
Tenho uma sensação similar em relação ao discurso das cidades digitais, assim como ao da cultura digital, entre tantos outros. Dez anos atrás, uma das primeiras ações concebidas (embora nunca implementada a contento) pelas mesmas pessoas que à época estavam envolvidas com a criação da rede MetaReciclagem se chamava "Prefeituras Inteligentes". Naquele esboço de projeto encabeçado por Daniel Pádua, imaginávamos uma política pública baseada em espaços abertos que proporcionariam a reutilização de equipamentos eletrônicos ociosos para criar redes digitais abertas que propiciassem a livre circulação de informação. Com o tempo entenderíamos que prefeituras são frequentemente os ambientes menos propícios para tais impulsos libertários. Por mais que uma prefeitura aprendesse a ser menos estúpida, ela nunca seria tão inteligente quanto gostaríamos. Ainda assim, a qualificação pelo adetivo - o digital, o criativo, o inteligente - podem trabalhar no imaginário das pessoas e dos grupos envolvidos, criar uma disposição que possibilite propor ações concretas.
MetaReciclagem
Ao longo da última década, as diversas ações desenvolvidas de maneira distribuída através da rede MetaReciclagem acabaram deixando um pouco de lado a construção do discurso do digital – percebido ali como demasiadamente focado nas ferramentas de comunicação em si próprias, em contraposição à perspectiva de que o mais importante são as dinâmicas sociais que as tecnologias possibilitam. Em seu lugar, construiu-se uma história baseada em outros adjetivos. O livre, o aberto, o participativo, o colaborativo são centrais para a narrativa coletiva que circunda a MetaReciclagem.
Mas não deixamos de lado a intenção de trabalhar junto a diferentes instituições, tentando influenciar a maneira como elas desenvolvem suas ações. De maneira distribuída e dinâmica, integrantes da rede MetaReciclagem passou a buscar parcerias com o terceiro setor, com instâncias governamentais mais abrangentes - estaduais ou federais -, com organizações culturais. Contextos que oferecem um pouco mais de abertura para uma visão ampla em relação às novas tecnologias de comunicação.
Desde então, pessoas e grupos atuando dentro da rede MetaReciclagem criaram mais de uma dúzia de laboratórios em todas as regiões do país. Alguns desapareceram com o tempo, outros se reinventam até hoje. Se no início nos apresentávamos como um coletivo dedicado ao recondicionamento de computadores usados com a utilização de software livre, o uso social das redes digitais e o impulso à distribuição de cultura copyleft, hoje uma das definições mais comuns da MetaReciclagem é como rede aberta que propõe e articula ações de apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Cada um desses termos é naturalmente debatível, e isso ocupa boa parte do nosso tempo. A rede conta hoje com quase quinhentas pessoas em sua lista de discussão, influenciou um sem-número de projetos de tecnologia orientada para a sociedade, infiltrou-se em diversas discussões que supostamente não lhe diziam respeito, recebeu alguns prêmios e menções honrosas. Mais do que tudo, sabotou a si própria de maneira ativa e consciente - um método para manter sua potência transformadora e a desconfiança do poder institucional.
Também percebemos muito cedo que não nos interessava simplesmente reutilizar a tecnologia em si, mas sim o hábito de apropriação tão presente nas culturas populares do Brasil. Identificamos e buscamos valorizar as práticas da gambiarra, como criatividade cotidiana e vernacular desenvolvendo soluções com quaisquer objetos, conhecimentos ou pessoas disponíveis; e do mutirão, como formação coletiva dinâmica orientada à solução de problemas.
Em sua atuação, a MetaReciclagem situou-se em diferentes contextos institucionais e discursivos. Se o ativismo midiático baseado na ideia de mídia tática foi um dos primeiros fundamentos de agregação da rede, foi o campo da inclusão digital que nos ofereceu a oportunidade de estabelecermos laboratórios e desenvolvermos experimentações - ainda que buscando sempre ir além do mero acesso e propondo a apropriação de tecnologias com base em uma cultura livre. Com o tempo descobrimos que aquilo que fazíamos tinha paralelos com hacklabs, hackerspaces e toda a cena de cultura de faça-você-mesmo. Entendemos que estávamos assumindo uma posição de resistência contra a obsolescência programada, que teríamos um papel importante no debate sobre a questão do lixo eletrônico. Algumas pessoas da rede estabeleceram um diálogo produtivo e continuado com o campo da arte eletrônica.
Essa trajetória está diretamente ligada à prioridade que sempre atribuímos à ideia de abertura, que necessariamente acompanha uma cultura livre. Uma sensibilidade do abrir, aproximando as pessoas da tecnologia para entender como as coisas funcionam, reordenar seus componentes, inventar outros usos, propor outras interpretações. Uma prática da abertura que implica uma estética da abertura (e sua relação com o ruído, a sujeira, a imperfeição, o inesperado). Estética da abertura que necessariamente se relaciona com uma ética da abertura, da participação, do compartilhamento. A compreensão da abertura como princípio político. Um dos resultados desse posicionamento é o fato de a MetaReciclagem ter evitado uma institucionalização centralizada. Em vez de definir uma estrutura hierárquica definida, ela se concretiza de forma fluida e cambiante, sugerindo formas de mobilizar ações que são supostamente mais adequadas a um contexto altamente enredado.
A partir de 2003, o Brasil passaria por grandes transformações. Em especial na política cultural. Na esteira da eleição de Lula como Presidente da República, uma personagem inesperada para o jogo político tradicional se alçaria ao posto de Ministro da Cultura: Gilberto Gil. Músico com reconhecimento internacional e uma das principais vozes do tropicalismo - movimento cultural surgido nos anos sessentas que propunha o diálogo entre manifestações culturais tradicionais, as vanguardas artísticas urbanas e a emergente cultura pop -, Gil sempre demonstrou uma curiosidade a respeito do papel que as tecnologias digitais poderiam exercer na cultura.
O novo dirigente traria uma transformação fundamental para o Ministério: em vez de entender cultura somente sob o prisma da economia do entretenimento e do mercado da arte, propunha um entendimento antropológico da cultura como o conjunto de tudo aquilo que nos faz humanos, vivendo em sociedade. A partir desta perspectiva é que seria criado, sob a coordenação de Celio Turino, o programa Cultura Viva, que propunha um "do-in antropológico". O projeto pretendia identificar e estimular pontos potencialmente transformadores para as culturas brasileiras: os espaços que viriam a ser chamados de Pontos de Cultura.
Logo depois de sua criação, o projeto Cultura Viva decidiu incluir uma vertente digital que incorporava uma profunda reflexão a respeito de autonomia dos saberes, da generosidade implícita nas licenças livres e abertas, da valorização de uma postura hacker (o próprio Ministro posicionou-se como um "ministro hacker"), e da livre circulação de produção cultural. Naquele contexto, o digital não era entendido somente como uma nova linguagem, mas pelo contrário como elemento potencialmente integrador de diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.
Para planejar e implementar essa visão, o Ministério convidaria integrantes de diversos grupos, coletivos e redes que se dedicavam a questões de ativismo midiático, cultura livre e tecnologias de comunicação. Isso daria ensejo a uma série de ações em conjunto: encontros, festivais, oficinas, processos de formação e intercâmbio. Centenas de grupos em todas as regiões do Brasil tiveram seu primeiro contato com tecnologias de produção cultural, e já começavam usando softwares livres.
Laboratórios
Nos anos seguintes, uma questão começou a me inquietar em particular: se algumas das pessoas mais capacitadas em relação à fronteira entre tecnologia e cultura estão ocupadas dando oficinas para compartilhar o que já aprenderam, quem é que vai se ocupar de pensar e desenvolver o futuro dessas tecnologias? Criar e ensinar são momentos igualmente necessários, mas em muitos casos exigem disposições mentais distintas. Em determinado momento, parecia que só estávamos criando alternativas de viabilidade para a formação, deixando de lado o aprofundamento, a experimentação formal e o questionamento do imaginário social envolvido em todas essas questões. Além de promover o acesso à cultura digital, como poderíamos apoiar o próprio desenvolvimento da cultura (sem adjetivos) em diálogo com esses novos contextos que têm surgido? Se tínhamos uma visão crítica ao imaginário dos medialabs dos EUA e Europa, o que é que poderíamos propor para sucedê-los?
Pensando nessas questões, criei em 2010 a plataforma Rede//Labs, que naquele ano estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cultura para investigar que tipo de arranjo formal e administrativo se fazia necessário para estimular esse tipo de desenvolvimento. Queríamos entender o que deveria ser um laboratório experimental adequado aos dias de hoje. Passamos alguns meses conversando com dezenas de pessoas e grupos atuantes nesse contexto no Brasil e no exterior. Organizamos um blog, promovemos um encontro com pessoas vindas de todo o país e um painel internacional sobre laboratórios de mídia e laboratórios experimentais. Conversamos bastante sobre como sustentar uma cultura de inovação baseada em princípios de liberdade, abertura e compartilhamento, e orientada a demandas da sociedade, não simplesmente ao lucro. Identificamos temas emergentes como a cena maker, a prototipagem digital, as mídias locativas, a realidade expandida, as cartografias colaborativas, o hardware livre, a internet das coisas, os sensores interconectados, entre outros. Entendemos que o laboratório experimental ideal não é (somente) um estúdio, e que também não é (somente) uma escola. Chegamos a esboçar com o Ministério um mecanismode apoio formal à cultura digital experimental, e traçar planos para a implementação de uma rede de laboratórios de arte e tecnologia financiados pelo Ministério da Cultura.
Infelizmente, a passagem de ano para 2011 assistiu a uma mudança brusca no comando no Ministério da Cultura, o que fez com que todas essas ações e planos caíssem no vazio institucional que se seguiu1. A nova prioridade no Ministério era a Secretaria de Economia Criativa. Ainda que mais aberta do que o referencial britânico das indústrias criativas, era nítida a reorientação desde a visão antropológica da cultura em direção a uma visão da cultura como mercado privilegiado.
No fim de 2011, Rede//Labs estabeleceu uma parceria de pesquisa com o Centro de Cultura Espanhola de São Paulo, subordinado à AECID. Nos meses seguintes, redigi uma série de artigos sobre laboratórios experimentais em rede, e articulei a produção de quatro vídeos sobre diferentes organizações e cenários no Brasil que atuam nesse campo. Apesar da boa repercussão da parceria, a crise econômica na Espanha ocasionou o encerramento das atividades do CCE de São Paulo, e no mesmo caminho seguiram as expectativas de dar sequência à pesquisa.
Ao longo desses percursos, acredito que tenhamos aprendido algumas lições. Ou ao menos aprendemos a melhor elaborar algumas questões. Uma delas diz respeito ao aprisionamento ao mercado. Como é que podemos estimular a consolidação de um tipo de reflexão e de prática culturais que estão ligadas à multiplicação dos instrumentos de informação e comunicação, mas como fazemos isso sem cair na armadilha da mensuração econômica segundo a qual tudo que não tem valor comercial não merece investimento? Quais os caminhos para propor colaboração antidisciplinar, que não somente ultrapasse as barreiras entre as disciplinas, mas deixe-as para trás?
Outra questão que tem surgido e inspirado cada vez mais propostas é a integração entre os fluxos das redes digitais e os fluxos das ruas. Em vez de cair naquela visão (que muitos já consideram obsoleta) segundo a qual a internet era a negação da cidade - seu extremo oposto-, um grande número de iniciativas tem buscado justamente relacionar essas duas dimensões diferenciadas de sociabilidade dentro de uma visão integrada. São ações que se desenrolam simultaneamente na internet e nas cidades, que relacionam e retroalimentam o âmbito dos commons digitais juntamente ao âmbito do espaço público urbano. Que trazem a cultura livre para as ruas ao mesmo tempo em que levam a criatividade vernacular e as táticas de apropriação do cotidiano para as redes online. Projetos de mapeamento digital colaborativo, intervenções (e festas) que tomam as ruas. Ações que pensam a própria rua como laboratório, abundante em recursos pouco utilizados e em soluções inovadoras. Que pensam mesmo o laboratório convencional como espaço situado no cenário urbano, potencialmente um espaço de contato que ainda precisamos entender melhor. Que incentivam a ciência cidadã, a criatividade economicamente improdutiva, o hacking de imaginário social. Valores como integração, amizade, afeto, colaboração e tolerância ultrapassando a competição. Porque no fundo o que queremos são futuros mais justos, participativos e inclusivos. E isso não será possível sem desenvolvermos plenamente o potencial das nossas cidades, incorporando os adjetivos que façam sentido durante o caminho mas sem perder de vista o horizonte.
O caminho é longo, mas já estamos em marcha.
1Devo aqui acrescentar que em setembro de 2012 houve nova mudança de Ministra da Cultura no Brasil. Enquanto escrevo este texto escuto boatos de retomada de ações mais experimentais em cultura e tecnologia. Aguardemos.
No início deste mês estive em Medellín, na Colômbia, participando da quinta edição das Jornadas Ciudades Creativas, organizada pela Fundação Kreanta. O texto abaixo é uma costura da minha apresentação na mesa sobre "Apropriação de tecnologias para cidades inteligentes". Pra quem já leu meus outros textos, esse não tem nenhuma novidade. Mas fica como impressão do momento. Assim que tiver tempo também quero publicar por aqui um relato sobre minha experiência durante o evento.Respondendo a uma questão da plateia após sua palestra na edição de 2012 das Jornadas Kreanta, a socióloga Saskia Sassen problematizou a aparente "explosão de adjetivos" que tem atualmente acompanhado a reflexão sobre cidades e urbanismo: cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e por aí vai. Disse que ela mesma tem tentado evitar os adjetivos, porque em pouco tempo as consultorias comerciais oportunistas que se multiplicam pelo mundo acabam por sequestrar quaisquer termos que poderiam ter alguma relevância.Coincidentemente, dois dias antes eu havia discutido um tema similar em encontro com integrantes de diferentes projetos no Museu de Arte Moderna de Medellín. Naquela manhã de quarta-feira eu sugeria que em vez de encontrar o adjetivo certo para definir as cidades que queremos, talvez mais interessante fosse desenvolver a pleno a ideia (a utopia?) da cidade moderna como ambiente propício para a convivência com a diversidade cultural, o compartilhamento de infraestrutura e a otimização de recursos.Durante minha curta estada em Medellín, acompanhando à distância o noticiário sobre as eleições municipais no Brasil que aconteceriam na semana seguinte, eu ainda reformularia minha opinião sobre o tema: adjetivar a cidade pode sim ser temporariamente útil, como forma de contrapor-se a todas aquelas práticas arraigadas que vão no sentido oposto ao adjetivo em questão. Assim, falar em uma cidade criativa é posicionar-se contra a cidade conservadora (posicionar-se contra a agenda conservadora e as ações conservadoras dentro do espaço urbano); a cidade sustentável se opõe à cidade baseada no desperdício; defender a cidade inteligente é acusar e refutar as cidades imobilizadas pela falta de comunicação e planejamento. Mas a chave aqui é justamente o aspecto temporário: o adjetivo não deve ser a meta em si. Antes, é indicação importante de escolha de caminho prioritário.Tenho uma sensação similar em relação ao discurso das cidades digitais, assim como ao da cultura digital, entre tantos outros. Dez anos atrás, uma das primeiras ações concebidas (embora nunca implementada a contento) pelas mesmas pessoas que à época estavam envolvidas com a criação da rede MetaReciclagem se chamava "Prefeituras Inteligentes". Naquele esboço de projeto encabeçado por Daniel Pádua, imaginávamos uma política pública baseada em espaços abertos que proporcionariam a reutilização de equipamentos eletrônicos ociosos para criar redes digitais abertas que propiciassem a livre circulação de informação. Com o tempo entenderíamos que prefeituras são frequentemente os ambientes menos propícios para tais impulsos libertários. Por mais que uma prefeitura aprendesse a ser menos estúpida, ela nunca seria tão inteligente quanto gostaríamos. Ainda assim, a qualificação pelo adetivo - o digital, o criativo, o inteligente - podem trabalhar no imaginário das pessoas e dos grupos envolvidos, criar uma disposição que possibilite propor ações concretas. MetaReciclagemAo longo da última década, as diversas ações desenvolvidas de maneira distribuída através da rede MetaReciclagem acabaram deixando um pouco de lado a construção do discurso do digital – percebido ali como demasiadamente focado nas ferramentas de comunicação em si próprias, em contraposição à perspectiva de que o mais importante são as dinâmicas sociais que as tecnologias possibilitam. Em seu lugar, construiu-se uma história baseada em outros adjetivos. O livre, o aberto, o participativo, o colaborativo são centrais para a narrativa coletiva que circunda a MetaReciclagem.Mas não deixamos de lado a intenção de trabalhar junto a diferentes instituições, tentando influenciar a maneira como elas desenvolvem suas ações. De maneira distribuída e dinâmica, integrantes da rede MetaReciclagem passou a buscar parcerias com o terceiro setor, com instâncias governamentais mais abrangentes - estaduais ou federais -, com organizações culturais. Contextos que oferecem um pouco mais de abertura para uma visão ampla em relação às novas tecnologias de comunicação.Desde então, pessoas e grupos atuando dentro da rede MetaReciclagem criaram mais de uma dúzia de laboratórios em todas as regiões do país. Alguns desapareceram com o tempo, outros se reinventam até hoje. Se no início nos apresentávamos como um coletivo dedicado ao recondicionamento de computadores usados com a utilização de software livre, o uso social das redes digitais e o impulso à distribuição de cultura copyleft, hoje uma das definições mais comuns da MetaReciclagem é como rede aberta que propõe e articula ações de apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Cada um desses termos é naturalmente debatível, e isso ocupa boa parte do nosso tempo. A rede conta hoje com quase quinhentas pessoas em sua lista de discussão, influenciou um sem-número de projetos de tecnologia orientada para a sociedade, infiltrou-se em diversas discussões que supostamente não lhe diziam respeito, recebeu alguns prêmios e menções honrosas. Mais do que tudo, sabotou a si própria de maneira ativa e consciente - um método para manter sua potência transformadora e a desconfiança do poder institucional.Também percebemos muito cedo que não nos interessava simplesmente reutilizar a tecnologia em si, mas sim o hábito de apropriação tão presente nas culturas populares do Brasil. Identificamos e buscamos valorizar as práticas da gambiarra, como criatividade cotidiana e vernacular desenvolvendo soluções com quaisquer objetos, conhecimentos ou pessoas disponíveis; e do mutirão, como formação coletiva dinâmica orientada à solução de problemas.Em sua atuação, a MetaReciclagem situou-se em diferentes contextos institucionais e discursivos. Se o ativismo midiático baseado na ideia de mídia tática foi um dos primeiros fundamentos de agregação da rede, foi o campo da inclusão digital que nos ofereceu a oportunidade de estabelecermos laboratórios e desenvolvermos experimentações - ainda que buscando sempre ir além do mero acesso e propondo a apropriação de tecnologias com base em uma cultura livre. Com o tempo descobrimos que aquilo que fazíamos tinha paralelos com hacklabs, hackerspaces e toda a cena de cultura de faça-você-mesmo. Entendemos que estávamos assumindo uma posição de resistência contra a obsolescência programada, que teríamos um papel importante no debate sobre a questão do lixo eletrônico. Algumas pessoas da rede estabeleceram um diálogo produtivo e continuado com o campo da arte eletrônica.Essa trajetória está diretamente ligada à prioridade que sempre atribuímos à ideia de abertura, que necessariamente acompanha uma cultura livre. Uma sensibilidade do abrir, aproximando as pessoas da tecnologia para entender como as coisas funcionam, reordenar seus componentes, inventar outros usos, propor outras interpretações. Uma prática da abertura que implica uma estética da abertura (e sua relação com o ruído, a sujeira, a imperfeição, o inesperado). Estética da abertura que necessariamente se relaciona com uma ética da abertura, da participação, do compartilhamento. A compreensão da abertura como princípio político. Um dos resultados desse posicionamento é o fato de a MetaReciclagem ter evitado uma institucionalização centralizada. Em vez de definir uma estrutura hierárquica definida, ela se concretiza de forma fluida e cambiante, sugerindo formas de mobilizar ações que são supostamente mais adequadas a um contexto altamente enredado.A partir de 2003, o Brasil passaria por grandes transformações. Em especial na política cultural. Na esteira da eleição de Lula como Presidente da República, uma personagem inesperada para o jogo político tradicional se alçaria ao posto de Ministro da Cultura: Gilberto Gil. Músico com reconhecimento internacional e uma das principais vozes do tropicalismo - movimento cultural surgido nos anos sessentas que propunha o diálogo entre manifestações culturais tradicionais, as vanguardas artísticas urbanas e a emergente cultura pop -, Gil sempre demonstrou uma curiosidade a respeito do papel que as tecnologias digitais poderiam exercer na cultura.O novo dirigente traria uma transformação fundamental para o Ministério: em vez de entender cultura somente sob o prisma da economia do entretenimento e do mercado da arte, propunha um entendimento antropológico da cultura como o conjunto de tudo aquilo que nos faz humanos, vivendo em sociedade. A partir desta perspectiva é que seria criado, sob a coordenação de Celio Turino, o programa Cultura Viva, que propunha um "do-in antropológico". O projeto pretendia identificar e estimular pontos potencialmente transformadores para as culturas brasileiras: os espaços que viriam a ser chamados de Pontos de Cultura.Logo depois de sua criação, o projeto Cultura Viva decidiu incluir uma vertente digital que incorporava uma profunda reflexão a respeito de autonomia dos saberes, da generosidade implícita nas licenças livres e abertas, da valorização de uma postura hacker (o próprio Ministro posicionou-se como um "ministro hacker"), e da livre circulação de produção cultural. Naquele contexto, o digital não era entendido somente como uma nova linguagem, mas pelo contrário como elemento potencialmente integrador de diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.Para planejar e implementar essa visão, o Ministério convidaria integrantes de diversos grupos, coletivos e redes que se dedicavam a questões de ativismo midiático, cultura livre e tecnologias de comunicação. Isso daria ensejo a uma série de ações em conjunto: encontros, festivais, oficinas, processos de formação e intercâmbio. Centenas de grupos em todas as regiões do Brasil tiveram seu primeiro contato com tecnologias de produção cultural, e já começavam usando softwares livres. LaboratóriosNos anos seguintes, uma questão começou a me inquietar em particular: se algumas das pessoas mais capacitadas em relação à fronteira entre tecnologia e cultura estão ocupadas dando oficinas para compartilhar o que já aprenderam, quem é que vai se ocupar de pensar e desenvolver o futuro dessas tecnologias? Criar e ensinar são momentos igualmente necessários, mas em muitos casos exigem disposições mentais distintas. Em determinado momento, parecia que só estávamos criando alternativas de viabilidade para a formação, deixando de lado o aprofundamento, a experimentação formal e o questionamento do imaginário social envolvido em todas essas questões. Além de promover o acesso à cultura digital, como poderíamos apoiar o próprio desenvolvimento da cultura (sem adjetivos) em diálogo com esses novos contextos que têm surgido? Se tínhamos uma visão crítica ao imaginário dos medialabs dos EUA e Europa, o que é que poderíamos propor para sucedê-los?Pensando nessas questões, criei em 2010 a plataforma Rede//Labs, que naquele ano estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cultura para investigar que tipo de arranjo formal e administrativo se fazia necessário para estimular esse tipo de desenvolvimento. Queríamos entender o que deveria ser um laboratório experimental adequado aos dias de hoje. Passamos alguns meses conversando com dezenas de pessoas e grupos atuantes nesse contexto no Brasil e no exterior. Organizamos um blog, promovemos um encontro com pessoas vindas de todo o país e um painel internacional sobre laboratórios de mídia e laboratórios experimentais. Conversamos bastante sobre como sustentar uma cultura de inovação baseada em princípios de liberdade, abertura e compartilhamento, e orientada a demandas da sociedade, não simplesmente ao lucro. Identificamos temas emergentes como a cena maker, a prototipagem digital, as mídias locativas, a realidade expandida, as cartografias colaborativas, o hardware livre, a internet das coisas, os sensores interconectados, entre outros. Entendemos que o laboratório experimental ideal não é (somente) um estúdio, e que também não é (somente) uma escola. Chegamos a esboçar com o Ministério um mecanismode apoio formal à cultura digital experimental, e traçar planos para a implementação de uma rede de laboratórios de arte e tecnologia financiados pelo Ministério da Cultura.Infelizmente, a passagem de ano para 2011 assistiu a uma mudança brusca no comando no Ministério da Cultura, o que fez com que todas essas ações e planos caíssem no vazio institucional que se seguiu1. A nova prioridade no Ministério era a Secretaria de Economia Criativa. Ainda que mais aberta do que o referencial britânico das indústrias criativas, era nítida a reorientação desde a visão antropológica da cultura em direção a uma visão da cultura como mercado privilegiado.No fim de 2011, Rede//Labs estabeleceu uma parceria de pesquisa com o Centro de Cultura Espanhola de São Paulo, subordinado à AECID. Nos meses seguintes, redigi uma série de artigos sobre laboratórios experimentais em rede, e articulei a produção de quatro vídeos sobre diferentes organizações e cenários no Brasil que atuam nesse campo. Apesar da boa repercussão da parceria, a crise econômica na Espanha ocasionou o encerramento das atividades do CCE de São Paulo, e no mesmo caminho seguiram as expectativas de dar sequência à pesquisa.Ao longo desses percursos, acredito que tenhamos aprendido algumas lições. Ou ao menos aprendemos a melhor elaborar algumas questões. Uma delas diz respeito ao aprisionamento ao mercado. Como é que podemos estimular a consolidação de um tipo de reflexão e de prática culturais que estão ligadas à multiplicação dos instrumentos de informação e comunicação, mas como fazemos isso sem cair na armadilha da mensuração econômica segundo a qual tudo que não tem valor comercial não merece investimento? Quais os caminhos para propor colaboração antidisciplinar, que não somente ultrapasse as barreiras entre as disciplinas, mas deixe-as para trás?Outra questão que tem surgido e inspirado cada vez mais propostas é a integração entre os fluxos das redes digitais e os fluxos das ruas. Em vez de cair naquela visão (que muitos já consideram obsoleta) segundo a qual a internet era a negação da cidade - seu extremo oposto-, um grande número de iniciativas tem buscado justamente relacionar essas duas dimensões diferenciadas de sociabilidade dentro de uma visão integrada. São ações que se desenrolam simultaneamente na internet e nas cidades, que relacionam e retroalimentam o âmbito dos commons digitais juntamente ao âmbito do espaço público urbano. Que trazem a cultura livre para as ruas ao mesmo tempo em que levam a criatividade vernacular e as táticas de apropriação do cotidiano para as redes online. Projetos de mapeamento digital colaborativo, intervenções (e festas) que tomam as ruas. Ações que pensam a própria rua como laboratório, abundante em recursos pouco utilizados e em soluções inovadoras. Que pensam mesmo o laboratório convencional como espaço situado no cenário urbano, potencialmente um espaço de contato que ainda precisamos entender melhor. Que incentivam a ciência cidadã, a criatividade economicamente improdutiva, o hacking de imaginário social. Valores como integração, amizade, afeto, colaboração e tolerância ultrapassando a competição. Porque no fundo o que queremos são futuros mais justos, participativos e inclusivos. E isso não será possível sem desenvolvermos plenamente o potencial das nossas cidades, incorporando os adjetivos que façam sentido durante o caminho mas sem perder de vista o horizonte.O caminho é longo, mas já estamos em marcha. 1Devo aqui acrescentar que em setembro de 2012 houve nova mudança de Ministra da Cultura no Brasil. Enquanto escrevo este texto escuto boatos de retomada de ações mais experimentais em cultura e tecnologia. Aguardemos.
Cidades, coisas, pessoas
Um número crescente de iniciativas ligadas à cultura livre, à mobilização em rede e à apropriação crítica de tecnologias têm se dedicado a refletir sobre a cidade como construção “hackeável”, e a propor maneiras de interferir nela. É um importante desdobramento que busca superar a oposição artificial entre “virtual” e “real”, e reabilitar a cidade como espaço primordial de disputa na busca de transformação efetiva.
Mais do que lançar ideias soltas na rua, essas intervenções, projetos e articulações se propõem a interferir na própria construção da cidade enquanto infraestrutura coletiva. Dois anos atrás eu me perguntava sobre o paralelo que via entre a maneira como a MetaReciclagem se aproxima das tecnologias de informação e o tipo de mudança que as redes colaborativas podem proporcionar às cidades. Hoje vejo muitas hipóteses sendo colocadas a prova.
Um grupo heterogêneo que circula em torno da Casa de Cultura Digital, em São Paulo, tem atuado em algumas dessas questões. O Baixo Centro vai além de simplesmente retratar digitalmente a cidade, e propõe uma retomada criativa e bem-humorada das ruas. O Arte Fora do Museu dá visibilidade para expressão artística que de outro modo seria invisível, soterrada pela pressa, pelo anonimato e pela rotina da vida urbana. O Ônibus Hacker põe em prática uma ideia sonhada por vários coletivos ao longo dessa última década: um laboratório móvel que se arma onde quer que haja interesse e uma extensão de energia elétrica. Outros grupos e formações, como o Labmóvel, também têm investigado essa relação entre a lógica colaborativa que emerge das redes digitais e o mundo lá fora. Assumindo uma vertente mais crítica, o Laboratório de Cartografias Insurgentes buscou produzir “mapas políticos” que retratassem as remoções e despejos no Rio de Janeiro em decorrência dos megaeventos vindouros. Em comum entre todos esses projetos, a incorporação do espaço público como território compartilhado.
Naturalmente, assuntos como mapeamento colaborativo têm pipocado por todos os cantos (eu mesmo já relatei o Labx, que teve um eixo chamado “geografia experimental”, e algumas brincadeiras com mapeamento aéreo de baixo custo nos céus do Rio de Janeiro). Para quem se interessa especificamente por ferramentas e metodologias de mapeamento, estamos organizando (mais!) uma lista de discussão chamada geolivre. Apareçam por lá.
Do outro lado do Atlântico, o diálogo entre ruas e redes também é foco de atenção. Inspirado pelo Movimento 15M, pela ideia de openness e pelas diversas iniciativas recentes de cartografia cidadã, o Medialab Prado organizou em Madrid a conferência “City Open Interface”. O mesmo Medialab Prado foi também responsável, junto com a Science Gallery, pela realização na Irlanda do Interactivos?’12 Dublin, que reuniu projetos e ideias sobre “hackear a cidade”. O evento se propunha a desenvolver protótipos funcionais para mudar a relação das pessoas com o entorno urbano. É interessante perceber que os projetos selecionados têm uma pegada emergente, de baixo para cima. Ainda mais levando-se em conta que Dublin foi sede do Media Lab Europe, uma espécie de sucursal do Media Lab do MIT. O encerramento do projeto em 2005 é usualmente interpretado como um fracasso na replicação de um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, mas que não é necessariamente a resposta adequada para outras localidades (como eu já sugeria aqui). Apesar do nome em comum, a proposta do Medialab Prado - na qual as tecnologias surgem como facilitadores para a construção coletiva das cidades - vai em direção oposta ao modo usual de agir do Media Lab do MIT (que acredita que um software de planejamento urbano pode ajudar a construir as cidades do futuro).
Essa é uma diferença importante que surge entre a perspectiva dos laboratórios experimentais em rede e aquela dos laboratórios de mídia em um formato mais tradicional. Estes de certa forma distanciam-se da pulsação local, transformando-se em lugares alheios a seu entorno para se concentrar em soluções replicáveis a contextos diversos. Enquanto eu entendo essa forma de agir, acredito que ela não deveria ser a única possível. Já propus anteriormente que os labs experimentais podem se tornar interfaces entre a rede e a rua. Pode ser interessante então reconhecer algumas dinâmicas presentes na cidade enquanto construção coletiva, a fim de saber como melhor operar.
Muitos ativistas da tecnologia livre (entre os quais humildemente me incluo) sofremos frequentemente de uma certa síndrome do novo mundo. Identificamos lógicas que funcionam na comunicação digital e logo queremos transpô-las para todas as áreas do conhecimento. É um impulso potente e muitas vezes criativo, mas que pode sofrer de uma superficialidade tremenda. A primeira observação que faço é que a questão urbana, as dinâmicas sociais e a infraestrutura de circulação vêm sendo estudadas há séculos. Suas dinâmicas, inclusive aquelas que se assemelham a pontos críticos da cultura digital - em especial a tensão entre controle e organicidade - já foram analisadas de forma bastante abrangente. Algumas boas ideias (e outras péssimas) foram testadas na prática com populações inteiras. Em vez de jogar na lata de lixo todo esse histórico, podemos buscar pontos de composição com ele - que podem inclusive nos ajudar a entender a própria tecnologia de uma forma diferente.
Bernardo Gutiérrez, jornalista espanhol residente em São Paulo, escreveu recentemente sobre cidades e copyleft, buscando paralelos entre um ensaio urbanístico de Henri Lefebvre e uma compilação de escritos de Richard Stallman. Falando sobre assuntos distintos - respectivamente a cidade e o software -, ambos afirmam uma condição de realidade em construção, de obra inacabada, em relação à qual podemos assumir uma eterna possibilidade de interferência.
É essa transitoriedade que sugere ser possível mexer nas cidades de modo análogo ao software. Mas essa analogia não deve ser interpretada de maneira absoluta. O que interessa aqui é justamente a abertura à modificação, e não uma redução da realidade cotidiana a meros sistemas informacionais. Por mais que a cidade possa ser modificada de forma parecida com o software livre, ela em si não é simplesmente uma descrição digital abstrata. A série de documentários “All Watched Over By Machines of Loving Grace”, produzida por Adam Curtis para a BBC (e disponível para download no Archive.org) mostra a influência que as teorias da cibernética adquiriram ao longo da segunda metade do século XX. Dá exemplos dos efeitos nefastos decorrentes da utilização em larga escala de princípios da cibernética para o dia a dia da administração da economia, da política e da sociedade. Para funcionar, esses princípios supõem a redução de toda ação humana, todo fenômeno natural, toda a realidade à nossa volta, a uma representação matemática. Mas a sociedade não cabe em um modelo matemático. Ela não é o mero circuito de circulação, comércio e “entretenimento” (seja lá o que isso for). Ela é, isso sim, lugar privilegiado da contradição, onde intimidade e anonimato estão lado a lado, onde harmonia e hostilidade podem ser esperadas a todo momento, onde precariedade e oportunidades se chocam.
Merece atenção especial o discurso de “cidades inteligentes” atualmente em construção, alimentado por interesses poderosos inspirados nessa visão simplista da cidade. É assustador perceber a total ignorância que os representantes da indústria têm sobre o tipo de ameaça que essas tecnologias trazem para futuros menos iluminados. Sistemas de controle podem parecer uma boa ideia, mas se caírem em mãos erradas podem ter consequências desastrosas. Mais assustador ainda é ver como são bem relacionadas essas pessoas. Vendem projetos milionários para administrações municipais, que as implementam de cima para baixo, mais uma vez ignorando totalmente a complexidade de implicações que esses projetos têm na sociedade. Não fazem ideia de como realmente se dão os fluxos dentro das cidades (que para Adam Greenfield já são inteligentes em si mesmas, independente de dispositivos interconectados).
Juan Freire lidera o grupo de trabalho “Ciudad e Procomún” do Medialab Prado, que propõe “uma resposta crítica e construtiva ao modelo de cidades inteligentes”. Entre suas preocupações está a disseminação de vários tipos de sensores interconectados e controlados pela administração pública para monitorar em tempo real a vida urbana (a tal “internet das coisas” muito oportunamente questionada pelo IOT Council). Freire afirma que o problema desse tipo de urbanismo não é a tecnologia, mas a reiteração de um modelo de cidade centralizada e hierárquica.
Escrevendo sobre “a cidade da internet das coisas”, André Lemos afirma que pensar sobre tecnologia para cidades não se trata somente de automatizar a comunicação entre objetos informacionais para aumentar a eficiência do dia a dia, mas também de “produzir novos discursos, novas narrativas sobre o urbano (do se perder, de serendipidade, do ficar invisível aos sistemas de detecção, de ressaltar ruídos e padrões que escapem da utilidade estreita).” A cidade não pode ser administrada como uma partida de SimCity. Infelizmente, isso é justamente o que o impulso pelo controle acaba gerando. Um vídeo da Globo News incorporado no artigo de Lemos retrata a demonstração que o prefeito do Rio faz de seu mais novo videogame, digo, Centro de Operações. Ao longo da reportagem, eu tive a sombria impressão de assistir a uma cena de flashback de algum filme de ficção distópica - aquela cena em que o filme volta no tempo para mostrar quais foram os fatos que acabaram levando a um futuro indesejável. O vídeo está disponível, por enquanto, aqui:
Essa gramática do controle, sobre a qual já escrevi anteriormente, baseia-se justamente na redução da cidade ao modelo cibernético. É justamente esse ponto cego em relação à complexidade da política cotidiana - política aqui entendida como arte da vida coletiva, em sociedade - que escapa às mais bem intencionadas tentativas de diretamente transpor lógicas típicas das redes digitais para o espaço urbano.
No começo desse ano eu acompanhei a certa distância algumas das discussões sobre transparência e controle social da administração pública. Grande parte do que se propõe nesse tema em âmbito municipal trata somente de dados de execução orçamentária - divulgando quanto a prefeitura gastou com cada área de administração. Poucos envolvidos chegam a refletir sobre abrir todo o processo burocrático não somente aos olhos da população, mas também à cabeça ou mesmo aos braços dela. Em outras palavras, o cidadão só pode assistir enquanto a prefeitura gasta o dinheiro - não é chamado a dividir a responsabilidade pelas decisões e em nenhum momento é convidado a ajudar na prática. Mesmo que eu tenha disposição, tempo, conhecimento e ferramentas para ajudar no jardinamento da praça ao lado da minha casa, não sou autorizado a fazê-lo, para não atrapalhar o funcionamento da máquina burocrática para a qual não passo de um número.
Nas redes e nos grupos que discutem essas coisas, costumamos porpor um tipo de relação que se opõe à submissão da sociedade ao funcionamento das novas tecnologias. Acreditamos que, pelo contrário, as tecnologias é que deveriam ser adaptadas para ajudar a construir uma sociedade mais participativa, harmoniosa, aberta à diversidade e justa. Para isso, é preciso ter bem claro que a mera digitalização, interconexão e circulação de informação sobre o espaço urbano não vai criar a cidade que queremos. Na verdade, se essa captura e gerenciamento de informação se presta a fins de controle, enquadramento e exclusão, ela está indo justamente no caminho contrário. Antes uma cidade desconectada do que uma cidade conectada a uma central de controle autoritária!
2012 é ano de eleições municipais. É uma época crucial. Em muitas cidades de todos os portes, os assuntos “cidade digital” e “cidade inteligente” têm ganhado espaço nas campanhas eleitorais. Além disso, o cenário de esvaziamento conceitual nas políticas públicas federais de acesso à tecnologia nos puxa de volta para o local como espaço legítimo de disputa de visões de mundo. Nos últimos dois anos, perdemos muito espaço a partir da imposição de uma lógica mercantilista à visão antropológica que o Ministério da Cultura previamente liderava. Da mesma forma, ganha espaço em Brasília a retórica simplista das “cidades digitais” - que dá importância muito maior à criação de redes wi-fi municipais que oferecem acesso doméstico privado do que a espaços comunitários que proporcionem vivência, troca, experimentação e aprendizado mútuo. Não podemos deixar que essa tendência se torne hegemônica.
Para a grande maioria das pessoas que leem esse artigo, a cidade é uma realidade inescapável. Está logo ali, atravessando a porta. Ela pode parecer opressora, perigosa, impossível de mudar. Mas é só começar a procurar pra descobrir que tem mais um monte de gente tentando. Como fazer pra encontrar essas pessoas? Use as redes!
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.
PS eu havia incluído o vídeo errado do prefeito do Rio. Fiz a correção acima.
Um número crescente de iniciativas ligadas à cultura livre, à mobilização em rede e à apropriação crítica de tecnologias têm se dedicado a refletir sobre a cidade como construção “hackeável”, e a propor maneiras de interferir nela. É um importante desdobramento que busca superar a oposição artificial entre “virtual” e “real”, e reabilitar a cidade como espaço primordial de disputa na busca de transformação efetiva.Mais do que lançar ideias soltas na rua, essas intervenções, projetos e articulações se propõem a interferir na própria construção da cidade enquanto infraestrutura coletiva. Dois anos atrás eu me perguntava sobre o paralelo que via entre a maneira como a MetaReciclagem se aproxima das tecnologias de informação e o tipo de mudança que as redes colaborativas podem proporcionar às cidades. Hoje vejo muitas hipóteses sendo colocadas a prova.Um grupo heterogêneo que circula em torno da Casa de Cultura Digital, em São Paulo, tem atuado em algumas dessas questões. O Baixo Centro vai além de simplesmente retratar digitalmente a cidade, e propõe uma retomada criativa e bem-humorada das ruas. O Arte Fora do Museu dá visibilidade para expressão artística que de outro modo seria invisível, soterrada pela pressa, pelo anonimato e pela rotina da vida urbana. O Ônibus Hacker põe em prática uma ideia sonhada por vários coletivos ao longo dessa última década: um laboratório móvel que se arma onde quer que haja interesse e uma extensão de energia elétrica. Outros grupos e formações, como o Labmóvel, também têm investigado essa relação entre a lógica colaborativa que emerge das redes digitais e o mundo lá fora. Assumindo uma vertente mais crítica, o Laboratório de Cartografias Insurgentes buscou produzir “mapas políticos” que retratassem as remoções e despejos no Rio de Janeiro em decorrência dos megaeventos vindouros. Em comum entre todos esses projetos, a incorporação do espaço público como território compartilhado.Naturalmente, assuntos como mapeamento colaborativo têm pipocado por todos os cantos (eu mesmo já relatei o Labx, que teve um eixo chamado “geografia experimental”, e algumas brincadeiras com mapeamento aéreo de baixo custo nos céus do Rio de Janeiro). Para quem se interessa especificamente por ferramentas e metodologias de mapeamento, estamos organizando (mais!) uma lista de discussão chamada geolivre. Apareçam por lá.Do outro lado do Atlântico, o diálogo entre ruas e redes também é foco de atenção. Inspirado pelo Movimento 15M, pela ideia de openness e pelas diversas iniciativas recentes de cartografia cidadã, o Medialab Prado organizou em Madrid a conferência “City Open Interface”. O mesmo Medialab Prado foi também responsável, junto com a Science Gallery, pela realização na Irlanda do Interactivos?’12 Dublin, que reuniu projetos e ideias sobre “hackear a cidade”. O evento se propunha a desenvolver protótipos funcionais para mudar a relação das pessoas com o entorno urbano. É interessante perceber que os projetos selecionados têm uma pegada emergente, de baixo para cima. Ainda mais levando-se em conta que Dublin foi sede do Media Lab Europe, uma espécie de sucursal do Media Lab do MIT. O encerramento do projeto em 2005 é usualmente interpretado como um fracasso na replicação de um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, mas que não é necessariamente a resposta adequada para outras localidades (como eu já sugeria aqui). Apesar do nome em comum, a proposta do Medialab Prado - na qual as tecnologias surgem como facilitadores para a construção coletiva das cidades - vai em direção oposta ao modo usual de agir do Media Lab do MIT (que acredita que um software de planejamento urbano pode ajudar a construir as cidades do futuro).Essa é uma diferença importante que surge entre a perspectiva dos laboratórios experimentais em rede e aquela dos laboratórios de mídia em um formato mais tradicional. Estes de certa forma distanciam-se da pulsação local, transformando-se em lugares alheios a seu entorno para se concentrar em soluções replicáveis a contextos diversos. Enquanto eu entendo essa forma de agir, acredito que ela não deveria ser a única possível. Já propus anteriormente que os labs experimentais podem se tornar interfaces entre a rede e a rua. Pode ser interessante então reconhecer algumas dinâmicas presentes na cidade enquanto construção coletiva, a fim de saber como melhor operar.Muitos ativistas da tecnologia livre (entre os quais humildemente me incluo) sofremos frequentemente de uma certa síndrome do novo mundo. Identificamos lógicas que funcionam na comunicação digital e logo queremos transpô-las para todas as áreas do conhecimento. É um impulso potente e muitas vezes criativo, mas que pode sofrer de uma superficialidade tremenda. A primeira observação que faço é que a questão urbana, as dinâmicas sociais e a infraestrutura de circulação vêm sendo estudadas há séculos. Suas dinâmicas, inclusive aquelas que se assemelham a pontos críticos da cultura digital - em especial a tensão entre controle e organicidade - já foram analisadas de forma bastante abrangente. Algumas boas ideias (e outras péssimas) foram testadas na prática com populações inteiras. Em vez de jogar na lata de lixo todo esse histórico, podemos buscar pontos de composição com ele - que podem inclusive nos ajudar a entender a própria tecnologia de uma forma diferente.Bernardo Gutiérrez, jornalista espanhol residente em São Paulo, escreveu recentemente sobre cidades e copyleft, buscando paralelos entre um ensaio urbanístico de Henri Lefebvre e uma compilação de escritos de Richard Stallman. Falando sobre assuntos distintos - respectivamente a cidade e o software -, ambos afirmam uma condição de realidade em construção, de obra inacabada, em relação à qual podemos assumir uma eterna possibilidade de interferência.É essa transitoriedade que sugere ser possível mexer nas cidades de modo análogo ao software. Mas essa analogia não deve ser interpretada de maneira absoluta. O que interessa aqui é justamente a abertura à modificação, e não uma redução da realidade cotidiana a meros sistemas informacionais. Por mais que a cidade possa ser modificada de forma parecida com o software livre, ela em si não é simplesmente uma descrição digital abstrata. A série de documentários “All Watched Over By Machines of Loving Grace”, produzida por Adam Curtis para a BBC (e disponível para download no Archive.org) mostra a influência que as teorias da cibernética adquiriram ao longo da segunda metade do século XX. Dá exemplos dos efeitos nefastos decorrentes da utilização em larga escala de princípios da cibernética para o dia a dia da administração da economia, da política e da sociedade. Para funcionar, esses princípios supõem a redução de toda ação humana, todo fenômeno natural, toda a realidade à nossa volta, a uma representação matemática. Mas a sociedade não cabe em um modelo matemático. Ela não é o mero circuito de circulação, comércio e “entretenimento” (seja lá o que isso for). Ela é, isso sim, lugar privilegiado da contradição, onde intimidade e anonimato estão lado a lado, onde harmonia e hostilidade podem ser esperadas a todo momento, onde precariedade e oportunidades se chocam.Merece atenção especial o discurso de “cidades inteligentes” atualmente em construção, alimentado por interesses poderosos inspirados nessa visão simplista da cidade. É assustador perceber a total ignorância que os representantes da indústria têm sobre o tipo de ameaça que essas tecnologias trazem para futuros menos iluminados. Sistemas de controle podem parecer uma boa ideia, mas se caírem em mãos erradas podem ter consequências desastrosas. Mais assustador ainda é ver como são bem relacionadas essas pessoas. Vendem projetos milionários para administrações municipais, que as implementam de cima para baixo, mais uma vez ignorando totalmente a complexidade de implicações que esses projetos têm na sociedade. Não fazem ideia de como realmente se dão os fluxos dentro das cidades (que para Adam Greenfield já são inteligentes em si mesmas, independente de dispositivos interconectados).Juan Freire lidera o grupo de trabalho “Ciudad e Procomún” do Medialab Prado, que propõe “uma resposta crítica e construtiva ao modelo de cidades inteligentes”. Entre suas preocupações está a disseminação de vários tipos de sensores interconectados e controlados pela administração pública para monitorar em tempo real a vida urbana (a tal “internet das coisas” muito oportunamente questionada pelo IOT Council). Freire afirma que o problema desse tipo de urbanismo não é a tecnologia, mas a reiteração de um modelo de cidade centralizada e hierárquica.Escrevendo sobre “a cidade da internet das coisas”, André Lemos afirma que pensar sobre tecnologia para cidades não se trata somente de automatizar a comunicação entre objetos informacionais para aumentar a eficiência do dia a dia, mas também de “produzir novos discursos, novas narrativas sobre o urbano (do se perder, de serendipidade, do ficar invisível aos sistemas de detecção, de ressaltar ruídos e padrões que escapem da utilidade estreita).” A cidade não pode ser administrada como uma partida de SimCity. Infelizmente, isso é justamente o que o impulso pelo controle acaba gerando. Um vídeo da Globo News incorporado no artigo de Lemos retrata a demonstração que o prefeito do Rio faz de seu mais novo videogame, digo, Centro de Operações. Ao longo da reportagem, eu tive a sombria impressão de assistir a uma cena de flashback de algum filme de ficção distópica - aquela cena em que o filme volta no tempo para mostrar quais foram os fatos que acabaram levando a um futuro indesejável. O vídeo está disponível, por enquanto, aqui:Essa gramática do controle, sobre a qual já escrevi anteriormente, baseia-se justamente na redução da cidade ao modelo cibernético. É justamente esse ponto cego em relação à complexidade da política cotidiana - política aqui entendida como arte da vida coletiva, em sociedade - que escapa às mais bem intencionadas tentativas de diretamente transpor lógicas típicas das redes digitais para o espaço urbano.No começo desse ano eu acompanhei a certa distância algumas das discussões sobre transparência e controle social da administração pública. Grande parte do que se propõe nesse tema em âmbito municipal trata somente de dados de execução orçamentária - divulgando quanto a prefeitura gastou com cada área de administração. Poucos envolvidos chegam a refletir sobre abrir todo o processo burocrático não somente aos olhos da população, mas também à cabeça ou mesmo aos braços dela. Em outras palavras, o cidadão só pode assistir enquanto a prefeitura gasta o dinheiro - não é chamado a dividir a responsabilidade pelas decisões e em nenhum momento é convidado a ajudar na prática. Mesmo que eu tenha disposição, tempo, conhecimento e ferramentas para ajudar no jardinamento da praça ao lado da minha casa, não sou autorizado a fazê-lo, para não atrapalhar o funcionamento da máquina burocrática para a qual não passo de um número.Nas redes e nos grupos que discutem essas coisas, costumamos porpor um tipo de relação que se opõe à submissão da sociedade ao funcionamento das novas tecnologias. Acreditamos que, pelo contrário, as tecnologias é que deveriam ser adaptadas para ajudar a construir uma sociedade mais participativa, harmoniosa, aberta à diversidade e justa. Para isso, é preciso ter bem claro que a mera digitalização, interconexão e circulação de informação sobre o espaço urbano não vai criar a cidade que queremos. Na verdade, se essa captura e gerenciamento de informação se presta a fins de controle, enquadramento e exclusão, ela está indo justamente no caminho contrário. Antes uma cidade desconectada do que uma cidade conectada a uma central de controle autoritária!2012 é ano de eleições municipais. É uma época crucial. Em muitas cidades de todos os portes, os assuntos “cidade digital” e “cidade inteligente” têm ganhado espaço nas campanhas eleitorais. Além disso, o cenário de esvaziamento conceitual nas políticas públicas federais de acesso à tecnologia nos puxa de volta para o local como espaço legítimo de disputa de visões de mundo. Nos últimos dois anos, perdemos muito espaço a partir da imposição de uma lógica mercantilista à visão antropológica que o Ministério da Cultura previamente liderava. Da mesma forma, ganha espaço em Brasília a retórica simplista das “cidades digitais” - que dá importância muito maior à criação de redes wi-fi municipais que oferecem acesso doméstico privado do que a espaços comunitários que proporcionem vivência, troca, experimentação e aprendizado mútuo. Não podemos deixar que essa tendência se torne hegemônica.Para a grande maioria das pessoas que leem esse artigo, a cidade é uma realidade inescapável. Está logo ali, atravessando a porta. Ela pode parecer opressora, perigosa, impossível de mudar. Mas é só começar a procurar pra descobrir que tem mais um monte de gente tentando. Como fazer pra encontrar essas pessoas? Use as redes!Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.PS eu havia incluído o vídeo errado do prefeito do Rio. Fiz a correção acima.Postura Experimental
Insisto há algum tempo que, em se tratando de labs experimentais, hoje em dia mais importante do que a infraestrutura é uma certa postura experimental (e sei que mais gente também pensa assim). Por um lado, é óbvio que essa afirmação sugere a crescente irrelevância de tantos projetos de laboratórios que dedicam (muito) mais atenção a computadores, câmeras e afins do que a criar dinâmicas para reunir pessoas e promover entre elas o intercâmbio e a construção coletiva. Por outro lado, reafirma a inventividade presente em arranjos temporários e auto-organizados, frequentemente informais e baseados na troca generosa e abundante. Mas como fazer para escapar às amarras do fazer cotidiano e da inserção em esquemas predefinidos, nos quais as pessoas já sabem como se portar? Como evitar que o momento do encontro seja somente um espaço de performance de rotinas individualmente ensaiadas e permita a troca real de influências mútuas?
Uma das atividades mais concorridas do Labx que organizei no Rio em dezembro passado foi a mesa sobre Labs Nômades, que reuniu iniciativas vindas de diversos contextos institucionais e localidades. Grande parte delas atua de maneira diversa do que geralmente se espera de "laboratórios de mídia": ocupam o espaço público, firmam parcerias com organizações locais, fazem reuniões em cafés ou botecos, desenvolvem estruturas móveis, organizam-se de maneira improvável e depois desaparecem. Em comum têm a pulsão da criação, frequentemente superando - ainda que temporariamente - a precariedade, adaptando-se a quaisquer condições que se apresentem. Geralmente, produzem muito mais do que projetos institucionais com recursos muito mais vultosos. Parte de sua força vem da inventividade de formatos de agrupamento.
Labs em movimento
Aqui no meu canto, de onde observo essas coisas emergirem, espero que os labs contemporâneos (que vão ativar o pós-digital?) tenham entre seus objetivos gerar soluções para um mundo melhor. De preferência com base em tecnologias livres e dialogando com grandes estruturas que já existem, incluindo os programas de inclusão digital de grande escala, que ainda acredito terem um grande potencial de reinvenção. Nesse particular, repito outra vez o que falei mês passado na Virada Digital em Paraty: cada sala de informática em escola, telecentro, ponto de cultura ou similar tem o potencial de se tornar um criativo laboratório experimental. Basta uma sutil mas importante inversão de expectativas: em vez de afirmar um uso específico das tecnologias, esses espaços deveriam concentrar-se em elaborar questões abertas sobre elas. Passar do ponto final à interrogação. Partir do pressuposto de que qualquer processo de formação orientado à exposição, avaliação e controle já começa defasado.
A palestra em Paraty, aliás, foi importante - apesar de um pouco conturbada. Até uma semana antes do evento, eu estava agendado para falar às 14hs do sábado. Poucos dias antes, me remarcaram para as nove da manhã. Cheguei a comentar com a produção que é otimismo demasiado esperar que haja público tão cedo em um sábado, ainda mais em Paraty. Mas madruguei em Ubatuba para chegar a tempo. No horário marcado, disseram que teriam que adiar para às 13hs. Foi bom porque tive mais tempo para preparar a apresentação, além de ter encontrado um monte de amigos pelas ruas do centro histórico. Uma apresentação um tanto bizarra de artes marciais que ocupava o palco me atrasou mais um pouco, e ironicamente iniciei quase no horário originalmente previsto.
Apesar de muita semelhança com a estrutura das Campus Parties, havia ainda outra vantagem na Virada: as pessoas ouviam o que se falava ao microfone. Rolou até alguma interação ao final da minha fala. Mais tarde, fora do palco, fui também apresentado a Álvaro, coordenador do curso de informática da Etec (Escola Técnica - Centro Paula Souza) de Ubatuba. Esse encontro foi providencial: duas semanas depois aconteceria o Encontrão Hipertropical de MetaReciclagem naquela cidade. A partir desse contato, articulamos algumas atividades em parceria durante o Encontrão, que acabou se tornando um grande laboratório aberto - informal e dinâmico, seguindo os desejos e intenções das pessoas por ali e desapegado de cumprir obrigações formais comuns em eventos do tipo. Contei mais sobre o Encontrão no blog Ubalab, mas destaco aqui um trecho:
"Parte do grupo foi ao centro comprar vegetais e peixes para o almoço (atividade coletiva que tomou boa parte da tarde). Outrxs montaram em um dos quiosques da Fundação um laboratório onde se dedicaram a montar antenas para tentar escutar navios ou interferências em satélites, um radiotelescópio feito com uma daquelas mesas de plástico de boteco, experiências com redes sem fio, uma oficina aberta sobre Openstreetmap e outras experiências espontâneas. Um grupo de alunos da Etec chegou em uma van, instigados para continuar o ritmo da tarde anterior.
A página com a programação do Encontrão foi, como alguns de nós já esperávamos, mais uma declaração de intenções do que um mapa de atividades e horários. As conversas que tinham sido planejadas para os dois dias foram condensadas em um momento à noitinha, puxadas por Henrique Parra. Iluminado por uma verdadeira gambiarra (no sentido português) e por um datashow apontado ao chão, um círculo de gente fez uma conversa aberta sobre temas diversos: Ubatuba, juventude, cenário político local, mata atlântica, redes autônomas, sonhos, desejos e projeções. Fiquei feliz quando os alunos da Etec se colocaram (principalmente a menina que falou indignada que 'a juventude de hoje só quer saber de jogar CS e ver tirinha no facebook').
Na manhã de domingo, alguns alugaram bicicletas e dizem ter rodado 36km pela cidade, coletando trilhas de GPS que vão alimentar o mapa da cidade no OSM. O coletivo Mutgamb fez uma reunião de trabalho, enquanto outros grupos se espalhavam pelas praias e bairros da cidade."
No que toca à reflexão sobre Labs, o Encontrão de MetaReciclagem me deu ainda mais certeza de que podemos produzir muito mais nesse limite do caos do que se tivéssemos uma programação rígida. É claro que muita gente ficou decepcionada porque esperava um encontro mais organizado. É certo que, se tivéssemos demandas bem definidas a solucionar, um encontro nesse formato talvez não fosse a melhor solução. Mas o caso ali era outro: explorar possibilidades, proporcionar encontros, afirmar a identidade múltipla de uma rede. Conceber futuros coletivos e abertos. Menos concretizar ações específicas do que deixar as possibilidades fluírem para imaginar o que vamos querer fazer em seguida. Sob essa ótica, acredito que o Encontrão foi um sucesso. E imagino que exista aí uma lição para os Labs: além de postura ser mais importante do que infraestrutura, existem momentos em que o ritmo complexo da livre interação entre pessoas proporciona maior abertura do que um planejamento detalhado e rígido.
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.
Insisto há algum tempo que, em se tratando de labs experimentais, hoje em dia mais importante do que a infraestrutura é uma certa postura experimental (e sei que mais gente também pensa assim). Por um lado, é óbvio que essa afirmação sugere a crescente irrelevância de tantos projetos de laboratórios que dedicam (muito) mais atenção a computadores, câmeras e afins do que a criar dinâmicas para reunir pessoas e promover entre elas o intercâmbio e a construção coletiva. Por outro lado, reafirma a inventividade presente em arranjos temporários e auto-organizados, frequentemente informais e baseados na troca generosa e abundante. Mas como fazer para escapar às amarras do fazer cotidiano e da inserção em esquemas predefinidos, nos quais as pessoas já sabem como se portar? Como evitar que o momento do encontro seja somente um espaço de performance de rotinas individualmente ensaiadas e permita a troca real de influências mútuas?Uma das atividades mais concorridas do Labx que organizei no Rio em dezembro passado foi a mesa sobre Labs Nômades, que reuniu iniciativas vindas de diversos contextos institucionais e localidades. Grande parte delas atua de maneira diversa do que geralmente se espera de "laboratórios de mídia": ocupam o espaço público, firmam parcerias com organizações locais, fazem reuniões em cafés ou botecos, desenvolvem estruturas móveis, organizam-se de maneira improvável e depois desaparecem. Em comum têm a pulsão da criação, frequentemente superando - ainda que temporariamente - a precariedade, adaptando-se a quaisquer condições que se apresentem. Geralmente, produzem muito mais do que projetos institucionais com recursos muito mais vultosos. Parte de sua força vem da inventividade de formatos de agrupamento. Labs em movimentoAqui no meu canto, de onde observo essas coisas emergirem, espero que os labs contemporâneos (que vão ativar o pós-digital?) tenham entre seus objetivos gerar soluções para um mundo melhor. De preferência com base em tecnologias livres e dialogando com grandes estruturas que já existem, incluindo os programas de inclusão digital de grande escala, que ainda acredito terem um grande potencial de reinvenção. Nesse particular, repito outra vez o que falei mês passado na Virada Digital em Paraty: cada sala de informática em escola, telecentro, ponto de cultura ou similar tem o potencial de se tornar um criativo laboratório experimental. Basta uma sutil mas importante inversão de expectativas: em vez de afirmar um uso específico das tecnologias, esses espaços deveriam concentrar-se em elaborar questões abertas sobre elas. Passar do ponto final à interrogação. Partir do pressuposto de que qualquer processo de formação orientado à exposição, avaliação e controle já começa defasado.A palestra em Paraty, aliás, foi importante - apesar de um pouco conturbada. Até uma semana antes do evento, eu estava agendado para falar às 14hs do sábado. Poucos dias antes, me remarcaram para as nove da manhã. Cheguei a comentar com a produção que é otimismo demasiado esperar que haja público tão cedo em um sábado, ainda mais em Paraty. Mas madruguei em Ubatuba para chegar a tempo. No horário marcado, disseram que teriam que adiar para às 13hs. Foi bom porque tive mais tempo para preparar a apresentação, além de ter encontrado um monte de amigos pelas ruas do centro histórico. Uma apresentação um tanto bizarra de artes marciais que ocupava o palco me atrasou mais um pouco, e ironicamente iniciei quase no horário originalmente previsto.Apesar de muita semelhança com a estrutura das Campus Parties, havia ainda outra vantagem na Virada: as pessoas ouviam o que se falava ao microfone. Rolou até alguma interação ao final da minha fala. Mais tarde, fora do palco, fui também apresentado a Álvaro, coordenador do curso de informática da Etec (Escola Técnica - Centro Paula Souza) de Ubatuba. Esse encontro foi providencial: duas semanas depois aconteceria o Encontrão Hipertropical de MetaReciclagem naquela cidade. A partir desse contato, articulamos algumas atividades em parceria durante o Encontrão, que acabou se tornando um grande laboratório aberto - informal e dinâmico, seguindo os desejos e intenções das pessoas por ali e desapegado de cumprir obrigações formais comuns em eventos do tipo. Contei mais sobre o Encontrão no blog Ubalab, mas destaco aqui um trecho: "Parte do grupo foi ao centro comprar vegetais e peixes para o almoço (atividade coletiva que tomou boa parte da tarde). Outrxs montaram em um dos quiosques da Fundação um laboratório onde se dedicaram a montar antenas para tentar escutar navios ou interferências em satélites, um radiotelescópio feito com uma daquelas mesas de plástico de boteco, experiências com redes sem fio, uma oficina aberta sobre Openstreetmap e outras experiências espontâneas. Um grupo de alunos da Etec chegou em uma van, instigados para continuar o ritmo da tarde anterior. A página com a programação do Encontrão foi, como alguns de nós já esperávamos, mais uma declaração de intenções do que um mapa de atividades e horários. As conversas que tinham sido planejadas para os dois dias foram condensadas em um momento à noitinha, puxadas por Henrique Parra. Iluminado por uma verdadeira gambiarra (no sentido português) e por um datashow apontado ao chão, um círculo de gente fez uma conversa aberta sobre temas diversos: Ubatuba, juventude, cenário político local, mata atlântica, redes autônomas, sonhos, desejos e projeções. Fiquei feliz quando os alunos da Etec se colocaram (principalmente a menina que falou indignada que 'a juventude de hoje só quer saber de jogar CS e ver tirinha no facebook'). Na manhã de domingo, alguns alugaram bicicletas e dizem ter rodado 36km pela cidade, coletando trilhas de GPS que vão alimentar o mapa da cidade no OSM. O coletivo Mutgamb fez uma reunião de trabalho, enquanto outros grupos se espalhavam pelas praias e bairros da cidade."No que toca à reflexão sobre Labs, o Encontrão de MetaReciclagem me deu ainda mais certeza de que podemos produzir muito mais nesse limite do caos do que se tivéssemos uma programação rígida. É claro que muita gente ficou decepcionada porque esperava um encontro mais organizado. É certo que, se tivéssemos demandas bem definidas a solucionar, um encontro nesse formato talvez não fosse a melhor solução. Mas o caso ali era outro: explorar possibilidades, proporcionar encontros, afirmar a identidade múltipla de uma rede. Conceber futuros coletivos e abertos. Menos concretizar ações específicas do que deixar as possibilidades fluírem para imaginar o que vamos querer fazer em seguida. Sob essa ótica, acredito que o Encontrão foi um sucesso. E imagino que exista aí uma lição para os Labs: além de postura ser mais importante do que infraestrutura, existem momentos em que o ritmo complexo da livre interação entre pessoas proporciona maior abertura do que um planejamento detalhado e rígido. Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo. -->Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/72Os céus sobre o Rio

No início de março, fui convidado pela organização do Circuito arte.mov a participar de sua programação no Rio de Janeiro: um debate na capital - após a oficina de mapeamento aéreo com Andres Burbano -, seguido no dia seguinte de uma incursão à Nuvem, hacklab rural em Visconde de Mauá - que também sediaria a mesma oficina. Eram atividades que me interessavam porque ligadas àquilo que no Labx do Festival CulturaDigital.Br eu tinha chamado de "cartografia experimental". Na época, até havíamos tentado trazer Burbano para o Labx. Ele havia participado do arte.mov em 2010, quando desafiou os organizadores locais a trabalharem "a arte de voar" como tema exploratório para alguma edição futura do evento. A programação que acompanhei no Rio estava moldada por esse desafio.

Cheguei na tarde de sexta-feira e fui direto ao espaço onde aconteceria o evento - um daqueles lugares do Rio que deixam a gente sem fôlego pela composição de construção e paisagem. No topo de Santa Teresa, o Parque das Ruínas é uma antiga mansão transformada em espaço cultural. Estruturas de metal fundem-se a paredes com tijolos expostos, em cujas frestas se instalam samambaias. Do antigo sótão, tem-se uma visão panorâmica - Centro, ponte Rio-Niterói, zona sul, Cristo Redentor e floresta.

Desviei da multidão de turistas trajados de bermudas, meias e papetes que acabava de descer de mais um ônibus fretado, subi a escada e encontrei o pessoal envolvido com a oficina. Acompanhados por um número de participantes - Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, ambos articuladores da Nuvem, em Mauá - acompanhavam Andres Burbano, artista e pesquisador colombiano residente nos Estados Unidos (que eu entrevistaria no dia seguinte). Burbano trouxe da interação com o Grassroots Mapping o know-how da criação de balões a partir de um material inusitado. Os "cobertores de sobrevivência", utilizados para minimizar a perda de calor do corpo em situações de emergência, são retângulos de cerca de dois metros por um e pouco, feitos de um filme de poliéster reflexivo. É um material extremamente leve, barato e relativamente resistente.

Subi ao terraço, onde encontrei Lucas Bambozzi e Fernando Velázquez, que coordenavam as ações do dia. Lucas também estava envolvido com a Breve História do Agora, apresentação do grupo FAQ que aconteceria à noite no auditório do local. Circulei um pouco para conhecer melhor o Parque e voltei ao espaço da oficina, onde já testavam o equilíbrio do balão.
Eu perdi o começo da oficina no Rio, então relato o processo que vi dois dias depois em Mauá. O primeiro passo é prototipar em papel esquemas de dobraduras que permitam montar balões a partir desses cobertores. Em seguida, são montados os balões propriamente ditos, utilizando-se bastante fita adesiva e barbantes. Depois, cada balão é enchido para testes - com um aspirador de pó invertido ou um secador de cabelos - quando verificam-se eventuais vazamentos, seu equilíbrio e a sustentação. Por fim, um cilindro de hélio comprimido é utilizado para encher o balão, e prende-se na base dele uma câmera, geralmente dentro de um saco plástico transparente. Não é qualquer câmera: Burbano utiliza os modelos que permitem a instalação do CHDK - firmware alternativo que permite controlar diversas opções avançadas, mesmo em câmeras de baixo custo. A câmera é configurada (ou ajeitada, com uma bela gambiarra que utiliza atilhos e um pedacinho de madeira) para fazer fotos contínuas, e o balão é lançado ao ar preso por um barbante. A ideia é fazer suficientes fotos aéres que permitam a composição de mapas do entorno.

No Rio, o balão foi solto com alguma pressa. A noite se aproximava, o que ameaçava a captação de imagens com luminosidade suficiente. Quando finalmente alçou voo, foi uma festa. A empolgação no sótão da antiga mansão lembrava um bando de crianças soltando sua primeira pipa. A impressão era reforçada pelo forte vento que soprava lá em cima - o primeiro balão chegou a escapar do fio, para ser recuperado alguns minutos depois em uma casa vizinha. Mais uma tentativa, e aí tudo funcionou bem. O balão fez alguns voos (um OVNI fantástico, emoldurado pela paisagem da cidade maravilhosa) e gerou centenas de imagens, ou mais. Em um dos últimos voos um helicóptero passou e voltou. Alguém falou "olha a aeronáutica chegando pra acabar com a brincadeira". Mas era só algum curioso: na aproximação frontal, vimos um braço acenando lá de dentro, antes do helicóptero sumir a caminho de Botafogo.
A noite caiu e começamos o debate, um "fórum de apresentação de ideias e projetos". Assim que ligaram o projetor, som, refletores e outros equipamentos, a energia caiu. Aparentemente, a rede não segurava a carga. Começamos na voz livre, depois voltou o projetor e por fim e microfone. Paola Barreto mostrou diversas explorações a partir de câmeras de vigilância, envolvendo intervenções com atores e outras ações. Léo Póvoa e Ricardo Cutz falaram sobre projetos, em especial o AM/PM, aplicativo para smartphones que mede o tempo de trabalho material em tempos de dependência de redes informacionais. Em seguida foi Lea Rekow, gringa baseada no Rio. Ela tem um projeto na Rocinha, dedicado a criar jardins em áreas livres, que se utiliza de smartphones para identificar trilhas percorridas e encontrar pontos com potencial para se tornarem novos jardins. Em seguida eu contei um pouco sobre a MetaReciclagem e sobre minhas intenções em Ubatuba com o núcleo Ubalab. Tentei apresentar a ideia (ainda, e até hoje, pouco mais do que um esboço à espera da possibilidade de maior dedicação) de coletar dados sobre o trajeto que faz o lixo doméstico coletado na cidade até chegar a Tremembé, no alto da serra - depois de percorrer mais de cem quilômetros nos quais deixa um rastro de fumaça de diesel e cheiro de chorume. Após as apresentações, acabei ficando incumbido de mediar o debate. Na sequência, assistimos à apresentação do grupo FAQ e saímos para jantar em um restaurante de Santa Teresa.
No sábado, nos reunimos - eu, Cinthia, Andres, Rodrigo Minelli, Lucas e Velázquez - para o trajeto até a Nuvem. Bruno já havia ido, de carro. Embarcamos na van, que tomou um rumo estranho. Descobrimos que o motorista-empreendedor tinha entendido que queríamos ir até Mauá, bairro de Magé, na área metropolitana do Rio. Era por isso que ele tinha dito que não precisava de hospedagem - imaginou nos deixar lá e voltar no mesmo dia para casa. Negociou com a patroa pelo celular e topou a viagem mais longa. Percorremos a Dutra, pegamos a saída para Penedo e subimos a serra. No trajeto final, conversei bastante com a Cinthia sobre a ideia do "hacklab rural" e todas suas implicações. O clima ali já era o tropical de altitude - araucárias, quaresmeiras, mata atlântica com uma umidade mais gelada. Cinthia apontou o rio que faz a divisa com Minas Gerais. Toda a região - Mauá, Maromba, Maringá - tem cerca de seis mil habitantes. População rural tradicional, esotéricos, neorrurais e outros. Gravei alguns trechos, que vou transcrever quando possível. Encontramos um monte de pontos em comum entre a realidade e as projeções deles em Mauá e meus próprios anseios em Ubatuba.
Chegamos no meio da tarde, debaixo de chuva. A van quase não chegou a nosso primeiro destino: o restaurante Truta na Floresta. Trutas em várias apresentações, com diversos molhos e acompanhamentos. Marcus Bastos e Lula Fleischmann nos aguardavam por lá. Depois do almoço, fui no carro com Bruno, Cinthia e Velázquez. No meio do caminho, percebemos que um pneu estava furado. Para satisfazer plenamente a lei de Murphy, a chuva continuava forte. Trocamos pelo estepe, e finalmente tomamos a direção do Vale do Pavão.
Chegamos na casa para descobrir que a energia tinha acabado, provavelmente por causa da chuva. Conheci as instalações aos poucos, à base do tato, tropeços e luz de velas. A Nuvem, em sua atual encarnação, é um lugar aconchegante, cercado por um jardim amplo. Lá no fundo, ouve-se o som de um córrego. Do outro lado, um galpão que abriga a composteira. A casa é ampla e confortável - sala grande, lareira, mesa de jantar, quartos e banheiros arrumados, uma bancada com computadores. Lula e Cinthia contam que os primeiros residentes da Nuvem chegaram e perguntaram "onde fica o laboratório", ao que elas responderam: "dentro do armário". Não era em sentido figurado - a despensa comporta um monte de ferramentas, aparelhos e materiais eletrônicos. A conexão à internet - que naquela noite só funcionaria mais tarde, quando a energia voltou - é lenta, pelo que eles recomendam que as pessoas levem todos os arquivos que precisam para qualquer atividade. Mas o silêncio e o clima de cooperação dentro da casa compensam a baixa conectividade.
Em frente à lareira, sob goles de cachaça artesanal, conversamos bastante sobre possibilidades de novos projetos, trocando referências e articulando algumas ações. Comentei sobre a necessidade de sistemas de informação ambiental e gerenciamento de emergências. O pessoal do arte.mov fez experiências com seu recém adquirido AR Drone. Foram diversas tentativas de controlar o drone, até que identificaram o que não funcionava. No dia seguinte, uma tentativa de sobrevoar a casa daria errado. Em determinado momento, o motorista da van perguntou "alguém aqui é casado? Vocês fazem isso em casa?". O limite da brincadeira, do comportamento geek de meninos com seu brinquedo novo, da exploração de novos imaginários. Lucas mostrou as impressionantes imagens de um protesto na Polônia capturado em vídeo além da barreira policial por um desses drones. Um monte de implicações aqui: o fim do monopólio das imagens aéreas tomadas em tempo real durante acontecimentos relevantes, mas por outro lado um certo incômodo com a crescente popularidade desse tipo de tecnologia. Já antevi um monte de usos questionáveis desse tipo de coisas. Mantenham suas janelas fechadas!
 Ao fim da conversa, chegamos (como talvez fosse esperado) ao tema mobilidade como denominador comum de diversas iniciativas a serem desenvolvidas no futuro. A Nuvem havia armado com parceiros locais um jantar baseado em "alimentação viva": gergelim desperto, purê de inhame, shimeji rosa, kibe de forno com abóbora e outros quitutes naturais.
Ao fim da conversa, chegamos (como talvez fosse esperado) ao tema mobilidade como denominador comum de diversas iniciativas a serem desenvolvidas no futuro. A Nuvem havia armado com parceiros locais um jantar baseado em "alimentação viva": gergelim desperto, purê de inhame, shimeji rosa, kibe de forno com abóbora e outros quitutes naturais.
No domingo, nos concentramos no espaçoso ginásio da escola pública de Mauá para outra oficina de mapeamento aéreo. Bastante gente da cidade participou, criou e inflou os balões, prendeu a câmera e saiu fazendo imagens. Ao contrário da oficina no Parque das Ruínas, espaço ali não era um problema: em frente à escola, um grande gramado permitia voos cada vez mais audaciosos... que acabaram com dois OVNIs perdidos no céu da Serra da Mantiqueira depois que suas linhas arrebentaram. Eles carregaram consigo centenas ou milhares de imagens, que talvez alguém ainda encontre. Fica como nossa contribuição aos mistérios de Mauá.
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.
var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Os céus sobre o Rio'; var flattr_dsc = '
No início de março, fui convidado pela organização do Circuito arte.mov a participar de sua programação no Rio de Janeiro: um debate na capital - após a oficina de mapeamento aéreo com Andres Burbano -, seguido no dia seguinte de uma incursão à Nuvem, hacklab rural em Visconde de Mauá - que também sediaria a mesma oficina. Eram atividades que me interessavam porque ligadas àquilo que no Labx do Festival CulturaDigital.Br eu tinha chamado de "cartografia experimental". Na época, até havíamos tentado trazer Burbano para o Labx. Ele havia participado do arte.mov em 2010, quando desafiou os organizadores locais a trabalharem "a arte de voar" como tema exploratório para alguma edição futura do evento. A programação que acompanhei no Rio estava moldada por esse desafio.

Ciência cidadã - conversa com Andres Burbano

No começo de março aconteceu a etapa do Rio de Janeiro do circuito Arte.mov, evento que se define como um “espaço para a produção e reflexão crítica em torno da chamada 'cultura da mobilidade'”. A programação contou com debates e apresentações no Parque das Ruínas, na capital fluminense, além de uma oficina de cartografia experimental com o artista e pesquisador colombiano Andres Burbano. A oficina seria realizada novamente no dia seguinte, na Nuvem, Hacklab Rural em Visconde de Mauá – na região serrana entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Burbano desenvolve atualmente na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, EUA, sua pesquisa de doutorado sobre a história das tecnologias de comunicação na América Latina. Ele explora a interação entre ciência, arte e tecnologia, experimentando com possibilidades de desenvolvimento da chamada “ciência cidadã”. A oficina que realizou no Rio e em Mauá tratava de mapeamento aéreo a partir de câmeras digitais presas a balões feitos à mão. Cada balão flutuava por alguns minutos, fazendo fotos que depois seriam utilizadas para gerar cartografias colaborativas da região. Conversamos por alguns minutos, acompanhados dos artistas Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, que coordenam a Nuvem junto com Luciana Fleischmann. A conversa começou durante a oficina de mapeamento aéreo.
de março aconteceu a etapa do Rio de Janeiro do circuito Arte.mov, evento que se define como um “espaço para a produção e reflexão crítica em torno da chamada 'cultura da mobilidade'”. A programação contou com debates e apresentações no Parque das Ruínas, na capital fluminense, além de uma oficina de cartografia experimental com o artista e pesquisador colombiano Andres Burbano. A oficina seria realizada novamente no dia seguinte, na Nuvem, Hacklab Rural em Visconde de Mauá – na região serrana entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Burbano desenvolve atualmente na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, EUA, sua pesquisa de doutorado sobre a história das tecnologias de comunicação na América Latina. Ele explora a interação entre ciência, arte e tecnologia, experimentando com possibilidades de desenvolvimento da chamada “ciência cidadã”. A oficina que realizou no Rio e em Mauá tratava de mapeamento aéreo a partir de câmeras digitais presas a balões feitos à mão. Cada balão flutuava por alguns minutos, fazendo fotos que depois seriam utilizadas para gerar cartografias colaborativas da região. Conversamos por alguns minutos, acompanhados dos artistas Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, que coordenam a Nuvem junto com Luciana Fleischmann. A conversa começou durante a oficina de mapeamento aéreo.
Felipe Fonseca: O que isso tudo tem a ver com ciência?
Andres Burbano: A ideia da oficina com os balões é explorar a ciência cidadã. Como o cidadão comum - você, eu, o professor ali - pode projetar de forma barata experimentos que ajudem a tomar decisões, pressionar o governo, entender onde estamos.
FF quero entender essa inflexão da ideia de ciência com o cidadão. A tal ciência hacker, ciência livre. Nesse campo de fronteira, qual é o limite? O que é considerado dentro da ciência, ou fora dela? Em certo sentido, a ciência é um sistema internacional de comunicação...
AB Isso. Um sistema interessante, mas não perfeito. Um dos problemas que tem a ciência como instituição (e é um problema da ciência na Europa, EUA e Japão, não só aqui na América Latina) é que ela perdeu o contato com as pessoas, com o cidadão comum, com o cotidiano. Tem um discurso muito elevado que não se conecta ao cidadão. E o cientista diz "As pessoas não estão interessadas no meu trabalho. Como é possível?". Mas ele mesmo não faz um esforço para se conectar a elas. Esse gap não é só do cientista. É nosso também. Pense na ferramenta que a gente está usando agora, a fotografia digital. Há 10, 20 anos era inacessível, mas já estava lá. Agora temos uma câmera de 60 dólares, potencialmente mais barata, modificada com software livre, para usar como quisermos.

FF Mas voltando à articulação disso com o aspecto de “cidadão”... existe o âmbito do conhecimento tradicional, o homem que vive do campo e sabe a melhor época para a colheita, quando plantar, os sinais do clima, etc. Isso pode ser considerado conhecimento técnico aplicado. Qual a diferença disso para a ciência?
AB Em primeiro lugar existe o aspecto metodológico. Não afirmo que toda ciência se reporte ao método científico, o que seria um equívoco. Mas tem um aspecto metodológico importante: testar, retornar e fazer. E a ciência tem a mente da dúvida. Isso é muito importante. Com esse tipo de experimento, precisamos evitar que a motivação converta toda a intuição em certeza. É como eu trabalho, por exemplo. Eu trato de comunicar, de desenvolver uma interface entre o conhecimento científico muito especializado e experiências comuns.
FF De onde veio esse interesse? Sei que pesquisas a história da ciência na América Latina, mas ao mesmo tempo buscas colaborar com coisas que estão além da ciência - na arte, na educação, engajamento social. Por exemplo, essa experimentação com balões poderia ser feita totalmente dentro da universidade. O que te move a buscar colaborações fora dela também?
AB Sou uma pessoa de interface. Trabalho na interface entre ciência e arte, entre universidade e comunidade. Eu comecei a compreender isso bem quando estávamos trabalhando no projeto Bogotá Wifi, modificando antenas de TV pra fazer wifi público. Outros grupos similares estavam seguindo o modelo hacker: faça-você-mesmo, em rede. Mas eu parei um momento e falei: "fizemos tudo que está no website, mas como vamos testar se a antena está realmente funcionando?" Então convenci alguns cientistas com os laboratórios apropriados para testar antenas, para que nos ajudassem a selecionar quais antenas funcionavam melhor. E fez uma diferença incrível, porque eles tinham os instrumentos. E ficaram interessados no que a gente fazia.
FF Por quê?
AB Porque eles têm um mundo científico muito chato.
FF E imagino que uma sensação de distanciamento, de não ter impacto na realidade. Mas deixa eu perguntar uma coisa: por que falas sobre cientistas como “eles”?
Cinthia Mendonça: Eu acho que seus trabalhos são muito científicos.
AB Sou pesquisador, é diferente.
CM O que é um cientista?
FF É, o que te difere de um cientista?
AB Acho que a formação metodológica. E o trabalho metodológico de aproximação ao problema. Eu me aproximo ao problema principalmente com curiosidade e depois me envolvo afetivamente. ..
FF Talvez teu resultado esperado seja não necessariamente uma afirmação, mas sim outras perguntas, em vez de ansiar por respostas?
AB Pode ser. Minha tese de mestrado foi dialogar com cientistas da neurologia. Era um documentário online. Eu li muito, o suficiente para poder extrair perguntas que fizessem sentido pra eles. E depois voltava a perguntas mais básicas. Uma recorrente era “qual a principal questão científica que te move?” E pra minha surpresa havia alguns que não sabiam dizer. Estranhavam a pergunta. Diziam: “já falei, trabalho com tal coisa, um elemento químico que em microssegundos, pode explicar como acontece a sinapse”. Outros diziam: pra mim a questão é como o cérebro computa.
FF Um certo distanciamenteo causado pela hiperespecialização? No momento em que a pessoa começa a fazer as coisas de uma forma mecânica, e a pergunta inicial, o que aproximou ele daquele assunto, sumiu?
Bruno Vianna: Depois do insight você passa a repetir a mesma coisa mecanicamente o resto da vida .
FF Eu queria te ouvir também sobre a aproximação entre ciência e cultura hacker: software livre, cultura livre, redes. E tem um ponto interessante: a ideia de compartilhar documentação, publicar com licenças livres, é presente nas culturas emergentes da internet. Por sua vez, a internet tem uma influência do mundo da ciência, uma influência acadêmica, muito forte.
AB Sim, a WWW foi criada para compartilhar conhecimento científico.
FF Exato. E como essa influência da ciência como protocolo de comunicação volta para a própria ciência a partir da cultura da internet, que adota um discurso sobre a necessidade de flexibilizar a prática científica?
AB O que eu vejo é isso, que a ciência tem um sistema por vezes estruturado demais. E ela não consegue cobrir tudo que poderia, ou idealmente deveria, cobrir. E assim necessita que outros níveis da sociedade estejam ali. Porque o cientista não pode e muitas vezes não quer ocupar aquele espaço. Nos EUA, no momento, se está encarando um problema seriíssimo. Uma grande parte da sociedade não acredita nos cientistas de modo geral. Não porque a ciência não dê resultados, ou porque deu origem à bomba atômica. Não creem por motivos religiosos, e em parte isso é projeto político consciente do Partido Republicano. Afirmam que dados científicos que comprovam a seleção natural são mentira. E estão influenciando o conteúdo das escolas. Então a discussão vai tão longe que surge hoje a pergunta: “você concorda que a evolução seja ensinada nos colégios”? Quando a pergunta necessária deveria ser: “você concorda que o criacionismo seja ensinado”? Porque a escola existe para uma educação científica, para disseminar conhecimento. Por que isso acontece? Porque o sistema cientifico não conseguiu manter uma maneira de se comprometer com a sociedade de maneira ótima. Construiu sim para dentro, para legislar, validar conhecimento. Um sistema sofisticado, muito interessante, com a revisão de pares e tudo mais. Mas ao ponto de vista da sociedade não conseguem mais voltar, não sabem como.

FF Essas iniciativas de cooperação entre ciência e outros campos podem ser um caminho interessante para buscar esse contato entre ciência e sociedade?
AB Sem dúvida. Principalmente na aproximação com a cultura hacker. O que o hacker traz é o sentido de comunidade. Não existe um hacker sozinho, como pode existir em outras práticas. A ciência cidadã, assim, vai compartilhar conhecimento, atribuir tarefas, mudar planos coletivamente. O perigo, do meu ponto de vista, é negar o valor do conhecimento do cientista experiente. O faça-você-mesmo tem limites. Quando se trabalha com um cientista experiente, ao qual se podem propor coisas, os limites desaparecem. Eu participei de um projeto de mapeamento arqueológico onde isso ficou claro. Encontramos uma pessoa que conhecia metodologias sobre como fazer o mapeamento do lugar por linhas, medindo ângulos de 90 graus pra saber a altitude de casa elemento. A princípio ficamos só olhando. Depois ele mostrou os dados, e estavam perfeitos. Não havia nenhum erro, nenhum problema. Ou seja, a gente precisa deles. E eles encontram o quê quando vêm para esse lado? Gente curiosa, que se interessa pelo trabalho deles. E isso para eles é incrível. Grande parte da sociedade não está interessada no trabalho científico.
FF Eu consigo entender um cientista no meio de carreira que se aproxime desses projetos porque encontra ali um respeito. Mas o cientista no topo da hierarquia, também tem interesse em colaborar com não-cientistas?
AB Tem, tem. Não todos. Mas eu vejo cada vez mais cientistas que veem as perguntas que a gente faz como interessantes. E que podem ceder tempo de seus laboratórios e deles próprios para explorá-las. Agora, em primeiro lugar é necessário aproximar-se com respeito. Em segundo, precisamos ter o mínimo de conhecimento pra negociar com eles. E terceiro, não podemos ter medo de perguntar coisas malucas. Quando você dá mais espaço para perguntas inusitadas, eles se surpreendem e prestam atenção.
Cinthia Mendonça tem o lugar da criatividade do artista, que é uma relação diferente... você consegue imaginar muitas coisas malucas.
AB Claro. Inclusive, os cientistas mais importantes do sécuo XX se posicionavam de maneira clara nesse sentido. Einstein falava que "para a inovação, a imaginação é mais importante que o conhecimento". E isso tem tudo a ver com ciência cidadã - a união de insight com método, que pode gerar inovação.
FF O que é inovação?
AB Eu trabalho com isso. É quando um processo ou aparelho inventado encontra eco na sociedade. A invenção pode ser individual e ficar só nisso. Para ser considerada inovação, precisa ter impacto, mesmo que numa comunidade específica.
BV E as patentes nisso tudo?
AB A patente tem uma história interessante. Originalmente, foi feita para proteger o trabalho. Por exemplo, "eu fiz esse copo que todo mundo copia”. Foi um trabalho que gerou valor, e isso deve ser devidamente atribuído. O problema é que no século XX se desenvolve um conflito. O conflito do inventor que se torna empreendedor, como Thomas Edison. A sociedade inteira muda com a eletricidade e isso gera um império. Em pouco tempo, a patente passa a ser instrumento de manutenção de privilégios. E se torna um problema - em vez de proteger ela acaba pelo contrário por bloquear a invenção.
BV Tem a questão do acesso ao sistema de patentes, que é muito caro ...
AB E isso vira uma questão do mundo jurídico. Muitas empresas de tecnologia hoje têm mais equipes de advogados do que de inovadores tecnológicos. Porque a patente é, claro, um problema legal e burocrático, mas também de argumentação.
BV Pois é. Nenhum invento é criado a partir do nada. A argumentação é necessária para convencer de que aquele invento específico tem uma diferença significativa em relação a milhões de coisas que já existem. Esse limite sobre a diferença relevante é muito discutível.
CM outra distorção é quando não é um invento, mas descoberta. Aconteceu com alguns frutos da flora brasileira que foram patenteados.
AB Eu li há pouco a patente americana da Ayahuasca, que acabou de vencer. É insultante, em todos os níveis. Como uma coisa biológica pode ser patenteada? Escrevi um pequeno artigo sobre isso. Na Colômbia a gente falava muito sobre isso, mas ninguém pensava em patentes. Falávamos sobre o processo, mas nunca a planta.
CM Como é possível patentear uma planta que existe?.
AB Ele ganhou os vinte anos da patente, mas houve tanta pressão social que não continuou o desenvolvimento de medicamentos. Mas legalmente ele estava protegido. A patente venceu em 2010. Mais uma vez: a patente, em vez de proteger a invenção, protege os interesses de corporações.
Esta entrevista foi realizada com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo. Publicada também na plataforma Arquivo Vivo.
var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Ciência cidadã - conversa com Andres Burbano'; var flattr_dsc = '
No começo de março aconteceu a etapa do Rio de Janeiro do circuito Arte.mov, evento que se define como um “espaço para a produção e reflexão crítica em torno da chamada 'cultura da mobilidade'”. A programação contou com debates e apresentações no Parque das Ruínas, na capital fluminense, além de uma oficina de cartografia experimental com o artista e pesquisador colombiano Andres Burbano. A oficina seria realizada novamente no dia seguinte, na Nuvem, Hacklab Rural em Visconde de Mauá – na região serrana entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Burbano desenvolve atualmente na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, EUA, sua pesquisa de doutorado sobre a história das tecnologias de comunicação na América Latina. Ele explora a interação entre ciência, arte e tecnologia, experimentando com possibilidades de desenvolvimento da chamada “ciência cidadã”. A oficina que realizou no Rio e em Mauá tratava de mapeamento aéreo a partir de câmeras digitais presas a balões feitos à mão. Cada balão flutuava por alguns minutos, fazendo fotos que depois seriam utilizadas para gerar cartografias colaborativas da região. Conversamos por alguns minutos, acompanhados dos artistas Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, que coordenam a Nuvem junto com Luciana Fleischmann. A conversa começou durante a oficina de mapeamento aéreo.
de março aconteceu a etapa do Rio de Janeiro do circuito Arte.mov, evento que se define como um “espaço para a produção e reflexão crítica em torno da chamada 'cultura da mobilidade'”. A programação contou com debates e apresentações no Parque das Ruínas, na capital fluminense, além de uma oficina de cartografia experimental com o artista e pesquisador colombiano Andres Burbano. A oficina seria realizada novamente no dia seguinte, na Nuvem, Hacklab Rural em Visconde de Mauá – na região serrana entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Burbano desenvolve atualmente na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, EUA, sua pesquisa de doutorado sobre a história das tecnologias de comunicação na América Latina. Ele explora a interação entre ciência, arte e tecnologia, experimentando com possibilidades de desenvolvimento da chamada “ciência cidadã”. A oficina que realizou no Rio e em Mauá tratava de mapeamento aéreo a partir de câmeras digitais presas a balões feitos à mão. Cada balão flutuava por alguns minutos, fazendo fotos que depois seriam utilizadas para gerar cartografias colaborativas da região. Conversamos por alguns minutos, acompanhados dos artistas Bruno Vianna e Cinthia Mendonça, que coordenam a Nuvem junto com Luciana Fleischmann. A conversa começou durante a oficina de mapeamento aéreo.
Sobre labs e futuros
A ideia de labs autônomos como espaços privilegiados para a experimentação e o desenvolvimento de fronteira entre arte, ciência, educação e sociedade tem encontrado eco em diversas iniciativas no mundo inteiro. Isso se deve à rearticulação desse tipo de experimentação, cada vez mais dinâmica e enredada. Com a maior disponibilidade de infraestrutura, o laboratório passa a ser menos um espaço físico do que uma atitude coletiva: a disposição de exercitar novos modos de relacionar pessoas, informação, sociedade e o planeta. Não é exagero sugerir que o encontro de duas pessoas em um lugar aleatório pode configurar um lab espontâneo.
É difícil traçar uma linha para definir onde e quando o lab começa ou acaba, ainda mais com dispositivos móveis conectados através de redes sem fio. Essa vaporização dos labs, somada à grande diversidade de propostas que têm surgido, traz por vezes a dificuldade em entender sua atuação, metodologias, propósitos e papéis na sociedade. Além da nossa plataforma Rede//Labs aqui no Brasil, iniciativas têm se dedicado a essa reflexão em outros lugares do mundo. O Sommercamp que aconteceu em Berlim reuniu representantes de labs para debaterem por alguns dias questões conceituais e práticas. O Labtolab, de cuja edição em Madri tive a oportunidade de participar, promoveu encontros entre alguns labs de mídia europeus (e um monte de convidados especiais da América Latina) em busca de identificar pontos em comum, diferenças fundamentais e possibilidades de composição e intercâmbio. Um dos resultados inesperados do encontro foi o estímulo indireto (quase como contraponto) à criação do LabSurLab, encontro auto-organizado que teve sua primeira edição em Medelín no ano passado e deve se repetir em Quito no próximo junho. O encontro é aberto a quem se interessar, e está sendo planejado e articulado através da rede N-1. Nesse meio existe gente interessada em compor redes autônomas de labs. Attila Nemes, do Kitchen Budapest, montou com outras pessoas o MAPPA – um site georreferenciado que lista labs de mídia do mundo todo, para “compartilhar conhecimento, auxiliar com colaborações e apoiar uma rede de alcance mundial”. Alguns brasileiros já estão se cadastrando por lá, e o mapa está tomando corpo. Diversos eventos e festivais tratam de concretizar essa rede, estabelecendo e mantendo os laços entre seus integrantes.
Já o pessoal dos Baltan Laboratories de Eindhoven organizou um encontro e uma série de debates sobre Labs, e publicou dois livros importantes: The Future of the Lab (O Futuro do Lab) e A Blueprint for a Lab of the Future (Uma Planta para um Lab do Futuro). O Future of the Lab compila parte da documentação do encontro realizado em 2009. Já comentei sobre essa documentação em outro artigo.
O livro tem relatos bastante diversos, ricos porque se referem a diferentes experiências concretas. Já no Blueprint eu encontrei algumas contradições. O livro começa com uma crítica bastante direta às tais indústrias criativas, mas tem uma seção inteira que pode ser lida como portfólio, falando sobre a produção própria dos Baltan Laboratories. Esta seção do livro se enquadra totalmente no modelo que eles mesmos criticam: repete o tempo todo o nome das boutiques criativas que compõem o conselho artístico do lab, tem um relacionamento um tanto subserviente e de pouco questionamento com a megacorporação da cidade (Philips), e suas propostas têm uma forte vertente comercial. O “futuro” que projetam não me empolga nem um pouco, com criações assépticas e por demais abstratas. Senti falta de um monte de questões do mundo real por ali. Não vi nada sobre imigrantes, alienação política da sociedade, lixo, recursos naturais, disputas de vizinhança. A crise financeira só aparece como causa dos cortes orçamentários, mas nada se fala sobre a financeirização da vida ou sobre consumismo. Nessa parte do livro, o software livre aparece quando muito esporadicamente. Por sorte, o restante concentra-se mais nas questões conceituais, metodológicas e contextuais dos labs em si, e aí sim consegui encontrar algumas coisas boas.
Mesmo com a insistência deles em tratar essencialmente do “lab de mídia” – uma construção que já tratamos de criticar por aqui em favor de uma perspectiva mais ampla de laboratórios experimentais. Ao longo da leitura dos dois volumes fiquei pensando – uma vez mais – sobre o papel do lab (da postura de lab) na cidade. Como fazer para relacionar-se com problemas reais? Como ir além de atuar somente em um nicho pequeno e autorreferente – dentro do armário da sociedade, na gaveta da cultura onde fica a caixinha da arte, e lá um envelope da mídia-arte, onde está um papelzinho dobrado que fala sobre cultura livre, participativa, humanista, solidária? Sem falar que esse pequeno bilhete já está totalmente rabiscado com relações de poder, representação e legitimação. Não me interessa esse pedaço de papel. Me interessa sim saber como esses assuntos podem sair da caixinha, da gaveta, do armário e chegar à sociedade como um todo. O meu lab, a minha postura de lab, precisa ser fundamentalmente política e transformadora. Como fazer isso sem espantar as pessoas com interesses mais rasos, mas que ainda assim podem trazer colaborações relevantes?
O espaço ostensivo que o Blueprint reserva à promoção da produção artística de seus integrantes me incomodou um pouco. Me pareceu inadequado, menos “futuro” do que recaída em mecanismos mercadológicos já bem conhecidos. Mas isso deve estar ligado às particularidades e necessidades do espaço da economia em que eles se inserem lá na Holanda, com todas suas regras e enquadramentos. A plataforma Rede//Labs surgiu de um contexto diferente: a reflexão sobre o que parecia emergir como o reconhecimento institucional de uma cultura digital brasileira, e a tentativa de avançar o debate sobre estruturas e modelos para fomentar essa produção cultural. Por aqui muita coisa mudou nesses últimos dois anos, mas ainda quero retomar essa linha de pesquisa de maneira mais estruturada. Como já sugeri diversas vezes, temos a possibilidade de moldar os nossos futuros. Como eles vão ser?
Recortes de leitura
Vou ignorar a mensagem de copyright que consta em ambos os livros (“© BALTAN Laboratories, os autores, 2010. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônicos, mecânicos, fotocópias, gravação ou de outra forma, sem a prévia autorização por escrito do editor”) e entender o que segue como uso justo. Compartilho abaixo uma seleção de trechos que achei particularmente relevantes, em tradução livre.
O Futuro do Lab
“Parece que o lab de mídia vem tendo um revival auto-reflexivo. ‘Os labs voltaram’, escreveu Juha Huuskonen no blog Pixelache em Março de 2010. Por que agora? E voltaram de onde? Desde a criação do Media Lab do MIT em 1985 e da proliferação de labs e programas de mídia-arte nos anos noventa (Ars Electronica Futurelab, V2_Lab, ZKM, para citar alguns), fica claro que as condições e papéis dos labs de mídia passaram por mudanças significativas. Com a tecnologia mais acessível, a arte tecnológica uma disciplina mais madura, e as condições de interconexão afetando radicalmente a maneira como trabalhamos, estamos em um momento que necessita um questionamento determinado dos papéis, formas e potencial do lab de mídia de hoje. Qual é o futuro do lab?” Angela Plohman, Introdução, p. 9
“Critérios convencionais são insuficientes para determinar se [os laboratórios experimentais] funcionam ou não.
(…) Se os labs de mídia do futuro querem gerar avanços significativos, eles devem assumir riscos extraordinários e ter a disposição de errar na maior parte do tempo.” Edward A. Shanken, A História e o Futuro do Lab, p. 23
“Como Florian Schneider observou, ‘Colaborações são os buracos negros dos regimes do conhecimento. Eles produzem de bom grado inexistência, opulência e comportamento esquisito. E é sua própria vacuidade a sua força… ela não envolve a transmissão de algo desde aqueles que têm para aqueles que não tem, mas pelo contrário põe em funcionamento uma cadeia de acessos imprevistos’. É nestes buracos negros de vácuo que os labs do futuro devem ousadamente mergulhar, deixando o imprevisto emergir em seu nada opulento. Entretanto, em um contexto cultural que é mediado por uma mentalidade objetiva que demanda justificativas em relatórios trimestrais, os labs experimentais devem facilitar a tradução não apenas entre artistas e cientistas como também entre visionários e contadores.” Edward A. Shanken, idem, pp. 29-30
“… o que nos une aqui é a diferença, não necessariamente uma base em comum.” Andreas Broeckmann, O Case da Tesla, p. 43
“O LABtoLAB explora entre-espaços (“in-between spaces”). Ao contrário de oposições claras como amador-profissional, iniciante-especialista, arte-ciência ou sucesso-fracasso, campos de operação como experimentar, improvisar, brincar-jogar (“playing”), colaborar, fuçar (“tinkering”) estão abertos à apropriação para propósitos múltiplos. Essas abordagens se reposicionam constantemente no meio do caminho (“in-between”), servindo como caixas de areia, campos de teste e quadros-negros para o aprimoramento de habilidades e profissões ligadas a mídia. Um lab de mídia pode hospedar essas formas de reposicionamento dinâmico – como incubadoras acessíveis ao pensamento e à experimentação. O lab ou espaço de trabalho posicionado no meio do caminho faz o papel de ponte – um atributo essencial para mediar nossas práticas.”
(…)
“De certa forma, xs participantes do LABtoLAB poderiam ser vistxs como uma ‘comunidade de curiosidade’. Uma comunidade que envolve organizações curiosas em aprender a partir da prática umas das outras. Em muitas instâncias as pessoas ligadas ao LABtoLAB vestem muitos chapéus: professorxs, estudantes, amadorxs DIY, especialistas, artistas, operadorxs culturais, gerentes de projetos, programadorxs educacionais, oficineirxs, pesquisadorxs, educadorxs, cientistas da computação, administradorxs e mediadorxs, e como tais podemos aprender com nossas experiências diversas mas também compartilhadas.
(…)
O lab de mídia como existe hoje é precedido por diversas tipologias de espaços de trabalho e formas de institutos de pesquisa: a oficina de produção, o estúdio de artista e o lab de pesquisa, mas também o museu, o centro comunitário, a biblioteca e a escola. Hoje entendemos labs de mídia como organizações de pesquisa que procuram respostas para as demandas de uma sociedade da informação. Essas “demandas” não são recursos fixos nem são conhecidas e definidas por si mesmas. Elas dependem de contexto. Qual é o objeto de desejo, ou quem está perguntando? Estas questões podem ser consideradas desde perspectivas políticas, sociais, culturais e educacionais.
O surgimento da internet e da cultura digital geraram grandes expectativas por conta da simultânea desvalorização da noção de espaço público. A internet reformou o paradigma de espaço público. Uma grande parte da internet, especificamente tudo que está ligado à cultura livre, tornou-se um lab coletivo onde usuárixs podem se tornar colaboradoxs no processo de produção: a cargo de e preocupadxs com os contextos e ferramentas que usam.
(…)
“Um dos grandes desafios da era da informação é replicar os sistemas abertos da internet, como por exemplo o software livre, no espaço físico, ou seja, nas cidades. Aqui, os labs de mídia podem oferecer um potencial extraordinário como produtores de espaço público para experimentação coletiva, onde xs residentes de uma certa área podem explorar novas formas de organização, podem pensar juntxs sobre seus entornos e obter mais controle sobre os contextos que xs definem como usuárixs.
Em um sentido sociocultural, os labs de mídia oferecem ao público ferramentas para o compartilhamento de conhecimento, a socialização e a experimentação. O lab de mídia não funciona somente como provedor de conteúdo; labs de mídia são plataformas onde pessoas com repertórios diversos se encontram para trocar ideias e experimentarem juntas, desenvolvendo o tempo todo novos modelos para que essa própria troca continue a acontecer. Os labs de mídia aprimoram a ciência cidadã, o conhecimento gerado por comunidades de fazedorxs que não são especialistas reconhecidxs. O lab de mídia oferece um sistema onde especialistas profissionais reconhecidos colaboram com amadorxs, onde iniciantes podem tornar-se colaboradorxs, onde a participação pode ser forte ou fraca.” LABtoLAB, Laboratórios do meio do caminho, pp. 53-55
“Pergunta: Entrar na linguagem da inovação é uma armadilha?
- É uma armadilha. Eu gosto de usar o termo arte emergente para descrever pequenos novos organismos que estão se formando e ainda não são conhecidos. Vinte anos atrás, nós nos apropriamos da linguagem da inovação, da indústria e da economia. Nós usamos o termo indústrias criativas para alavancar oportunidades para as artes, mas é uma armadilha porque dessa forma os resultados da arte tornam-se produtos.” Melinda Rackham, Aprendendo com os modelos do passado, p. 61
“‘Somos relevantes?‘
Ainda não. Em um encontro hipotético com as pessoas mais proeminentes para nosso bem-estar, nós não estaremos à mesa. Não porque a arte em si seja subestimada em relação ao avanço humano, mas porque como pesquisadorxs, mesmo tão inter/entre/transdisciplinares quanto possamos pensar que somos, operamos em uma bolha transparente, com um ocasional buraco microscópico.
Somos atualmente irrelevantes. Legais, interessantes, inovadorxs – com certeza. Mas irrelevantes.
Apesar da crença popular, não estamos atuando como agentes de mudança. No grande esquema das coisas, somos quase insignificantes mesmo dentro de nossas respectivas culturas ou campos, sejam as assim chamadas novas mídias, a arte, a tecnologia ou o design. Nós não ‘descobrimos’, nós não ‘revolucionamos’, mesmo grande parte de nossas ‘explorações’ são repetitivas. No ponto atual somos efêmerxs, e precisamos pensar, nos organizar e agir de maneira diferente para nos tornarmos realmente significativxs.” Eyal Fried, ‘Pesquisa emDesign’ nos faz legais; ‘Design como pesquisa’ nos fará Relevantes, p. 97
“O lab estabeleceu-se originalmente como provedor de infraestrutura para seu time e para um novo tipo de nômade artístico: nômades que se mudavam como artistas em residência de um oásis de infraestrutura para o próximo, em busca de novas oportunidades para implementar seu trabalho. Hoje, entretanto, a mídia-arte, o design de mídia, a criação de novas tecnologias de mídia – resumindo, a produção de mídia – acontece cada vez mais longe desses oásis, não porque o lab não é mais um lugar atrativo, mas porque o espaço entre os oásis agora também está sendo pavimentado com uma infraestrutura apropriada. Conexões de banda larga com o consequente poder computacional de múltiplos computadores de grande porte, bem como as instalações para o processamento de mídia e acesso remoto ilimitado para especialistas de labs através de ferramentas de comunicação elaboradas – finalmente, são todxs propriedade comum. “Horst Hörtner, O Futuro do Lab, p. 108
“Se o lab quiser continuar mantendo sua indiscutível importância na sociedade, ele precisa se abrir. Isso é necessário por um lado para facilitar futuras formas artísticas, para continuar a olhar adiante, para reconhecer o discurso público e levar em frente a tarefa de mediação. Por outro lado, essa abertura evita o risco de acumular poeira. Tendo em vista os avanços tecnológicos vindouros, é de alta importância lidar com eles de maneira lúdica e reflexiva – um dos domínios do lab – e disponibilizar essas áreas futuras para tantos experimentos quanto for possível. É necessário acesso para desenvolver habilidades.” Horst Hörtner, O Futuro do Lab, p. 110
Uma planta para um Lab do Futuro
“Apesar da diversidade de laboratórios que trabalham com mídia, sociedade e tecnologia, é tentador imaginar um tipo universal de lab. Isso não somente é impossível, como também é importante notar que arte e cultura podem não necessariamente ser o foco de um lab de mídia universal. Labs artísticos na área da cultura precisam reconhecer isso, e precisam ser cuidadosos para não se referir seletivamente a um histórico amplo com uma agenda específica em mente. O MIT Media Lab, por exemplo, não é uma referência apropriada para a prática da mídia-arte, porque ele não tem um histórico cultural específico. Similarmente, um centro de arte com instalações para produção de mídia não constitui automaticamente um lab de pesquisa.
Sem entrar nos aspectos políticos do apoio do Estado à cultura, o impacto esmagador dos recentes cortes nas organizações de mídia-arte enfatiza a vulnerabilidade destas. Além disso, as atividades desenvolvidas em labs também poderiam ser vistas como tendo sido aceitas pela sociedade em geral de tal maneira que elas não são mais consideradas excepcionais.” Akau Tanaka, Situando-se na Sociedade: Plantas e Estratégias para Labs de Mídia p. 16
“… a natureza de instrumentalização das indústrias criativas pode de fato ser incompatível com o processo artístico. Enquanto isso, abrir a criatividade para além do domínio do artista e fazer um modelo mais democrático da prática criativa guarda um potencial enorme para benefícios sociais e é consistente com o foco comunitário de labs de mídia comunitários.” Akau Tanaka, Situando-se na Sociedade: Plantas e Estratégias para Labs de Mídia p. 19
“Ties van der Werff: Quão relevante é o compartilhamento da pesquisa artística para um lab de mídia como o Baltan?
Lucas van der Velden: Uma quantidade enorme de conhecimento é desenvolvida em pequenos labs e por artistas em suas casas, e uma tremenda quantidade não é documentada nem divulgada. Se alguém investe uma grande quantidade de tempo em descobrir a melhor solução para um certo problema, seria fantástico se você pudesse compartilhar esse conhecimento facilmente. Você vê desenvolvimentos assim acontecendo em universidades, mas não tanto entre artistas. O que nos move no Baltan não é tanto o compartilhamento dos produtos em si, a disponibilização de aplicações para todo mundo, mas abrir realmente a pesquisa que as pessoas estão fazendo.” Entrevista com Lucas van der Velden, p. 30
“-> Em termos de espaço – o Baltan decidiu durante a fase piloto que por razões práticas o espaço deveria ser flexível e grande o suficiente para permitir o teste de protótipos e para acomodar obras espaçosas. Era um espaço sem equipamentos nem técnicos. Um espaço como este somente se torna um lab de verdade através da pesquisa que é conduzida dentro dele, fazendo uso dos equipamentos próprios dos artistas, como laptops, monitores e cabos. (…) (O espaço) é uma interface de conhecimento, porque é um lugar onde artistas, pesquisadores, técnicos e o público podem encontrar uns aos outros. Faz-se uso intenso de todas as possibilidades oferecidas pelas modernas tecnologias de comunicação para compartilhar conhecimento, mas o local em si continua sendo o coração das atividades. A existência de um espaço físico – um lab onde o conhecimento está presente e onde existe a possibilidade de trocar conhecimento, testar o próprio conhecimento e adquirir conhecimento – ainda é uma maneira efetiva de fazer as pessoas trabalharem juntas.” Arie Altena, p. 103
“Hoje em dia a maior parte da tecnologia de que artistas necessitam está a seu alcance. Um compositor eletrônico não precisa mais agendar uma sessão em um estúdio eletrônico para realizar suas composições, e artistas computacionais não precisam mais recorrer ao uso de um computador em um escritório meteorológico por algumas horas a cada noite, como fez Manfred Mohr nos anos 1960. Agora os laptops são em geral poderosos o suficiente.” Arie Altena, p. 119
“Angela Plohman: Como vocês gostariam que o lab funcionasse para vocês como artistas?
Wendy Ann Mansilla: Nós vemos o lab como um lugar que nos permite libertar-nos de nossas vidas cotidianas. O lab pode envolver artistas em uma configuração particualr e permitir que a criatividade corra solta. Seja uma prática ou exploração em arte e ciência ou em outras disciplinas, um lab deve inspirar, levar os residentes a pensar não somente em arte, mas arte, ciência e a natureza ou o espaço público, todos funcionando em unidade – um lugar para experimentar, para ter bloqueios e descobrir outras direções. Um lab é um playground que move artistas a tentar novas coisas, explorar e socializar com outrxs. Na verdade, eu ficaria curiosa para ver um lab que funcionasse como uma biblioteca pública, que fosse aberto para todxs xs artistas que precisam de um espaço para experimentar ou contemplar.
Jord Puig: Eu gostaria de enfatizar a ideia de processo. Eu espero que um lab seja flexível a mudanças durante o processo de trabalho. Essa é a característica mais importante que diferencia um lab de outros ambientes. Eu também esperaria que um lab fosse transparente e acessível para acelerar a tomada de decisões durante a produção. E todo dia eu percebo mais e mais a relevância do programa que um lab enquanto instituição cultural oferece em conexão com um período de residência. Por exemplo, organizar uma oficina e uma exposição em conjunção com uma residência oferece um resultado muito mais progundao do que o modelo ‘trabalhe por um tempo e vá para casa’.” Entrevista com Wendy Ann Mansilla e Jordi Puig, p. 228
“Angela Plohman: E uma última pergunta que é menos específica: como vocês definiriam um lab?
Wendy Ann Mansilla: Um lab é mais um espaço de brincadeira (“play”) do que um espaço de trabalho, porque ele reconhece aqueles períodos de inatividade ou descanso como parte do processo criativo. Quem sabe quando as boas ideias acontecem? Pode ser em qualquer lugar: quando estamos tirando uma soneca, conversando, caminhando, ou bebendo uma xícara de café ou chá com outros residentes de um lab.
O trabalho de 1 artista não acontece dentro de um espaço fechado, mas dentro de um campo aberto de possibilidades; dentro de um lab que valoriza os resultados livres do descanso, trabalho e brincadeira (“play”).
Jordi Puig: Eu gostaria de acrescentar que os labs mudaram muito ao longo dos anos recentes por conta de desenvolvimentos em tecnologias de informação e comunicação. Agora os labs devem desenvolver uma experiência de vida real e um rastro eletrônico global. Eu diria que por causa dessas tecnologias os labs se tornaram muito mais poderosos – capazes de ativar indivíduos e sociedade. De fato, isso não deveria acontecer somente de forma eletrônica mas também em um espaço compartilhado, como a Wendy mencionou. Mas uma boa rede eletrônica deve ser criada para alcançar comunidades em uma grande área geográfica.
Um lab é um conjunto de recursos: um recurso público, equipamentos, fornecedores, contatos, visitantes e colaboradores, etc. É um ecossistema que deveria ser facilmente acessível em algum ponto do tempo e espaço. Estes recursos não são fáceis de criar mas são extremamente valiosos.” Entrevista com Wendy Ann Mansilla e Jordi Puig, p. 228
“Angela Plohman: Como vocês definiriam um lab e suas funções?
Aymeric Mansoux: Para mim, idealmente um lab deveria ser uma plataforma facilitadora, uma plataforma muito flexível que muda de forma dependendo do contexto que você precisa, um lugar que pode ser habitado por pessoas para desenvolver um projeto. Esse seria o lab ideal.
Marloes de Valk: Um lab é um espaço no qual experimentar, para desenvolver novas coisas e testá-las antes de lançá-las ao mundo. Isso significa que um lab é mais do que somente um lugar, ou uma coleção de equipamentos. Tambem se trata de criar o tempo necessário para a experimentação e a pesquisa, e estruturá-lo com conhecimento e infraestrutura para apoiar e disseminar o trabalho.”
(…)
Angela Plohman: No começo do seu projeto vocês propuseram trabalhar em um formato de “mutirões” (“sprints”) ao longo de um período de seis meses, o que significava estar fisicamente juntos por uma semana em cada um dos labs. Por que vocês escolheram trabalhar dessa forma? Quais foram os benefícios?
(…)
Aymeric Mansoux: Para responder em mais detalhe, eu gostaria de me referir rapidamente à ideia do lab de mídia-arte dos anos 1990. Para ser honesto, eu não sou muito afeito a esse tipo particular de lab de mídia. É uma das razões pelas quais nós começamos o coletivo GOTO10 há alguns anos. Aquele ‘anti-lab’ era muito focado em uma abordagem faça-você-mesmx: nós ensinávamos 1 a outrxs e organizávamos coisas juntxs. Nós queríamos evitar ter um lugar físico e estávamos mais interessados em colaborar com entidades especializadas que eram boas em alguma coisa. Nós não queríamos ter o tipo de espectro amplo de diferentes atividades e habilidades que a maioria dos labs e organizações de mídia-arte parecem oferecer. O risco desses ‘conglomerados’ é que você perde a flexibilidade exigida para o processo criativo, enquanto dentro de uma ‘ecologia’ – uma rede de organizações especializadas com pequenos grupos de trabalho – é mais fácil desmembrar o fluxo de trabalho e ser criativo com a colaboração. É isso que esperávamos dos mutirões (“sprints”). Nós poderíamos realmente combinar e explorar diferentes maneiras de trabalhar remotamente, e ficar mais focados na época das arrancadas. Eu realmente não acho que isso teria sido possível no contexto mais clássico e tradicional de um lab de mídia.
Annet Dekker: Como vocês definem o lab de mídia tradicional?
Aymeric Mansoux: Para mim o estereótipo de lab de mídia é um espaço onde artistas que nem sempre têm certeza do que podem fazer com tecnologias de mídia, por falta de conhecimento técnico, vão para pesquisar e desenvolver um projeto. Algumas vezes existe um processo de iteração bastante desajeitado entre o artista e os técnicos da equipe até o ponto em que encontram um ‘produto’. Para enfatizar o aspecto multidisciplinar da criação final, esse ‘produto’ é frequentemente roitulado como um objeto que nem os artistas nem os técnicos poderiam ter bolado sozinhos. Infelizmente isso raramente vai além de afirmar o óbvio, porque o aspecto multidisciplinar é prejudicado pelo esforço do artista em comunicar sua ideia e pelo esforço do técnico em implementá-la, já que eles não estão falando a mesma linguagem. Então no fim das contas, apesar de tais labs de mídia terem por objetivo encorajar práticas multidisciplinares, eles deixam de oferecer uma estrutura adequada, por conta do ambiente rígido e controlado que os transforma em pequenas fábricas de mídia-arte.
Angela Plohman: Alguns labs ainda trabalham dessa forma.
Aymeric Mansoux: Bem, sim, eu acho que essa versão clichê do lab de mídia ainda é bastante prevalente. Mas é importante mencionar que apesar do que estou descrevendo ser quase sempre o processo padrão, também é responsabilidade dx artista desafiar tais instituições e integrar propriamente aprendizado, pesquisa e colaboração em sua proposta para que se vá além do estereótipo. Na minha experiência, esse tipo de abordagem inusual é geralmente bem-vinda.
Angela Plohman: Qual é então a função do lab de mídia para vocês nesse caso? Por exemplo, qual é a diferença entre trabalhar no Baltan ou NIMk, e simplesmente se encontrar em algum espaço aleatório por uma semana?
Marloes de Valk: Para mim a vantagem de trabalhar no Baltan e NIMk foi que os espaços em que estávamos não eram apenas espaços aleatórios. Esses espaços são dedicados ao tipo de trabalho que estamos fazendo. E eles não eram somente espaços vazios: eles vieram com uma equipe de pessoas que ajudou o projeto enormemente. Nós tínhamos encontros a cada duas semanas durante o projeto, nas quais éramos aconselhadxs sobre documentação, captação de recursos, experts a contactar, divulgação e muito, muito mais. Isso provou não ter preço e realmente beneficiou o projeto. O lab de mídia funciona como centro de competência e como ponto de conexão (“hub”) a uma rede local. O Baltan, por exemplo, organizou uma sessão de testes com estudantes de design de games da Universidade Fontys de Ciências Aplicadas e com a Universidade de Tecnologia de Eindhoven. Isso nos forneceu um monte de feedback útil que nós pudemos integrar ao projeto em seguida.
Dave Griffiths: Eu nunca tive a experiência de trabalhar com aquele tipo clássico de lab de mídia; para mim eles sempre pareceram mais tradicionais ou acadêmicos. O importante para mim nessas residências é que elas nos deram mais foco. A presença de um lugar físico e a oportunidade de encontrar diferentes pessoas que estavam fazendo outras coisas, para encontrar, conversar, discutir e possivelmente trocar é muito importante. Por exemplo, precisar fazer apresentações durante a residência, que a princípio pode parecer incômodo, é na verdade muito benéfico. Te força a explicar o que você está fazendo, refletir sobre as coisas que passaram pela sua cabeça ou que apareceram entre nós três, e encontrar novamente o sentido delas. Depois de trabalhar em alguma coisa o dia inteiro, finalmente você percebe que reorganizando as palavras, o que você acabou de fazer está se cristalizando totalmente na sua cabeça. Questões como: por que você está fazendo alguma coisa, para quê, são coisas importantes que você esquece quando está desenvolvendo. Ao mesmo tempo, esse processo de compartilhar suas ideias influencia o que você está fazendo. Por exemplo, quando você é forçadx a explicar seu projeto, coisas que pareciam incrivelmente importantes quando você as estava fazendo, por exemplo solucionando algum erro (“bug”), tornam-se bem menos importantes, porque desde uma perspectiva mais ampla elas importam menos.
Esses momentos de apresentação nunca acontecem quando você está trabalhando em uma configuração ‘normal’, em casa ou nessas situações de estúdio. Apesar de as pessoas passarem por lá, é difícil discutir seu trabalho; algumas vezes essas circunstâncas me isolam bastante. Mas em situações como no Baltan e NIMk você apresenta seu trabalho dentro de um contexto e então as pessoas imediatamente entendem o que você está fazendo.” Entrevista com Dave Griffiths, Aymeric Mansoux e Marloes de Valk, p. 252-254
“Arie Altena: O que um lab deve ter? Eu posso imagiunar que outras pessoas que trabalham no mesmo território artístico que vocês chegaria à conclusão de que você precisa de um lugar com um desenvolvedor de software, alguém familiarizado com, por exemplo, C++, MAx/MSP ou Python. Mas vocês não chegaram a essa conclusão; aconteceu naturalmente porque vocês já organizaram esse domínio tecnológico muito bem vocês mesmos.
Gideon Kiers: Eu acho que a maior parte dos artistas cuidam desse tipo de coisa eles mesmos. Não faz sentido pensar em um lab como um lugar de tecnologia. Investir em hardware não faz sentido: muito dinheiro é gasto em tecnologia que, apenas alguns anos depois, pode ser jogado no lixo.
Lucas van der Velden: Se você me perguntar o que eu acho que um lab deve incluir, então ele cobre um espectro amplo, de ideias a uma plataforma. Trata-se de oferecer espaço para arte nova, um lugar onde a arte pode ser visulumbrada, feita e exposta, onde você possa fazer construções esquisitas e maravilhosas que não recebem muito apoio em outros lugares.” Entrevista com Geert Mul, Marc Maurer, Gideon Kiers e Lucas van der Velden, p. 312
“Caitlin Jones (diretora do Western Front em Vancouver) percebeu uma mudança do estúdio de artista para espaços de trabalho colaborativos, para um estúdio de laptop e um estúdio em rede – os dois últimos talvez assinalando o fim do programa de residência artística como o conhecemos. O estúdio de laptop, como Jones explica, reflete as mudanças na produção cultural, onde o laptop se torna o principal espaço de produção, processo, apresentação e distribuição. Além disso, Jones explica, o estúdio de laptop existe em uma rede de outros estúdios de laptop, mudando a experiência de estúdio de um lugar fixo para um mais dinâmico:
‘O legado da arte ‘pós estúdio’ é amplificado por artistas trabalhando com formas digitais e ambientes online. Geralmente esses tipos de práticas são menos uma negação aberta do elemento ‘ossificante’ do estúdio e mais um reflexo de como o digital mudou a produção cultural em geral. O que acontece quando o estúdio em questão é simplesmente um laptop na cozinha do artista ou na cafeteria local? Quando o estúdio existe em um espaço em rede e está ligado a incontáveis outros estúdios, mudando a experiência do estúdio de ossificanda para dinâmica? Ou quando o lugar do estúdio é o mesmo da exibição e distribuição?’ – Caitlin Jones, A função do Estúdio (quando o estúdio é um laptop), em Art Lies. A Contemporary Art Journal, edição 67, 2010. Fonte online, disponível em www.artlies.org/article.php? id=1996&issue=67&s=0“ Annet Dekker, O fim do lab de mídia como o conhecemos, p. 317
“O espaço físico do lab ainda é importante, apesar do laptop ser frequentemente a ferramenta principal e apesar do fato de que o acesso à tecnologia tornou-se menos importante. É um lugar onde o compartilhamento e a troca de ideias acontecem diretamente, junto a possibilidades de experimentação e apresentações.” Annet Dekker, O fim do lab de mídia como o conhecemos, p. 320
“Aquelxs envolvidos em manter labs de mídia acreditam ser importante documentar o processo e os resultados da residência, de modo que o conhecimento adquirido seja compartilhado. Apesar de todos serem unânimes nesse ponto, labs de mídia frequentemente não têm os meios, o tempo ou o conhecimento para documentar o trabalho da melhor maneira. Já que não existe padrão pré-estabelecido – ou mesmo um conjunto de mehores práticas ou recomendações – a documentação é muitas vezes insuficiente ou mesmo ausente. Cada vez mais, pede-se axs artistas que mantenham registros de seus próprios processos como meio de garantir que a documentação de processo aconteça. Isso pode até ser incluído em um contrato com xs artistas. (…) Para encorajar a criação de documentação, os labs às vezes fazem pequenas publicações, blogs ou vídeos documentais. Isso por sua vez beneficia os artistas, bem como a organização, em termos de publicidade, visibilidade e talvez até sustentabilidade, especialmente ao lidar com trabalhos que dependem de hardware e software que vai se tornar obsoleto no futuro próximo – essa forma de documentação é frequentemente o unico registro sobrevivente de um trabalho.” Annet Dekker, O fim do lab de mídia como o conhecemos, p. 322
i Na página 149, Arie Altena diz “Como experiência integrada de imagem e som, o programa Poème Numérique do Baltan pode ser visto como uma atualização digital das ideias por trás da Poème Electronique do Pavilhão Philips de 1958″. Os caras só querem atualizar as mesmas ideias, cinquenta anos depois? Foram anos de contracultura, guerra fria, colapso soviético, neoliberalismo, consumismo, guerras do petróleo, mudança climática, internet, globalização financeira, emergência do precariado digital, desaparecimento do espaço público, hiperinformação, sedentarismo, redes sociais online. O mundo mudou radicalmente, e eles acham que as ideias por trás devem ser as mesmas?
A ideia de labs autônomos como espaços privilegiados para a experimentação e o desenvolvimento de fronteira entre arte, ciência, educação e sociedade tem encontrado eco em diversas iniciativas no mundo inteiro. Isso se deve à rearticulação desse tipo de experimentação, cada vez mais dinâmica e enredada. Com a maior disponibilidade de infraestrutura, o laboratório passa a ser menos um espaço físico do que uma atitude coletiva: a disposição de exercitar novos modos de relacionar pessoas, informação, sociedade e o planeta. Não é exagero sugerir que o encontro de duas pessoas em um lugar aleatório pode configurar um lab espontâneo. -->Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/70Labx – Festival CulturaDigital.Br
Em setembro do ano passado, fui convidado pelo pessoal da Casa de Cultura Digital a ajudar na organização do Festival CulturaDigital.Br que aconteceria em dezembro. Eu já havia trabalhado com eles no ano anterior, quando articulei junto com Maira Begalli o encontro Rede//Labs na segunda edição do que então se chamava Fórum CulturaDigital.Br, realizado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Para 2011, algumas coisas seriam diferentes. Além da mudança para o Rio de Janeiro – no MAM, em pleno Parque do Flamengo - e de um nome que sugeria um evento mais aberto do que os anteriores – não mais “fórum”, e sim “festival” -, haveria também maior autonomia em relação à agenda do Ministério da Cultura: em vez de articulado pelo próprio Ministério, seria dessa vez um projeto com patrocínio quase privado, bancado com parte do imposto devido por algumas grandes empresas, enquadrado em leis de incentivo fiscal. Contaria também com o apoio de fundações, de um monte de pequenas organizações e da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento.
O Festival teve relativamente pouco tempo para planejamento e pré-produção – no momento em que aceitei o convite, faltavam cerca de noventa dias para sua realização. A princípio, eu somente faria parte da equipe de curadores, que estava responsável pela seleção das quase 360 propostas recebidas através da chamada pública, e pela sua subsequente estruturação em uma programação que fizesse sentido. Mais tarde decidi me envolver mais - em vez de simplesmente selecionar uma série de apresentações e enfileirá-las na planilha, acabei assumindo a coordenação do que veio a se tornar um laboratório permanente durante os três dias do Festival. Seria de certa forma uma sequência do que havíamos desenvolvido no ano anterior, com o encontro Rede//Labs. Mas com a particularidade de que não nos limitaríamos somente a debater metodologias e conceitos ligados a laboratórios. A ideia dessa vez era justamente avançar em testes concretos, continuando a reflexão sobre estruturas, metodologias e práticas em laboratórios experimentais na fronteira entre arte, tecnologia, educação e sociedade.
Antes
Trabalhar com uma convocatória aberta foi um exercício interessante. O grande ponto positivo é ter contato com novas pessoas e propostas, muitas das quais nenhum dos curadores conhecia de antemão. Por outro lado, a necessidade de estabelecer um recorte coerente em prazo tão curto acaba pressionando e de certa forma desarticulando o papel da curadoria. A construção de sentido entre os diferentes projetos selecionados fica mais complexa e logo superficial, justamente por conta da grande diversidade de propostas. Outro inconveniente é que as pessoas, mesmo que de forma não intencional, tentam adequar suas propostas àquilo que acreditam que vai ser aprovado pela comissão de seleção – e muitas vezes se equivocam totalmente. Durante a seleção, eu em particular decidi dar menos atenção ao conteúdo literal das propostas, e procurei entender o que estava por trás delas – repertório, inovação, perspectiva, flexibilidade e disposição. O grande número de submissões foi sem dúvida uma dificuldade, mas conseguimos chegar a um horizonte de cerca de cem projetos aprovados para o Festival.
Nas duas primeiras edições do Fórum, existia uma área chamada “Hands Zone”. Confesso que o nome nunca me agradou, mas era onde acabavam se reunindo os grupos e pessoas interessados em, para além de debater, fazer na prática isso que se tem chamado de cultura digital. Propus aos organizadores que dessa vez transformássemos essa área em um laboratório experimental, que reuniria aqueles projetos que haviam proposto workshops, demonstrações técnicas ou experimentação com tecnologias. Mas eu não queria simplesmente uma área para aulinhas e oficinas, e assim propus uma rearticulação dos projetos selecionados.
A ideia é que havia muito em comum entre algumas das propostas, e não faria nenhum sentido um programa com várias atividades parecidas competindo pela atenção das pessoas. Além disso, sempre me incomoda o fato de que em grande parte dos eventos da área, artistas, ativistas e pesquisadores precisem, por força do conservadorismo nos formatos, se limitar a repetir aquilo que já sabem, em vez de aproveitar o contato com colegas para aprender e desenvolver seus próprios projetos. Criei (mais uma) lista de discussão, chamada Labx, para conversar com todos os proponentes, na tentativa de promover o diálogo entre as propostas enviadas e aquilo que poderiam construir transversalmente. Incentivei que, em vez de oficinas genéricas para um público abstrato, o pessoal trouxesse questões a resolver coletivamente durante aqueles três dias. Conversando com alguém durante o Festival, justifiquei essa preocupação dizendo que “laboratório não é escola”. O que eu menos queria era que oficineiros e participantes chegassem, cumprissem seu compromisso na agenda do Labx e fossem embora, deixando de aproveitar o potencial de colaboração paralela entre os diferentes projetos.
Analisando as propostas selecionadas que se aproximavam do recorte do Labx, imaginei dois eixos temáticos. O primeiro reuniria projetos interessados na manipulação, em sentido amplo, de tecnologias: software e hardware livres, experimentação multimídia, fabricação digital, gambiarra tecnológica, etc. Chamei essa linha de “Bricotecnologias”. O segundo agruparia tecnologias e metodologias para mapeamento, o que chamei de “Cartografia Experimental”. Alguns projetos se posicionavam exatamente entre os dois eixos, mas isso não chegaria a ser um problema justamente pela disposição em manter o Labx aberto e livre para reorganização espontânea de programações.
A estrutura do Labx seria bastante simplificada: uma bancada central com som, telão e cinco laptops, e tantas bancadas auxiliares quanto fosse possível. Eu queria que as bancadas auxiliares fossem móveis, mas a instalação elétrica e de rede ficaria comprometida, então elas permaneceram fixas. Consegui convencer a técnica a instalar na bancada principal um PC com prioridade na rede, garantindo uma conexão bem rápida para eventuais downloads de software e mídia ou videoconferências. Havia um armário para que os participantes deixassem equipamentos e ferramentas durante a noite. Teríamos também um kit básico de ferramentas, para quem precisasse delas.
Na conversa com os proponentes, adotei tratamentos distintos para os dois eixos. Bricotecnologias já começaria na tarde de sexta-feira com uma sessão de microapresentações: cada proponente teria no máximo dez minutos para explicar o que pretendia desenvolver durante o Festival. Nos dois dias seguintes, poderiam ocupar qualquer bancada auxiliar, em qualquer horário, para fazer o que e como bem entendessem. Alguns organizadores ficaram apreensivos com tanta liberdade, mas a alta ocupação do Laboratório comprovou que isso funciona.
Já o eixo Cartografia Experimental teria uma programação um pouco mais estruturada: começaria no sábado com uma conversa introdutória sobre mapeamento e cartografia, seguida de uma apresentação técnica sobre softwares livres para mapeamento digital, e no fim da tarde uma “deriva” a pé em grupo que passaria pela Cinelândia e pela Praça Mauá rumo ao Ipe, no Morro da Conceição, ciceroneada por Naldinho Motoboy (roteiro aqui). No domingo o pessoal se reuniria para trabalhar em questões mais específicas, sem uma agenda definida.
Nos dois eixos havia algumas propostas estrangeiras. Como não teríamos tradução simultânea no Labx, optei por agrupá-las para facilitar a comunicação. No fim da tarde do primeiro dia, todos os proponentes estrangeiros fariam também microapresentações sobre o que pretendiam desenvolver nos dias seguintes, quando ocupariam igualmente as bancadas auxiliares.
A programação final do Labx teria ainda algumas atividades extras. Uma conversa técnica sobre tecnologias livres para telepresença, organizada pelo GT de mídias digitais e arte da RNP, foi agendada para o sábado à tarde. Para o domingo organizamos também uma conversa sobre laboratórios temporários e em rede. Além das atividades desenvolvidas no próprio Labx, grande parte das propostas também faria parte da Mostra de Experiências, e tivemos que ficar atentos para conciliar as duas agendas.
Durante
Cheguei ao Rio na noite da quarta-feira. Aproveitei o dia seguinte para resolver os últimos detalhes com a equipe de produção local, além de acompanhar parte do seminário da RNP sobre “desafios da arte em rede”. O seminário reuniu a institucionalidade da RNP e do Ministério da Cultura com artistas e acadêmicos em contextos diversos. Não trouxe muita novidade, mas foi relevante por reconhecer oficialmente um universo de produção ainda sub-representado nas políticas do Ministério. Houve alguns deslizes, como uma tentativa mal-sucedida de usar a criação da coordenadoria de cultura digital para contemporizar o nítido retrocesso em relação às políticas inovadoras da gestão anterior. Pegou mal. A Funarte citou as bolsas de pesquisa em cultura digital (de 2010), mas não falou nada sobre novas edições do programa. O Minc falou sobre a inclusão de metas ligadas a cultura digital no Plano Nacional de Cultura, mas não se posicionou de forma convincente sobre a redução geral do orçamento para 2012. Por outro lado, a RNP acenou com a possibilidade de retomar o plano (também de 2010) de desenvolvimento de laboratórios de arte e tecnologia em diferentes localidades do Brasil. Eu participei da elaboração desse plano, e quinze meses depois ainda estou aguardando alguma novidade concreta a respeito. Na época, cheguei a elaborar para o Minc um edital de pesquisa em cultura digital experimental mas ele nunca saiu do papel. Espero que agora seja, como pareceu, o primeiro passo de um caminho propositivo e efetivo. A própria realização do seminário parece apontar que estão mesmo retomando o assunto. O programa do dia fechou com uma apresentação do espetáculo “Frágil”, de Ivani Santana, um uso surpreendente de internet ultrarrápida, sincronizando várias performances remotas ao vivo em tempo real – em dois ambientes locais e mais alguns em diferentes cidades do Brasil. O espetáculo se utiliza de software livre desenvolvido pelo GT de Mídias Digitais e Arte da RNP.
Na sexta-feira dei um pulo no centro para comprar algumas ferramentas e material que ainda faltavam. Naquela tarde, a primeira atividade oficial do Festival estaria relacionada indiretamente à programação do Labx. Tratava-se de uma arena de debate sobre “Políticas para Laboratórios de Cultura Digital”. Com um atraso quase protocolar de uma hora, começamos – inicialmente eu, Rodrigo Savazoni (CCD) e Guido Lemos (Lavid), e mais tarde Alvaro Malaguti (RNP) e a participação aberta do público. O debate começou vazio, mas foi ganhando corpo à medida que os participantes do Festival iam chegando ao vão do MAM. Contextualizou-se a questão da inovação no cenário tecnológico e político da cultura digital no Brasil, contaram-se alguns casos, lançou-se software livre para TV digital, comentou-se sobre a necessidade de ocupar espaços na formulação de políticas públicas. Encerrando minha participação no debate, respondi a uma provocação do Alvaro – que comentou que precisamos parar de falar em laboratórios e começar a fazê-los – convidando todos os presentes a participarem da programação do Labx a partir daquele exato momento, no espaço ao lado.
Passamos ao Labx para as microapresentações do eixo Bricotecnologias. Estiveram por ali Fred, Lucas e Ganso do Gambiologia anunciando que trabalhariam em duas maletas de intercomunicação via radiofrequência analógica, que eles explicaram como “Skype analógico”. Ruiz apresentou o Cotidiano Sensitivo, projeto que captura e interconecta dados de temperatura, umidade e vento em diferentes pontos do nordeste, e disso deriva intervenções e ações. Duda Valle introduziu uma investigação sobre “cimática”, a visualização de ondas sonoras, que seria apresentada no Labx no domingo. Alexandre Rangel, o VJ Chorume, apresentou o Quase-Cinema Feijoada VJ, software de performance ao vivo que desenvolveu com base em Processing, Openframeworks e Blender. Fabbri e Chico, do Lab Macambira, contaram sobre a Airhacktable que montariam nos dias seguintes. Juca, Pitanga e Carine do Garoa Hacker Clube falaram sobre a oficina permanente de fabricação digital com a Makerbot. Isaias e Luiz contaram sobre o projeto Monitora Cerrado, que desenvolve estações autônomas de monitoramento ambiental baseadas em hardware e software livres. Juan Luiz e Tande, do Oi Kabum de BH, propuseram uma oficina de Processing e interatividade gráfica para a manhã do sábado. Bruno Vianna faria uma oficina de construção de antenas, além de convidar as pessoas a capturar dados de satélites no gramado do parque. Capi apresentou a comunidade Transparência Hacker e convidou o pessoal a participar da programação do busão hacker que ficaria estacionado atrás do MAM. Luca Toledo convidou quem se interessasse a participar de uma oficina de plugins para o Mozilla. Rudá, que a princípio não estava na programação, perguntou se podia oferecer uma oficina de temas para wordpress, que aceitamos de bom grado. Tadeu Cascardo da Holoscópio apresentaria o Brasuino, adaptação brasileira do Arduino liberada em GPLv2. Já havia atividades para o fim de semana inteiro, e ainda não havíamos nem começado.
Na sequência, foi a vez dos gringos. O canadense Alejandro apresentou seu projeto Waste2No, que tem por objetivo utilizar a chamada internet das coisas para conectar as pessoas que querem se desfazer de coisas daquelas que precisam dessas coisas. Hamilton Mestizo, da Colômbia, apresentou sua proposta de montagem de pequenos geradores de energia elétrica a partir de sucata eletrônica. Kasia Molga, ligada ao projeto Protei, apresentou o Oil Compass, instalação que propõe a captura e visualização de informações ligadas a vazamentos de óleo em alto mar. Luca Carruba entrou para apresentar seu projeto El Cartographo e emendou, acompanhado de Glerm Soares, a declamação de manifestos do MSST.
A programação do primeiro dia do Labx encerrou com a oficina-demonstração e lançamento do Quase-Cinema Feijoada Remix do VJ Chorume. Naquela noite ainda houve a abertura oficial do Festival no Cine Odeon, que não tinha espaço para todos os convidados – o que ocasionou inevitáveis cenas de gente barrada na entrada, algo contraditórias em um evento dedicado à cultura livre. Também inevitáveis foram as vaias e os gritos de “não me representa” em resposta à leitura por Sergio Mamberti de uma carta da ministra da cultura, Ana de Hollanda.
Na manhã do sábado, Hamilton Mestizo, Fabbri e Chico foram ao um galpão de coleta de lixo eletrônico da Regenero garimpar material para seus projetos (os geradores de energia e a Airhacktable). No Labx, a oficina de Processing funcionou bem, o pessoal se empolgou e queria continuar. No começo da tarde, as bancadas auxiliares já começavam a fervilhar de atividades: alguns Brasuinos aqui, as malas da Gambiologia ali, uma estrutura de cartolina para a Airhacktable, equipamentos desmontados em busca de peças para os geradores ali no meio. A Makerbot do Garoa Hacker montada na lateral. Quase-Cinema trabalhando em outro canto. Enquanto isso, o eixo Cartografia Experimental, puxado pela galera que organizou há alguns meses no Rio o Laboratório de Cartografias Insurgentes, reuniu participantes no gramado atrás do MAM para debater metodologias de mapeamento, respeito e envolvimento com sensibilidades locais, roteiros, contextos e particularidades.
Para a bancada principal, eu tinha articulado uma videoconferência entre o GT de arte e tecnologia da RNP e o pessoal do centro de arte Laboral e do Hangar (respectivamente em Gijón e Barcelona, na Espanha). Por uma daquelas dificuldades burocráticas de aluguel de equipamentos, o computador da bancada não tinha uma câmera nem microfone – e na correria de última hora eu esqueci de resolver isso. Acabamos ficando somente com uma demonstração remota ao vivo via Skype (sincronizada entre o Laboral e o Hangar) da utilização do Scenic, software livre de telepresença desenvolvido em conjunto com o centro de arte SAT, no Canadá. Na sequência, o pessoal da RNP apresentou Arthron, a também livre plataforma de telepresença utilizada para o espetáculo da noite anterior. Infelizmente, apesar da conexão excelente não conseguimos promover a troca efetiva entre os dois contextos, e essa é uma questão importante a se trabalhar em oportunidades futuras.
Continuamos a programação com a apresentação de ferramentas livres para mapeamento digital: Bruno Tarin falou sobre o Fronteiras Imaginárias. Breno Castro Alves falou sobre o Mapas de Vista/Ocupe o Mundo, junto com Leo Germani do Hacklab que contou mais sobre o tema para Wordpress que permite a publicação de conteúdo georreferenciado. Samuel Vale, da Holoscópio, fez uma apresentação bem completa sobre o OpenStreetMap, e depois Fernando Rabelo falou um pouco sobre soluções que tem utilizado para o mapeamento colaborativo do Recôncavo: aplicativos de realidade expandida para celulares que se utilizam de dados do OpenStreetMaps, Wikipedia e outras fontes de informação livre na internet. Encerradas as atividades, o pessoal se organizou e rumou para o Ipe, passando pelo #ocupario na Cinelândia.
Em algum momento daquela tarde, não consegui mais acompanhar tudo que acontecia no Labx. Eram muitas atividades simultâneas. Recebemos também algumas visitas importantes. Vindo de Taiwan, Ilya é um dos desenvolvedores do Milkymist – equipamento aberto para performances de vídeo cujos esquemas são publicados com licenças livres. Apresentei-o a Alexandre Rangel e eles ficaram algumas horas trabalhando. Ilya ficou tão feliz que deixou com o brasileiro o Milkymist que trouxe para demonstrar. Curiosamente foi I-wei, uma conterrânea de Ilya que vive em Berlim, quem proporcionou outra visita fortuita ao Labx. Ela é uma das organizadoras do programa VIP, que está organizando residências com artistas do mundo inteiro – que passam algumas semanas no Brasil, depois na África e na Europa. Por coincidência, a etapa brasileira acontecia exatamente no Rio de Janeiro, na época do Festival. Ao fim da tarde de sábado, ela trouxe o pessoal – gente do mundo inteiro, incluindo brasileiros - para nos visitar. Levei-os para conhecer alguns dos projetos em desenvolvimento no Labx, e depois outras áreas do Festival e o busão hacker.
Com base em experiências anteriores, evitei qualquer programação formal na manhã do domingo. As bancadas estariam abertas para quem quisesse trabalhar, mas sem agenda definida. Já depois do almoço, houve alguma sobreposição. Nas microapresentações de sexta, Duda tinha proposto montar a apresentação de cimática para o primeiro horário da tarde do domingo, mas confesso que não registrei. Justamente naquela hora tínhamos agendado a conversa sobre laboratórios temporários, que acabamos remanejando para outra bancada que estava com telão.
Esse debate sobre labs temporários deve ter sido a atividade individual mais movimentada do Labx. Não parei para contar quantas pessoas assistiam, mas tinha gente sentada e em pé por todo lado. Falei um pouco sobre o contexto do Laboratório Experimental, o levantamento Rede//Labs e algumas questões que imaginava tratar durante o debate. Júlio Lira apresentou as entrevistas que tem realizado com representantes de medialabs na América Latina, parte de seu projeto contemplado pelo prêmio Ricardo Rosas de arte e tecnologia em Fortaleza. Rafael Frazão falou sobre o Ciclo Hack, evento que encerrou o hacklab que foi montado ao longo de alguns meses de 2011 no SESC Pompeia, em São Paulo. João Mendes e Anaísa Franco apresentaram a proposta “Como ser Medialab?” que reúne algumas iniciativas de peso do Brasil. Minelli, Danilo Barata e Renata Hasselman apresentaram os Networked Hacklabs, eventos em rede já desenvolvidos no Pará e Bahia, e futuramente no interior do Rio. Lucas Bambozzi compartilhou algumas experiências e apresentou o edital de residências artísticas sobre mídias móveis entre Brasil e Holanda. O colombiano Jorge Barco falou rapidamente sobre o Labsurlab realizado em maio de 2011 em Medelín e anunciou a próxima edição, a realizar-se no meio desse ano no Equador. Ainda houve tempo para algumas provocações de Jarbas Jácome e de uma apresentação curta do pessoal do Estúdio Nômade, de Porto Alegre.
Nas bancadas, os projetos tomavam forma. Kasia Molga, do Oil Compass, sentou para trabalhar com o pessoal do LabVis da UFRJ, trocando ideias sobre projetos atuais e planejando ações futuras. Alejandro reuniu algumas pessoas para apresentar o Waste2No. A Airhacktable do pessoal do Macambira já entrava em operação: um monte de origamis eram soltos em uma cama de vento feita com coolers coletados no galpão de coleta de lixo eletrônico. A dança que eles faziam era filmada, rastreada e transformada em som. Hamilton montou alguns protótipos de geradores de energia a partir de motores retirados de diferentes equipamentos eletrônicos descartados. Coisa suficiente para acender um LED ou gerar ruído, mas um bom exemplo de como a sociedade desperdiça oportunidades de reuso. As malas chat do Gambiologia já estavam em operação - maletas de 007 reconstruídas em um cenário ciberpunk.
Enquanto isso na área de encontro de redes, a MetaReciclagem se reunia para apresentação de novos integrantes e planejar ações futuras – entre elas o Encontrão Hipertropical que deve acontecer em Ubatuba em maio. Não consegui ficar muito nesse encontro, mas de todo modo foi bom rever parceiros e co-inspiradores ao longo do fim de semana. No meio da tarde, Fred Paulino arrastou Gilberto Gil para ver as malas chat na bancada. Jorge Mautner acompanhava Gil, e aproveitei para oferecer aos dois um tour pelo Labx, mostrando os projetos que estavam de pé na hora – Airhacktable, cimática, geradores de energia e outros. A norte-americana Mimi Hui juntou um grupo de pessoas para sua oficina de transformação de carteiras, protegendo-as de leitores de RFID bisbilhoteiros. Ainda fiz mais algumas conexões entre pessoas que precisavam se conhecer, do Brasil e de fora. Já quase na hora de encerrar o Labx, Sergio Krakowski apresentou seu Pandeiro Montagem. Em seguida, precisamos desmontar tudo rapidamente porque haveria um show de encerramento do Festival, atrás do MAM. Foi um fim de semana curto, mas muito compensador.
Depois
Como já comentei, minha principal intenção com o Labx era fugir do formato “grade de oficinas” que acaba acontecendo nesse tipo de eventos. Nisso, fui influenciado por projetos como os ciclos Interactivos do Medialab Prado, as muitas iterações do Laboca, os dias que passei no Networked Hacklab Pará e, obviamente, as muitas e diferenciadas experiências com a rede MetaReciclagem. Não sou a pessoa certa para julgar o sucesso do Labx. Me limito a dizer que me diverti bastante, aprendi coisas novas e conheci gente interessante. Certamente mudarei algumas coisas em oportunidades futuras. Não toparia mais assumir sozinho toda o espectro de responsabilidades que assumi dessa vez (seleção e curadoria, gerenciamento de transporte e hospedagem, contato com todos os participantes, recepção, apresentação e supervisão de tudo que aconteceu por ali). Menos ainda com prazos tão apertados. Nas próximas vezes também quero me certificar de que tudo funciona (por exemplo, a falta da webcam e de microfone quase fez desandar a videoconferência com o pessoal da Espanha). E talvez mais importante, já deixaria agendado desde o início uma conversa de encerramento para retomar as propostas iniciais, conversar sobre resultados, mudanças de rumos, processos e aprendizados, visualizar tudo que aconteceu durante aqueles dias e propor os próximos passos. Muita gente comentou sobre conversas que aconteceram, futuras parcerias em potencial e descobertas interessantes. Eu, pessoalmente, não consegui acompanhar isso tudo. Ao fim, mandei uma mensagem para todos os participantes convidando-os a se cadastrarem na lista de discussão Rede//Labs. Naturalmente, estendo aqui o convite a qualquer pessoa que enfrentou esse longo relato até o fim. Continuamos por lá essa conversa que não tem fim!
PS.: Marcos Teles publicou um vídeo registrando algumas das atividades do Labx. Está disponível aqui. A trupe Gambiologia documentou sua passagem pelo Festival. Raquel Rennó também escreveu um artigo para a Furtherfield sobre o Festival.
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.
var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Labx – Festival CulturaDigital.Br'; var flattr_dsc = 'Em setembro do ano passado, fui convidado pelo pessoal da Casa de Cultura Digital a ajudar na organização do Festival CulturaDigital.Br que aconteceria em dezembro. Eu já havia trabalhado com eles no ano anterior, quando articulei junto com Maira Begalli o encontro Rede//Labs na segunda edição do que então se chamava Fórum CulturaDigital.Br, realizado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Para 2011, algumas coisas seriam diferentes. Além da mudança para o Rio de Janeiro – no MAM, em pleno Parque do Flamengo - e de um nome que sugeria um evento mais aberto do que os anteriores – não mais “fórum”, e sim “festival” -, haveria também maior autonomia em relação à agenda do Ministério da Cultura: em vez de articulado pelo próprio Ministério, seria dessa vez um projeto com patrocínio quase privado, bancado com parte do imposto devido por algumas grandes empresas, enquadrado em leis de incentivo fiscal. Contaria também com o apoio de fundações, de um monte de pequenas organizações e da Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento.
'; var flattr_tag = 'culturadigitalbr,eventos,labx,redelabs'; var flattr_cat = 'text'; var flattr_url = 'http://blog.redelabs.org/blog/labx-festival-culturadigitalbr'; var flattr_lng = 'en_GB' -->Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/64Apropriação crítica
Apropriação crítica
Industrialização e distanciamento
As últimas centenas de anos presenciaram profundas mudanças na maneira como produzimos coisas. Até meados do século XIX, os bens eram manufaturados por artesãos. Roupas, móveis, utensílios domésticos, objetos decorativos, medicamentos, armas, ferramentas, instrumentos científicos – praticamente tudo era feito à mão, e quase sempre vendido localmente. Sucessivas inovações na fabricação de objetos, transformações nas formas como as sociedades se organizavam, a criação de novos meios de transporte e o acesso a imensas fontes de matérias-primas e outros recursos naturais nas colônias alavancaram a chamada revolução industrial, a partir da Europa e em direção ao resto do mundo.
Através da mecanização e da produção em série, a produtividade aumentou exponencialmente. Bens que anteriormente só estavam disponíveis às elites puderam ser oferecidos a todos, passando a ser considerados necessidades básicas. A qualidade de vida de uma considerável parcela da população aumentou, em um ritmo sem precedentes.
Isso tudo potencializou outras transformações. Ganhou espaço crescente a democracia representativa (“o pior sistema político, com exceção de todos os outros que foram tentados”, segundo Churchill). Formaram-se as cidades contemporâneas, ambiente propício para a atividade industrial: uma maior concentração urbana oferece mão de obra a custo baixo e mercados dinâmicos para escoar a produção. A sociedade tornou-se mais complexa, suas relações mediadas por grandes organizações e instituições. Uma entre as muitas consequências dessas mudanças foi o gradual distanciamento entre produtores e consumidores. E é importante analisar essa divisão.
Antes da produção industrial, a fabricação era um processo manual e consciente. O artesão dominava praticamente todas as etapas do tratamento e transformação de matérias-primas em produtos. O conhecimento sobre o processo fabril tinha muito valor, e era transmitido de geração em geração. Existia a possibilidade do contato pessoal entre quem fabricava alguma coisa e aqueles que a utilizavam. Por mais que o artesão pudesse contestar interferências em seu trabalho e negar-se a atender a pedidos, algum diálogo era sempre possível. Por outro lado, ele também precisava saber usar aquilo que fabricava. Ou seja, deveria ser ele mesmo o mais exigente de seus usuários. Com o passar dos anos, o artesão aplicado tornava-se mestre em seu ofício, formando novas gerações e incrementando o domínio técnico daquela área do conhecimento como um todo.
O desenvolvimento da produção industrial teve fortes implicações nesse contexto, à medida em que afastou a produção do consumo, ao ponto da desconexão total. Criaram-se mundos totalmente separados. De um lado ficaram os operários na indústria, os braços responsáveis pela fabricação dos produtos. São até hoje pessoas que em sua maioria conhecem apenas uma ínfima parte do processo de fabricação. Muitas vezes elas não utilizam os produtos que fabricam, e frequentemente nem saberiam como fazê-lo. Repetidamente juntam uma peça com a outra, apertam parafusos, empilham, verificam o resultado e tornam a repetir o processo, como o personagem de Chaplin em “Tempos Modernos”. Por não terem uma visão geral do processo, essas pessoas necessitam de chefes que as orientem, disciplinem e controlem. Já esses chefes tornam-se por sua vez mais uma classe à parte, os gerentes. Responsáveis pela domesticação da força de trabalho, são em geral conservadores, bajuladores da elite e avessos a mudanças.
Já na outra ponta da industrialização - o “mercado consumidor” - cada indivíduo passou a ser visto muito mais como um comprador em potencial do que como sujeito social. Em vez do contato pessoal com os produtores, resignou-se à impessoalidade do marketing e dos setores de atendimento ao consumidor das grandes empresas. Não sabe mais quem foram as pessoas que produziram aquilo que compra, e é levado a nem se interessar por isso.
Nesse cenário, alguma coisa humana se perdeu. É tristemente real a anedota da criança que, perguntada sobre de onde vem o leite, responde que vem “da caixinha”. Mais triste ainda é perceber quão mais inconscientes ainda somos quando adultos. Essa ignorância se estende para praticamente todos os produtos industrializados. É raro o momento em que paramos para pensar como, onde e por quem são feitas as coisas que nos cercam, de onde vieram as matérias-primas que deram origem a essas coisas, ou mesmo se determinado produto funcionaria melhor se fosse feito de outra forma. Existe a ilusão de que tudo é feito por máquinas, de que o elemento humano não existe mais. E isso está longe de ser verdade: todo produto tem em sua origem recursos naturais. Todo produto requer um esforço criativo inicial seguido por sucessivas fases de trabalho manual, frequentemente realizado sob condições precárias. Não percebemos, mas estamos sempre usando ou carregando objetos – roupas, aparelhos, móveis, tudo – que embutem pedaços do planeta, ideias e suor.
Obsolescência programada
O andar da história amplificou ainda mais a tendência industrial ao distanciamento e à frieza na relação entre fabricação e uso. A era dos mercados de massa, impulsionada por novos meios de transporte e comunicação, alcançaria níveis sem precedentes de afastamento e distorção.
Como retratado no recente documentário produzido pela TV espanhola “Comprar, tirar, comprar” (“Comprar, jogar fora, comprar”), em meados do século XX representantes de grandes corporações industriais se reuniram secretamente para estabelecer que seus produtos deveriam durar menos tempo. Ou seja, frente à necessidade visceral das corporações continuarem crescendo ano após ano, seus dirigentes simplesmente decidiram a portas fechadas que os consumidores teriam acesso a produtos menos duráveis, que precisariam ser substituídos em prazos menores! O documentário dá um exemplo emblemático: uma estação de bombeiros norte-americana onde se encontra uma lâmpada incandescente, que recentemente completou cem anos de idade, e ainda está em funcionamento. Nos dias de hoje, as lâmpadas são deliberadamente fabricadas para durar um número limitado de horas de uso. Ou seja, nenhuma lâmpada fabricada hoje vai durar cem anos. E isso não é coincidência: é “planejamento estratégico”, no jargão corporativo.
O mesmo acontece com impressoras, meias-calças, automóveis, eletrodomésticos e muitos outros produtos. Essa é uma tendência intencional, chamada de obsolescência programada. Segundo essa perspectiva, qualquer produto só vale alguma coisa para o fabricante até o instante em que é vendido. A partir do momento que está em posse do consumidor, quanto antes for descartado melhor. Em outras palavras, qualquer produto vendido já é considerado lixo. Essa visão se perpetua nos dois lados do processo produtivo: tanto através dos gerentes que se sobrepõem à mão de obra industrial, condicionando seu trabalho à continuada necessidade de aumentar o faturamento e a lucratividade, produzindo coisas que duram menos tempo; quanto nos departamentos de marketing, que se esforçam em condicionar o comportamento dos consumidores para que continuem comprando produtos novos, mesmo que não precisem deles. Existem setores da administração de empresas especializados em simular relacionamentos prolongados com seus clientes, que são vistos não mais como compradores de produtos (e menos ainda como pessoas), mas sim fontes de faturamento para toda a vida.
É importante perceber o peso desses mediadores. Um engenheiro competente e bem intencionado que queira desenhar um produto mais durável ou que permita o reuso será provavelmente demovido por seus colegas e chefia. Se insistir, a empresa pode até considerá-lo uma espécie de traidor, por conta de uma alegada necessidade de competir pelo desenvolvimento de produtos que durem menos e proporcionem maior lucro, a fim de “não perder espaço para a concorrência”. E o mais assustador é que nesses ambientes isso é tratado quase como uma verdade universal. As escolas de negócios fazem uma lavagem cerebral, repetindo frases feitas com o objetivo de desumanizar ainda mais a produção e comercialização de bens e serviços.
Outro elemento importante a perceber: as empresas em geral se utilizam de linguagem bélica para descrever suas atividades: “público-alvo”, “derrotar os oponentes”, “conquistar”, “dominar”. Não é por acaso. Guerra e comércio estão conectados há muito tempo. A produção industrial, e com ela o poder corporativo, está ligada profundamente à manutenção das estruturas de poder na sociedade. O premiado documentário britânico “Máquinas de Felicidade” (The Century of the Self) mostra como técnicas oriundas da psicologia foram utilizadas desde o começo do século XX para forjar uma sociedade individualista e politicamente frágil, lançando mão do hábito do consumo como indulgência acessível a todos. Isso vai muito além da produção e do comércio, infantiliza a população, e tem reflexos profundos na relação das pessoas com as tecnologias que adquirem.
A quem pertencem os objetos?
Quando pagamos por um produto, acreditamos poder fazer o que quisermos com ele. Isso deveria incluir todos os usos previstos pelo fabricante, além de todos os outros usos que quiséssemos propor. Nas condições atuais, pode não ser bem assim. Particularmente em relação a eletrônicos, existe uma série de restrições legais sobre como podemos utilizá-los. São cada vez mais frequentes os casos de fabricantes que penalizam os usuários que promovem o desvio de funções de seus aparelhos. Um exemplo: a Sony ameaçou judicialmente entusiastas por desenvolverem software que habilitava o robô Aibo a dançar. Em outras palavras: a empresa proibiu usuários – que, diga-se de passagem, pagaram caro pelos equipamentos que compraram - de fazerem usos que ela própria não consegue oferecer. Por mera compulsão de controle, ela interfere em um aspecto fundamental para a promoção da inovação e seu potencial de transformação social: a chamada indeterminação do objeto técnico, ideia bem desenvolvida pelo francês Gilbert de Simondon (cujos textos vêm sendo traduzidos ao português e disponibilizados na internet por Thiago Novaes).
Esse vício de controle não se limita ao software. Existem também crescentes restrições ao armazenamento e circulação de conteúdo. Por exemplo, se você comprar um CD de música e fizer uma cópia de segurança para manter as músicas caso o CD se extravie ou seja furtado, estará incorrendo em crime. Mesmo que não tenha a intenção de distribuir para outras pessoas, a indústria fonográfica impõe uma legislação que trata a todos como criminosos. A Fundação Software Livre mantém uma campanha chamada “Deliberadamente defeituosos”, através da qual critica os aparelhos eletrônicos que adotam sistemas de gerenciamento de direitos autorais. Afirma que esses equipamentos já são projetados de maneira a retirar liberdades de seus usuários, o que tem consequências negativas para o conhecimento humano em geral.
O autor de literatura ciberpunk William Gibson diz que “a rua encontra seus próprios usos para as coisas”. Isso é uma característica de todo e qualquer objeto, ainda mais presente em se tratando de ferramentas com múltiplos usos potenciais como computadores, roteadores, telefones, tablets e afins. Com um pouco de habilidade técnica, uma boa pesquisa na internet e muita vontade, um monitor LCD pode virar um projetor, uma impressora matricial se transformar em instrumento de música, uma webcam servir de base para um microscópio digital, um celular ser usado como leitor de código de barras. Nesse sentido, restrições à liberdade de uso tendem a frear o impulso criativo. Grupos de pessoas motivadas e com liberdade de experimentar são uma das bases da inovação. Se não fossem os amadores promovendo o desvio de função dos kits de eletrônica nos anos setenta, talvez o computador pessoal nunca tivesse sido inventado. Precisamos garantir que essa liberdade continue existindo.
Apropriação crítica e bricotecnologia
Ao longo do tempo e dos diversos projetos desenvolvidos pela rede MetaReciclagem, trabalhamos sempre entre dois extremos: de um lado a adoção rápida de novas tecnologias e das novas possibilidades que elas trazem, do outro a crítica ao consumismo superficial. A busca do equilíbrio parece estar no que costumamos chamar de apropriação crítica das tecnologias. Ela toma forma na aproximação entre produção e uso de conhecimento aplicado que tem emergido internacionalmente. O software livre é um exemplo, estimulando ciclos econômicos que em vez de operarem em função da escassez optam pela abundância e pela generosidade. A chamada cena maker é um exemplo ainda mais concreto: pessoas no mundo inteiro fazendo uso de conhecimento compartilhado em rede para criar objetos e dispositivos interconectados. Disso saem ideias para aparelhos que realizam praticamente qualquer coisa: estações de monitoramento ambiental, objetos fabricados em impressoras 3D, protótipos de aparelhos focados nas necessidades de pequenos grupos de pessoas. Eu tenho chamado isso de bricotecnologia – a revalorização do saber-fazer, aplicado às tecnologias de informação e operando em rede.
A apropriação crítica passa pela valorização da inovação cotidiana, representada pela prática popular da gambiarra. Símbolo do impulso criativo orientado à solução de problemas concretos mesmo sem acesso ao conhecimento, ferramentas ou materiais adequados, a gambiarra torna-se ainda mais importante em uma época de crise econômica global, iminente colapso ambiental e consumismo exacerbado. Baseia-se na manipulação (entendida como o ato pegar com as mãos e interferir nos objetos) e na experimentação (sequência de tentativas, erros e novas tentativas). Dá origem a uma criatividade desobediente, que não se assusta com a precariedade e sempre vê o mundo como lotado de potencialidades - uma verdadeira lição que as culturas populares brasileiras têm a dar em tempos de crise econômica, colapso ambiental e disparidade social.
Quando em contato com as inúmeras possibilidades das tecnologias de comunicação em rede, em especial aquelas ligadas ao software livre, temos um potencial de transformação gigantesco. Indivíduos que tenham a gambiarra como habilidade essencial, e se utilizem do conhecimento aberto disponível em rede para adquirir ideias e técnicas, podem ser vistos como inventores em potencial de novos arranjos criativos, espalhados por todas as classes sociais e localidades.
A apropriação crítica supõe o amadorismo – que vem do latim amare, referindo-se às pessoas que se dedicam a um ofício mais por paixão do que por necessidade objetiva. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, os amadores estão em geral mais abertos à inovação. Justamente por não terem o domínio completo da técnica estabelecida e por não ocuparem posição nas hierarquias profissionais, têm mais espaço para o desvio e a transformação. Têm a possibilidade de questionar certezas e imposições, e com isso descobrir melhores maneiras de fazer as coisas.
Outro traço característico das culturas populares que faz muito sentido para a apropriação crítica de tecnologias de comunicação é o mutirão – agrupamento dinâmico que se forma para cumprir tarefas coletivas e em seguida se desfaz. O mutirão possibilita a efetiva cooperação entre pessoas e grupos, aumentando sua capacidade individual e promovendo uma sociabilidade livre e produtiva. As redes sociais online dialogam muito bem com a lógica do mutirão, promovendo laços de contato entre pessoas que não têm um convívio cotidiano. É natural que a abertura a novos contatos estimule a criatividade, de modo que estimular iniciativas dinâmicas em rede é mais uma forma de potencializá-la.
A bricotecnologia e a apropriação crítica sugerem a reconciliação entre manufatura e necessidades cotidianas, libertando a fabricação da exigência de escala. Gabriel Menotti propôs, no artigo “Gambiarra: The Prototyping Perspective” (artigo cuja tradução para português deve sair na compilação sobre “Gambiologia” do MutGamb, uma edição que ironicamente está há dois anos aguardando finalização), a análise do contraste entre a gambiarra e o protótipo. Se esta indica uma fase prévia à fabricação propriamente dita, aquela dissolve a fronteira entre esses dois estados e se coloca como solução intermediária: servindo ao uso ao mesmo tempo em que se mantém aberta para reinvenção. Uma vez que as ferramentas e materiais necessários para fabricar objetos estão se tornando cada vez mais acessíveis, é importante desenvolver as habilidades técnicas e a criatividade que podem fazer uso desses recursos, e assegurar que apontem a ciclos de inovação baseados em conhecimento livre. A apropriação crítica, a bricolagem, a gambiarra e o mutirão são elementos fundamentais dessa equação.
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo para a plataforma Arquivo Vivo.Ciência Comunitária
Publiquei esse texto no blog do Festival CulturaDigital.Br e na área Rede//Labs do Arquivo Vivo. É também a base do meu pré-projeto de pesquisa no mestrado na Unicamp que começo ano que vem.Na última década e meia, a crescente disseminação de tecnologias de comunicação em rede propiciou o surgimento e a potencialização de novas formas de criação de conhecimento, com base em arranjos sociais distribuídos e colaborativos. Essa tendência é patente por exemplo no movimento do software livre que, se já existia desde antes da internet comercial, acabou por ganhar massa crítica uma vez que indivíduos e grupos puderam usar a rede para aprender uns com os outros, resolver problemas, explorar novas ideias e publicar código-fonte para ser livremente apropriado e modificado. O resultado foi o surgimento de ecossistemas informacionais autogeridos e baseados em uma emergente ética hacker, impulsionando a evolução colaborativa de conhecimento comum. A comunicação em rede levou também sua influência a outros campos: a desintermediação radical da produção cultural a partir da disponibilização de conteúdo com licenças livres orientadas à generosidade intelectual, a multiplicação dos espaços para debate público com os blogs e redes sociais, a disponibilização ampla de recursos didáticos multimídia, e assim por diante. Em todas essas áreas, ganha força um vocabulário com termos como "livre", "distribuído", "colaborativo", "autogerido".
Pós-digital
Há alguns meses lancei Laboratórios do pós-digital, uma compilação de artigos escritos desde 2009 até o começo deste ano. A expressão "pós-digital" só surgiu depois que o livro já estava quase pronto. Ou seja, o título faz menção a uma construção que não aparece ali dentro, pelo menos não articulada dessa forma. Quero tentar desfiar aqui algumas pontas disso.
O pós-digital é menos um conceito em si do que uma posição de questionamento. Não se trata de negar o digital. Pelo contrário, quero aprofundar um pouco a reflexão sobre a própria ideia de desaparecimento do digital como consequência de sua ubiquidade. A partir do momento em que o digital está em toda parte, será que ele ainda funciona como um recorte relevante para entender e interferir na maneira como as redes interconectadas influem na sociedade? Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas a todo instante. Podemos querer que elas apontem para um futuro mais aberto, participativo e justo. Acredito que a melhor maneira de fazer isso seja parar de falar sobre "o digital" como algo em si.
O discurso do digital foi assimilado por praticamente todos os setores da sociedade. Isso toma por vezes uma forma equivocada, à medida em que se tenta de maneira fetichista opor o digital a um supostamente ultrapassado "analógico". Ao contrário do que se pode pensar, o analógico está presente em praticamente tudo aquilo que alguns tentam chamar de "revolução digital". Exemplos simples de operações analógicas são o movimento do mouse, as metáforas visuais da interface de usuário dos computadores e celulares contemporâneos, o modo como as redes sociais simulam e ampliam a maneira como nos comunicamos pessoalmente. Os scanners, impressoras, microfones e caixas de som são dispositivos que propiciam a conversão de informação digital em comunicação analógica e vice-versa.
Fenômenos mais recentes como as aplicações móveis, locativas e de realidade expandida adicionam ainda novas camadas nessa composição. Pode-se dizer que a maior parte dos usos que as pessoas fazem das tecnologias digitais são usos analógicos. Daí que boa parte da construção do imaginário do digital já começa equivocada, por apostar em uma oposição que não existe.
Ainda assim, aquilo que usualmente se define como digital costuma se referir às implicações de uma série de transformações efetivas: a digitalização de comunicações, cultura e entretenimento; a emergência de redes auto-organizadas que possibilitam a coordenação negociada entre pares e grupos, e gradualmente transformam relações de poder e de criação de valor; e os crescentes barateamento, portabilidade e aumento de poder de processamento dos dispositivos que dão acesso a essas redes. Pensar o digital como uma categoria específica proporcionou a potencialização de ativismo online, de projetos e metodologias colaborativas e de novas ou renovadas maneiras de trabalhar. Ao mesmo tempo, possibilitou o desenvolvimento de iniciativas afirmativas que buscam equilibrar a adoção das novas tecnologias de comunicação e das oportunidades que trazem - por exemplo naquilo que é chamado de inclusão digital.
Por outro lado, o entendimento do digital como um tema em si pode levar a uma série de distorções. À medida em que se isola o digital como uma nova realidade, os problemas que ele ocasiona passam a ser entendidos como ocorrências pontuais. E não o são. A precarização do trabalho em arranjos cada vez mais instáveis e dependentes; a profunda alienação a respeito do impacto ambiental da vida contemporânea, em especial como decorrência da produção e do descarte de eletrônicos; o surgimento de uma economia “digital” que é excludente, elitista, individualista, consumista e que não respeita a privacidade explícita ou implícita de seus usuários; as novas disputas sobre direito autoral e remuneração de criadorxs - são parte de um complexo sistema político e econômico global, e não podem ser analisadas de maneira isolada.
Se queremos moldar nossos futuros coletivos, precisamos entender que o acesso não é o maior problema. Precisamos parar de pensar em ferramentas, e voltar a ousar. Precisamos que as ideias voltem a ser perigosas. Precisamos investir em assuntos de fronteira, e experimentar para entender suas implicações éticas, estéticas, políticas e administrativas. Eu sustento que hoje em dia precisamos incorporar o digital como dimensão indissociável da nossa existência. Por isso pensar o pós-digital, entremeando o digital em todo o resto e assim esquecendo dele como instância isolada.
Nesse sentido, eu venho tentando explorar alguns temas latentes, na encruzilhada entre cultura, arte, ciência, economia, educação e sociedade. Alguns exemplos são a internet das coisas, o hardware livre, a fabricação digital doméstica, o design aberto, a geografia experimental, as cidades inteligentes, a realidade expandida, as mídias locativas, as aplicações móveis, a ciência comunitária, os hackerspaces e fablabs, e diversos outros temas nessa linha. São todos temas que tratam essencialmente do digital, mas propõem alguns passos adiante. De maneira quase arbitrária, escolhi agrupá-los ao redor de três eixos: laboratórios enredados, bricotecnologia e eversão.
Labs e Experimentação
Rede//Labs é uma plataforma criada em 2010 para promover a articulação entre diferentes iniciativas ligadas a medialabs e laboratórios experimentais do Brasil e do exterior. Realizamos um levantamento, elaboramos um edital que seria lançado pelo Ministério da Cultura (mas perdemos o timing do ano eleitoral), e organizamos um encontro nacional e um painel internacional durante o segundo Fórum da Cultura Digital, na Cinemateca Brasileira (São Paulo/SP).
O levantamento partiu de um questionamento simples, mas legítimo: se, por quê e como deveriam ser desenvolvidos hipotéticos laboratórios experimentais de tecnologias no Brasil dos dias de hoje. Dias em que - com toda a precariedade e instabilidade - o acesso a equipamentos e conectividade é muito maior do que quando os primeiros medialabs estadunidenses e europeus se estabeleceram, no fim do século passado. Dias em que o Brasil alcança alguma projeção internacional e pode assumir um papel importante, em especial no uso e suporte a tecnologias livres e abertas.
O levantamento indicou que laboratórios são de fato desejáveis - menos por uma suposta carência de acesso a tecnologias do que pela necessidade de socialização para dinamizar a criatividade aplicada nelas. Ou seja, o mais importante é que os labs possibilitem a troca de conhecimento e oportunidades, fomentem o aprendizado distribuído e incentivem a descoberta, e mesmo o erro, como parte fundamental do processo.
Uma política de labs deve estar baseada na disponibilização de metodologias, materiais e produtos com licenças livres. Deve buscar o desenvolvimento de economias baseadas na abundância e na generosidade do conhecimento livre. Deve incentivar a circulação e o enredamento, e buscar maneiras de financiar a criatividade aplicada que se alimenta da experimentação. Deve, como falei em outro artigo, fazer o amanhã pensando o depois de amanhã.
Bricotech
Nos dias de hoje, comunicar-se em rede é natural. Avós octogenárias estão em redes sociais, senadores contratam profissionais que alimentam seus microblogs (quando não publicam eles mesmos), microempresários precisam gerenciar conta de email, site institucional, blog, loja virtual, perfil no facebook, conta no twitter e por aí vai. É fácil esquecer que, mais do que usar, podemos também nos apropriar das tecnologias de forma mais profunda e crítica. Por mais que a indústria (em especial aquela parte dela que tenta transformar a internet em um jardim cercado) nos queira a todos como meros usuários consumidores de conteúdo, as partes que compõem as tecnologias de comunicação estão aí, disponíveis para reconfigurações, interpretações alternativas, desvios e inovações.
Existe um traço comum entre a cena maker, a gambiologia, o DIY (faça-você-mesmo) e seu desdobramento no DIWO (faça com outras pessoas). Um traço comum entre as ações que se desenvolvem em hackerspaces, o open design, a ciência de garagem e comunitária, o biotecnologia amadora, os projetos de hardware livre e as possibilidades (ainda não exploradas a fundo) do shanzhai. Entre a fabricação digital, a MetaReciclagem e o upcycling. Trata-se do impulso de manipular, de tomar nas mãos o conhecimento tecnológico, e utilizá-lo como instrumento para estar no mundo. É um posicionamento situado, político em sua vontade de transformação, e que tem o potencial de proporcionar uma era de invenção socialmente relevante. Eu tenho chamado essas coisas de bricotecnologia - precisamente o ponto de contato entre a sensibilidade das mãos que sabem modificar a realidade e as mentes conectadas em rede.
Evertendo
Apontei em um post recente a referência do verbo "everter", pescado em um livro de William Gibson - autor cyberpunk, criador da própria ideia de ciberespaço. O sentido que ele tenta dar ao termo "eversão" é de surgimento de pontas do ciberespaço no "mundo real" - uma situação na qual se tornaria impossível precisar as fronteiras entre o que está no plano físico e o que está na rede. Desde os primórdios do Projeto Metá:Fora, precursor da rede MetaReciclagem, a gente já falava sobre a dificuldade de definir o que é online ou offline. Hoje em dia isso é ainda mais complexo. As redes de fato evertem. Mas que redes são essas?
A internet foi criada como uma forma de interconectar computadores de maneira distribuída, a partir de protocolos abertos e livremente replicáveis. Nos dias de hoje, estamos na iminência do surgimento de outra sorte de interconexão: milhões de dispositivos diferentes (sensores, atuadores, câmeras) estão incorporando a possibilidade de comunicação em rede.
Projetos de cidades do futuro preveem a disponibilização em tempo real de informação relevante: itinerários e horários de transporte público, gerenciamento de semáforos, dados sobre consumo de energia, sensores climáticos e afins. Sistemas de automação doméstica, com monitoramento remoto de interruptores, eletrodomésticos e portas, também se tornam acessíveis. Plataformas como o Pachube facilitam a agregação e circulação de dados gerados por esses sistemas. Aplicações locativas móveis que cruzam as redes com a malha geográfica, jogos de realidade expandida, novas maneiras de interagir com a informação - com telas touchscreen, movimentos, gestos. São pontos de contato entre o local e o remoto, que transformam completamente a nossa relação com o online.
Isso tudo pode levar ao surgimento do que está sendo chamado de internet das coisas. Mas a tendência centralizadora da indústria vem interferindo na maneira como se desenvolvem essas tecnologias, o que aponta muito mais na direção de uma coleção de intranets das coisas - espaços restritos e opacos, nos quais ninguém sabe muito bem como as coisas funcionam. Rob van Kranenburg vem tentando contrapor à badalada IOT (internet das coisas) uma proposta de IOP (internet das pessoas), que não parta do princípio da fria interconexão de objetos, e sim da compreensão de que o mais importante da rede é facilitar e otimizar a sociabilidade humana.
Como desenhar protocolos abertos e distribuídos que garantam que essas redes sejam realmente participativas e inclusivas desde o princípio, blindadas contra interferências governamentais, corporativas e golpistas? Mais uma vez, insisto: precisamos dar menos atenção a "páginas", "conteúdo" e "acesso"; e nos concentrar mais no papel que a comunicação em rede pode efetivamente assumir na vida das pessoas. Esquecer por um instante o digital, e lembrar por que é mesmo que queremos fazer o que estamos tentando fazer.
Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo para a Plataforma Arquivo Vivo.
Labs experimentais
Escrevi esse texto há alguns meses, para uma revista que acabou não sendo publicada. Talvez ainda seja no futuro, mas enquanto isso me autorizaram a postar por aqui. Nada de novo para o universo rede//labs, com exceção de uma ou outra frases de efeito - mas foi bom para exercitar a argumentação.

Vivemos tempos de mudanças. O mundo está cada vez mais enredado, não somente nos grandes centros como também em cidades pequenas e localidades isoladas. As redes interconectadas abriram espaço para a circulação de informação entre boa parte (e cada vez maior) da população mundial, possibilitando novas dinâmicas de aprendizado e comunicação. Geraram também um novo conjunto de problemas sociais e econômicos, acompanhando o desenraizamento do trabalho e a crise de representatividade da política tradicional e das instituições, o que demanda a criação de novas formas de produção e trabalho.
As culturas brasileiras se inserem nesse cenário com um potencial imenso, aliando a sociabilidade instintiva dos mutirões - redes espontâneas e dinâmicas - à inovação distribuída das gambiarras - soluções para problemas cotidianos que aproveitam quaisquer recursos disponíveis de forma criativa e orientada a resultados. Muita gente aponta o Brasil como uma referência no que se refere a lidar com tempos incertos. Há décadas que entendemos que tempos de instabilidade, crise permanente e conflito latente são também tempos de oportunidades e transformações.
Nos últimos anos, o Brasil tornou-se um dos epicentros de um movimento internacional - a emergência da produção aberta e livre em rede. O software livre encontrou por aqui espaço de convívio com a produção cultural, tanto a partir de projetos independentes quanto de políticas públicas inovadoras. Alguns resultados foram a instrumentalização digital de projetos ligados às culturas populares, a naturalização do remix e da generosidade intelectual como estratégias criativas e o aprofundamento conceitual das ideias de conhecimento e cultura livres.
Em uma análise superficial, esse universo trata do acesso a conteúdo. Existem entretanto implicações muito mais profundas. Até há poucos anos, corríamos em direção a um futuro imaginário forjado durante a guerra fria: uma sociedade próspera com recursos abundantes, isenta de conflitos, em que todos poderiam comprar a própria felicidade. Hoje essa miragem é esvaziada pela desigualdade social, pelo iminente colapso ambiental e pela precariedade generalizada. Estamos justamente no ponto de influenciar coletivamente os modelos de futuro que queremos perseguir, e sabemos que eles precisam ser diferentes.
É justamente nesse contexto que surgem os laboratórios experimentais: locais para prototipar e testar tecnologias, metodologias e formatos de trabalho de um futuro colaborativo e hiperconectado. Para integrar criativamente a abundância de informação disponível livremente nas redes com as demandas crescentes da vida cotidiana. Para desalienar a inovação tecnológica, fazendo com que ela volte a responder a necessidades locais. Para investigar e desenvolver um campo que pode ser descrito como "cultura digital experimental", ou "pós-digital": internet das coisas, computação física, realidade aumentada, mídia locativa, fabricação digital e a economia do comum. Para despertar talentos, promover encontros e reunir pessoas que podem fazer coisas juntas. Para juntar arte, ciẽncia, educação e comunicação. Para fazer o amanhã imaginando o depois de amanhã.
Eu tenho trabalhado em duas pontas dessa questão: desenvolvendo o Ubalab, um laboratório experimental em Ubatuba, litoral norte de São Paulo; e articulando a plataforma Rede//Labs, que desde o ano passado promove ações com o objetivo de criar pontes entre laboratórios em diferentes configurações no Brasil inteiro e articulando mecanismos de apoio ao intercâmbio entre eles. São perspectivas complementares: a escala local e a rede distribuída com integrantes no país inteiro. Do ponto de vista da rede de laboratórios, estamos percebendo a necessidade de construir ações em conjunto, de facilitar o apoio aos processos de desenvolvimento (em vez de produtos) e a circulação de pessoas entre as diferentes localidades. Já no contexto local, uma das maiores necessidades que tenho percebido é por estruturas que permitam o desenvolvimento pleno dos talentos locais, para que não precisem migrar aos grandes centros. E por estruturas não me refiro necessariamente a equipamentos ou espaço físico, mas fundamentalmente a um nível mais abstrato: maneiras de aprender, criar e sobreviver disso.
A institucionalidade burocrática e seus vícios são grandes entraves ao desenvolvimento de inovação socialmente relevante. Muito esforço precisa ser despendido em enfrentar os longos e complexos processos para viabilizar projetos nesse sentido. Grande parte das oportunidades de financiamento exigem algum desvio de rota, focando não na inovação ou na troca de conhecimento mas em responder a exigências de produtos, obras finalizadas, apresentações, oficinas ou visibilidade. Todos esses aspectos são também importantes, mas acabam soterrando o que deveria ser o coração dessas ações. Outro ponto crítico é a administração de expectativas. Frequentemente, projetos parceiros dos labs esperam que eles funcionem como prestadores de serviços diversos - cursos, suporte técnico, criação de websites, produção de vídeo e som, etc. A princípio, um laboratório se diferencia fundamentalmente de produtoras, consultorias e estúdios por ter autonomia para estabelecer a própria agenda de pesquisa. Isso implica na necessidade de incorporar o erro como um dos resultados esperados de suas ações. Já relações de prestação de serviços precisam minimizar a ocorrência de erros. É uma distinção importante: a inovação precisa estimular a ocorrência de erros. Nesse contexto, o erro é a matéria prima do acerto. Precisamos pensar em maneiras de viabilizar essa condição, que certamente dá resultados no futuro. No equilibrismo de verbas, pessoas, parcerias e metodologias é que os labs brasileiros vão encontrar identidade e voz próprias.
var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Labs experimentais'; var flattr_dsc = '
Escrevi esse texto há alguns meses, para uma revista que acabou não sendo publicada. Talvez ainda seja no futuro, mas enquanto isso me autorizaram a postar por aqui. Nada de novo para o universo rede//labs, com exceção de uma ou outra frases de efeito - mas foi bom para exercitar a argumentação.

Vivemos tempos de mudanças. O mundo está cada vez mais enredado, não somente nos grandes centros como também em cidades pequenas e localidades isoladas. As redes interconectadas abriram espaço para a circulação de informação entre boa parte (e cada vez maior) da população mundial, possibilitando novas dinâmicas de aprendizado e comunicação. Geraram também um novo conjunto de problemas sociais e econômicos, acompanhando o desenraizamento do trabalho e a crise de representatividade da política tradicional e das instituições, o que demanda a criação de novas formas de produção e trabalho.
As culturas brasileiras se inserem nesse cenário com um potencial imenso, aliando a sociabilidade instintiva dos mutirões - redes espontâneas e dinâmicas - à inovação distribuída das gambiarras - soluções para problemas cotidianos que aproveitam quaisquer recursos disponíveis de forma criativa e orientada a resultados. Muita gente aponta o Brasil como uma referência no que se refere a lidar com tempos incertos. Há décadas que entendemos que tempos de instabilidade, crise permanente e conflito latente são também tempos de oportunidades e transformações.
'; var flattr_tag = 'cultura digital experimental,erro,espaços,experimentação,labs,redelabs'; var flattr_cat = 'text'; var flattr_url = 'http://blog.redelabs.org/blog/labs-experimentais'; var flattr_lng = 'en_GB' -->Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/63Hacklab enredado>>
Meu relato resumido sobre os dias no Pará, em agosto. Artigo também publicado no site Hipermedula*. Estou costurando uma versão mais detalhada para o blog Ubalab, mas ainda demora um pouco.
Em agosto tive a oportunidade de participar da etapa paraense(1) do Networked
Hacklab (2) – um encontro que reuniu ativistas, artistas, hackers, pesquisadores e afins,
com o objetivo de propor uma cartografia crítica da Amazônia. O evento foi organizado
por Giseli Vasconcelos (3), em um formato dinâmico e produtivo. Foram duas
“imersivas hacklab”, no começo e ao fim de agosto. Estive na primeira. Cada imersiva
estava por sua vez subdividida em dois momentos, desenvolvidos em diferentes
localidades: primeiro em Belém, e depois em Santarém.

O Networked Hacklab pôs em contato coletivos locais do Pará com um grupo de
“estrangeiros”. Na primeira etapa, esse grupo de fora era composto por Tati Wells (4), o
espanhol Pablo de Soto (5), Paulo Tavares (6) e eu. O objetivo na quela fase era trazer elementos mais conceituais, falando sobre ferramentas e metodologias de mapeamento.
Pela programação, a segunda etapa (com os não-locais Bruno Tarin (7), Bruno Vianna (8)
e os colombianos da Antena Mutante (9) seria mais focada em produção audiovisual.
Os grupos locais em Belém eram vários: Qualquer Coletivo, Reconstruções, Coisa
deNegro, RedeCom, Guerrilhas Estéticas, Paracine e outros. Ricardo Folhes, pesquisador paulista que vive em Santarém, também estava por lá. Já em Santarém, foi uma articulação via Coletivo Puraqué (10) com lideranças comunitárias, ativistas, projetos como a Casa Brasil de Santarém e o Pontão de Cultura dos Tapajós. Na mediação entre os diversos grupos estaria ma própria Giseli, além de Arthur Leandro (11) e Bruna Suelen (12).
Belém é uma cidade grande, autodenominada “metrópole amazônica“. Tem uma
cena cultural efervescente, tradição artística considerável e enfrenta contradições co-muns a toda cidade grande brasileira: diferença social acentuada, especulação imobiliária,
expansão urbana desordenada, trânsito lento em decorrência da ênfase no
transporte individual. Tem séculos de uma história que a gente não estuda muito
aqui ao sul de Salvador – falha que os dias passados ao lado de Arthur Leandro acabam
por diminuir. Belém foi a sede do Estado do Grão-Pará e Maranhão (13), que em meados
do século XVIII formava uma colônia separada do Brasil. O Grão-Pará só aderiu
ao Brasil após a “independência” em 1822, e na década seguinte foi palco para a Cabanagem(14) - insurgência de negros, índios e caboclos que contou com algum apoio
nas classes altas e médias descontentes com o governo central no Rio de Janeiro. Os
cabanos controlaram a cidade por quase um ano, caso raro na época. Ainda hoje, a
região portuária representa papel fundamental na cultura de Belém – elo de conexão
por um lado com o interior da Amazônia e por outro lado com o restante domundo.
No primeiro dia, nossa base foi o Casarão Cultural Floresta Sonora (15) – um espaço
no centro de Belém, ligado à rede Fora do Eixo (16). A abertura do encontro foi na sede
do IAP, Instituto de Artes do Pará – um enclave ou armadilha, cercado por uma igreja
e umprédio do exército brasileiro. Carlinhos Vas comandava o somaberto a canjas e
interferências. O pessoal comandou uma dinâmica para nos apresentarmos uns aos
outros, empares.
No dia seguinte, migramos para o Parque dos Igarapés (17), onde ficaríamos imersos
(às vezes em sentido literal, dentro do igarapé) por três dias. O Parque fica relativamente
longe do centro e não oferece acesso à internet, o que reforçou o caráter de
contato entre pessoas daqueles dias. Foram dezenas de apresentações, debates, experimentações e conversas, sobre projetos e ações em áreas diversas: intervenção
urbana,mapeamento, ativismomidiático, direitos humanos, tecnologia, design, produção
audiovisual e musical, tecnologia, políticas públicas, e por aí vai.
Ficou a sensação de que aos poucos se desfaziam ali um monte de barreiras que
a mim eram invisíveis. Ouvi mais de uma vez que os grupos locais que estavam presentes
não costumamconversar tanto uns comos outros. Isso emsi já é um resultado
positivo do encontro. Houve também oficinas espontâneas, troca de conhecimentos
e construção de possibilidades de ação. Rolou uma intervenção durante o show de
reggae no Parque, que implicou em problemas com a segurança do local. Para um
encontro que usa o nome “hacklab”, eu senti ausência de hackers, mas isso pode ser
uma condição específica de Belém.
Aproveitei a oportunidade para finalmente dedicarmais tempo ao funcionamento do protótipo de ZASF (18) – subindo uma rede autônoma local onde os presentes podiam compartilhar material.
Também coletei trilhas geográficas comoGPS, e aprendi um pouco sobre manipulação de dados geográficos. Através da ZASF também documentei o encontro (através de uma instalação do hotglue(19) na rede local – que posteriormente eu publiquei na internet (20). Invertendo o quase impronunciável (em português) nome do encontro, acabei chamando-o de “hackworked netlab”, e a brincadeira pegou. Ao fim da etapa Belém, muita energia positiva (apesar do cansaço e da gripe queme atropelou por lá) e promessas de desdobramentos.
Voamos para Santarém tarde da noite de domingo. Fomos recebidos pessoalmente
pelo Marcelo, que nos levou de Kombi até a Casa Puraqué, no bairro do Amparo.
Nos estabelecemos por lá, entre beliches e redes. No dia seguinte, as atividades
já começariam pelamanhã.
Santarém fica no coração da Amazônia, na confluência entre os rios Tapajós e
Amazonas. É um balneário, a “Pérola do Tapajós”, com uma orla turística e lindas
praias como Alter do Chão e Ponta de Pedras. É também uma importante conexão
portuária, que escoa parte da produção do norte e do centro-oeste do Brasil. Fiquei
impressionado emsaber que carne de gado é quase tão barata quanto o peixe, abundante
naquelas águas – decorrência da proximidade com a produção pecuária que
sobe pela rodovia Cuiabá-Santarém. Santarém cresceu rapidamente na última década,
e parte desse crescimento deve ser creditado ao porto da Cargill -multinacional
que produz soja, rações para gado e afins. O coletivo Puraqué é uma potência transformadora na cidade, atuando em diversos projetos ligados a políticas públicas de
tecnologia, mobilização e transformação social.
Otime do Puraqué estava desfalcado de capitão – Jader Gama precisou ir correndo
a Belém para resolver assuntos burocráticos e só voltaria na quarta-feira. Ainda assim,
acordamos na segunda com a casa cheia. Pessoal do Puraqué, da Casa Brasil
Santarém, do Pontão de Cultura, do Projeto Saúde e Alegria, entre outros.
Ao longo dos dias seguintes, trabalhamos algumas questões críticas. Tentamos entender
as forças que influenciam a cidade e o entorno, como o Puraqué está situado
naquele contexto específico, como a cartografia pode ajudar em suas ações atuais e
futuras. Durante o dia, fazíamos experiências – subi mais uma vez a ZASF, desenhei
o mapa do terreno da casa a partir das coordenadas geográficas que coletei caminhando
pelo quintal, projetamos o mapa do Puraqué (21) sobre papel e desenhamos em
cima dele um monte de coisas que não aparecem na base dele: invasões, influência
do porto da Cargill na expansão urbana, conexão com a rodovia, a orla onde vivem
os ricos da cidade, a periferia, os igarapés. Às noites, houve duas programações de cineclube e uma apresentação de carimbó.
Quando Jader voltou, conversamos muito sobre os projetos atuais e planos futuros
deles: a moeda social muiraquitã, o consórcio de compra de computadores, o
projeto jovens codeiros, a intranet de associações comunitárias via wifi, etc. O Puraqué
é um celeiro de ideias e potencialidades, e ali do meio da Amazônia indica
soluções que fazem sentido para o mundo inteiro: populações nativas e mestiças
integrando-se pela internet, relação respeitosa coma floresta, arranjos colaborativos
e dinâmicos de trabalho e produção operados em rede, confiança distribuída. Vale
a pena conferir a pesquisa que a holandesa Ellen Sluis desenvolveu por lá no ano
passado (22). Em especial, o plano de desenvolver um pólo de desenvolvimento de tecnologias livres é algo que me deixa bastante otimista (como possível concretização
do que eu proponho no artigo “Inovação e Tecnologias Livres”) (23).
Voltei para casa com vontade de ter ficado por lá um pouco mais. Todo evento
supõe um deslocamento, uma dimensão em que o tempo corre diferente. Debatemos
profundamente a questão da cartografia como uma ferramenta não somente
para retratar a realidade, mas também para interferir nela, orientar esforços e identificar
caminhos. Além de conhecer gente nova, consegui também trabalhar em questões
que fazem muito sentido parameus planos por aqui (24). Que os mapas críticos se multipliquem!
—
Veja também os relatos de Tati Wells (25) e Paulo Tavares (26), minhas fotos (27) e a documentação que fiz em tempo real (28).
1 http://hacklab.comumlab.org
2 http://hacklab.art.br
3 http://comumlab.org
4 http://baobavoador.noblogs.org
5 http://hackitectura.net/blog/
6 http://www.mara-stream.org/
7 http://twitter.com/#!/brunotarin
8 http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruno_Vianna
9 http://www.antenamutante.net/
10 http://puraque.org.br
11 http://twitter.com/#!/etetuba
12 http://arquetipofake.blogspot.com/
13 http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o-Par%C3%A1
14 http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabanagem
15 http://casaraocultural.com
16 http://foradoeixo.org.br/
17 http://www.parquedosigarapes.com.br/
18 http://desvio.cc/blog/zasf-com-sotaque-paraense
19 http://hotglue.org
20 http://desvio.cc/sites/desvio.cc/files/hacknet/
21 http://puraque.org.br/mapas
22 http://mutgamb.org/MutSaz/2011/Janxs/Ponte-eterea-Santarem-Holanda
23 http://efeefe.no-ip.org/livro/lpd/inovacao-tecnologias-livres-2
24 http://ubalab.org
25 http://baobavoador.noblogs.org/post/2011/08/17/hacklab-belem/
26 http://hacklab.comumlab.org/wikka.php?wakka=MapaRelatoem10pontos
27 http://www.flickr.com/photos/felipefonseca/collections/72157627356305771/
28 http://desvio.cc/sites/desvio.cc/files/hacknet/
* Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.
var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Hacklab enredado>>'; var flattr_dsc = '
Meu relato resumido sobre os dias no Pará, em agosto. Artigo também publicado no site Hipermedula*. Estou costurando uma versão mais detalhada para o blog Ubalab, mas ainda demora um pouco.
Em agosto tive a oportunidade de participar da etapa paraense(1) do Networked
Hacklab (2) – um encontro que reuniu ativistas, artistas, hackers, pesquisadores e afins,
com o objetivo de propor uma cartografia crítica da Amazônia. O evento foi organizado
por Giseli Vasconcelos (3), em um formato dinâmico e produtivo. Foram duas
“imersivas hacklab”, no começo e ao fim de agosto. Estive na primeira. Cada imersiva
estava por sua vez subdividida em dois momentos, desenvolvidos em diferentes
localidades: primeiro em Belém, e depois em Santarém.
Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/62Cidades digitais, a gramática do controle e os protocolos livres
Minha busca por alternativas locais, sustentáveis e justas para o desenvolvimento de inovação e tecnologias livres aponta cada vez mais para a necessidade de maior articulação entre duas classes de estruturas informacionais que se sobrepõem: a cidade e as redes digitais. Eu escrevi aqui no ano passado sobre a perspectiva de cidade como sistema operacional. Essa aproximação não é inédita. Na mesma fronteira mas talvez em sentido inverso, o artigo Reading the Digital City, publicado no Next Layer por Clemens Apprich, analisa justamente a influência que a ideia de cidade exerceu nos primeiros anos de popularização da internet, e como essa influência foi usada para estabelecer relações de controle e poder:
"Não é por acidente que a cidade tenha sido escolhida como uma das mais significativas metáforas para os primeiros dias da internet. A cidade tem (como o Ciberespaço) uma origem militar e é definida (pelo menos simbolicamente) por muros cujos portões constituem a interface para o resto do mundo. (...) A interface determina como o usuário concebe o próprio computador e o mundo acessível a partir dele."
Laboratórios Experimentais: interface rede-rua
Tenho percorrido de bicicleta as ruas de Ubatuba tentando articular a visão de cidade como sistema operacional com a reflexão sobre o papel que deve exercer um Laboratório Experimental nos moldes do que propus no artigo sobre Inovação e Tecnologias Livres (parte 2). Qualquer cidade pode ser entendida como justaposição de fluxos de informação que se entrecortam, afetam-se uns aos outros e no processo criam realidades, oportunidades e também limitações. Essa visão quase óbvia sugere incontáveis formas de intervir na realidade local. Mas no momento estou procurando um foco específico para concentrar esforços. Uma imagem, um formato para inspirar e orientar. Minhas áreas de interesse continuam sendo a apropriação crítica de tecnologias, a experimentação e descoberta, o aprendizado em rede, a construção coletiva e circulação de conhecimento livre, a MetaReciclagem. É por aí que caminha esse post.
Inovação de ponta vs. inovação nas pontas
Há pouco tempo eu estava assistindo (com alguns anos de atraso) ao documentário Zeitgeist Addendum. Naturalmente, não consigo concordar com todas as teses expostas por ali. Me incomoda em particular a visão de um futuro impecável pintada por Jacque Fresco, que de certa forma coloca a tecnologia de ponta acima de todo o restante do conhecimento humano. Seu Venus Project tem uma visão algo datada de tecnoutopia, em alguns sentidos ingênua e em outros até opressora. Ele parece exigir conversão total para funcionar. Em outras palavras, demanda um contexto social em que não existe dissenso. Uma espécie de ditadura dos inventores - um futuro que eu não desejo para ninguém. Por outro lado, não posso deixar de concordar quando ele sugere que uma postura inovadora em relação às tecnologias poderia resolver uma série de problemas que consideramos inevitáveis. Um dos exemplos que ele dá são os acidentes com automóveis, um tipo de ocorrência que poderia ser amenizado se o foco do desenvolvimento tecnológico fosse a solução de problemas. Faz sentido. Mas a minha projeção de inovação aplicada para futuros melhores não é centralizada nem depende de grandes estruturas. Pelo contrário, ela está nas pontas, conversando com as ruas, presente nas gambiarras do dia a dia, naturalizada como prática cultural que alia adaptabilidade, autodidatismo e desejo de mudança. Essa visão de ação inovadora que transforma o cotidiano me parece extremamente necessária em um país repleto de desigualdades. Alta tecnologia e apropriação cotidiana. São extremos complementares do mesmo espectro. A inovação de ponta requer especialização, grandes capitais orientados à criação de mercados que sustentem todo o processo. A inovação nas pontas precisa essencialmente de generosidade, criatividade transdisciplinar e inteligência de rede. A inovação de ponta tem formatos e estruturas estabelecidos - reconhecidamente na fronteira entre mercado, universidade e ciência. A inovação nas pontas tem cada vez mais se dinamizado a partir de espaços autônomos - Laboratórios Experimentais que operam em rede promovendo a apropriação crítica de tecnologias. Que tipo de função esses Laboratórios podem assumir na sociedade atual?Conhecimento compartilhado e o mundo lá fora
Através da internet, as redes sociais e os ambientes colaborativos online têm possibilitado a construção e circulação de conhecimento compartilhado - em especial naqueles ecossistemas informacionais que usam licenças livres como ferramenta de disseminação e replicação. Independente da licença mais adequada para cada caso, a ideia de commons (análoga ao que os espanhois estão chamando de procomún) é essencial. Tendo em vista o horizonte amplo de inovação aplicada, muito mais importantes do que música e vídeo disponibilizados online são os bancos compartilhados de conhecimentos específicos que ensinam qualquer pessoa a solucionar uma infinidade de problemas. Desde receitas de comida ou de medicina natural até dicas de afinação para instrumentos musicais. De tutoriais para criar robôs com pedaços de sucata eletrônica até guias sobre como cuidar de bebês ou construir casas que gastam menos energia. Informações sobre a história e geografia de localidades no mundo inteiro. Opiniões sobre equipamentos, serviços, organizações. Um volume imenso de informação honesta, livre, relevante e remixável. Mas esse universo em expansão não parece ter nenhuma relação direta com os dispositivos informacionais da cidade contemporânea. De fato, a vida urbana como a entendemos não tem - ainda - nenhuma conexão estruturada e intencional com o conhecimento livre disponível na internet. Voltando à metáfora da cidade como sistema: bibliotecas podem ser entendidas como estações de acesso ao mundo editorial. Agências de correios nos põem em contato com qualquer pessoa que tenha um endereço físico. As instâncias administrativas como Câmara de Vereadores e Prefeitura abrem caminho para o coração da participação política. Escolas e Universidades proporcionam o contato com conhecimento acadêmico, homogêneo e estável (com algumas notáveis exceções, que vão muito além disso). O transporte público nos move de um lugar ao outro. Podemos analisar através dos fluxos de informação também os bancos, postos de saúde, centros comunitários, escritórios de contabilidade, agências de motoboys, e por aí vai. Por sua vez, as lanhouses e telecentros oferecem de fato o acesso à internet, em toda a sua potência. Mas se tecnicamente têm tudo que alguém precisa para vivenciar aquele conhecimento comum disponibilizado nas redes, elas não têm nenhuma orientação estratégica nesse sentido. Têm as máquinas e o acesso, mas a intenção e o horizonte de atuação são amplos demais, e por consequência algo superficiais. É óbvio que existem muitos telecentros e algumas lanhouses que vão além, criam programação local voltada à autonomia, à apropriação das tecnologias em rede, ao desenvolvimento de projetos. Mas o modelo mental sobre o qual estão montados é sempre um fator de limitação: a prioridade no acesso a algo que está remoto e estabelecido.Acesso e construção
Eu sempre acho estranho que um monte de ONGs (e escolas) brasileiras que se dizem influenciadas pelo pensamento de Paulo Freire - um crítico contundente da própria ideia de "transmissão de conhecimento" - permitam-se pensar a internet como questão de mero acesso. Para Paulo Freire, o conhecimento é criado na vivência, no momento mesmo do diálogo. Se é possível uma analogia com a internet, sua relevância não estaria no conteúdo publicado, mas na relação criada a cada instante, quando se trava contato com diferentes informações, pessoas e contextos. Aquela hora em que a gente manda uma mensagem pra um grupo de centenas de pessoas espalhadas por todas as regiões do Brasil (e alguns países estrangeiros) e curiosamente se sente em casa. O momento em que queremos aprender sobre algum assunto e encontramos pela rede uma pessoa que publicou, espontaneamente, um verdadeiro roteiro de aprendizado justamente sobre aquele tema. O conhecimento gerado no processo, na vivência, na troca, no compartilhamento. Se queremos fortalecer os aspectos transformadores das redes colaborativas e enriquecer os contextos locais com suas possibilidades, precisamos ultrapassar o paradigma do acesso. Eu e outrxs temos insistido na importância da apropriação, da experimentação e da proximidade com o cotidiano para trilhar essa estrada. É a partir dessa experiência que tenho pensado sobre Laboratórios Locais de Tecnologias Livres.Labs como interfaces
Através da experiência Redelabs, eu tenho tido a oportunidade de saber um pouco mais sobre iniciativas do mundo inteiro que têm proposto estruturas para experimentação e criatividade distribuída. São formatos diversos, com graus variados de autonomia, atuando justamente no diálogo entre o conhecimento comum das redes e as diferentes realidades locais. Uma iniciativa pioneira de Laboratório no Brasil foi o IP://, criado em 2004 na Lapa carioca. O nome veio das iniciais de "interface pública", e essa é uma ideia que tem ressoado nas minhas andanças por aqui. Laboratórios Experimentais locais orientados para o desenvolvimento de inovação livre socialmente relevante podem funcionar justamente como interfaces entre os fluxos locais e a abundância das redes digitais. Também me vêm à cabeça dois outros projetos que têm bem clara a natureza de interface: o Medialab Prado, de Madrid e o Bailux, em Arraial d'Ajuda. É bom enfatizar aqui o que eu entendo por interface: aquilo que se coloca como ponto de comunicação entre dois campos distintos. A tradução ativa entre contextos ou áreas de conhecimento diversos. O portal entre mundos. O buraco de minhoca que possibilita saltos quânticos. O IP://, o Medialab Prado, o Bailux e tantos outros se colocam justamente nessa posição. Algumas dezenas ou mesmo centenas de projetos em todo o Brasil têm potencial para tornarem-se esse tipo de interface. Só precisam tomar algumas decisões. Preocupar-se menos com a ideia abstrata de público e de oficinas de formação, e mais com o desenvolvimento de tecnologias em si, solução de problemas. Tentar criar um ambiente acolhedor, que receba visitas não agendadas sem intimidar as pessoas. Que proporcione liberdade de ação e facilite a criação colaborativa. Que tenha um mínimo de infraestrutura (cadeiras, bancadas, tomadas, cabos de rede). Uma mistura de esporo de MetaReciclagem, Ponto de Cultura, The Hub, hacklab, centro comunitário e incubadora de startups. Podem ter programação de encontros e oficinas, complementada por um cotidiano de experimentação e desenvolvimento de projetos. E mais importante, promover a colaboração a partir da liberdade e da diversidade, e assumir seu papel de interface entre as redes digitais e as redes tecidas na vida da cidade. Projetos que se posicionam dessa forma mais ampla são o Open Design City em Berlim, o Citilab Cornellá em Barcelona (aqui tem um bom relato da Dani Matielo sobre um evento lá) e outros. Como eu sugeri há alguns meses, esses núcleos não precisam se definir somente como "laboratórios de mídia". Não devem limitar-se à produção de "conteúdo". Tratam, na verdade, de criatividade aplicada, busca de soluções em múltiplas áreas de conhecimento. Um Laboratório Experimental pode, claro, produzir vídeos, programas de rádio, cobertura online de eventos, material gráfico, websites. Mas também desenvolve pesquisa em captação e armazenamento de energia alternativa, monitoramento ambiental com sensores, redes de aprendizado distribuído, instalações imersivas, projetos de robótica educacional. Pode trabalhar com mediação de conflitos, democracia experimental, política cultural, financiamento solidário de pequenos projetos. Elabora planos críticos para cidades digitais (ou propõe questões, pelo menos). Não existem limites para Laboratórios que se proponham a atuar como interfaces entre o mundo cotidiano e a multiplicidade das redes. var flattr_uid = 'efeefe'; var flattr_tle = 'Laboratórios Experimentais: interface rede-rua'; var flattr_dsc = 'Tenho percorrido de bicicleta as ruas de Ubatuba tentando articular a visão de cidade como sistema operacional com a reflexão sobre o papel que deve exercer um Laboratório Experimental nos moldes do que propus no artigo sobre Inovação e Tecnologias Livres (parte 2). Qualquer cidade pode ser entendida como justaposição de fluxos de informação que se entrecortam, afetam-se uns aos outros e no processo criam realidades, oportunidades e também limitações. Essa visão quase óbvia sugere incontáveis formas de intervir na realidade local. Mas no momento estou procurando um foco específico para concentrar esforços. Uma imagem, um formato para inspirar e orientar. Minhas áreas de interesse continuam sendo a apropriação crítica de tecnologias, a experimentação e descoberta, o aprendizado em rede, a construção coletiva e circulação de conhecimento livre, a MetaReciclagem. É por aí que caminha esse post.
'; var flattr_tag = 'cidade,laboratórios,medialabs,metareciclagem,Sem categoria'; var flattr_cat = 'text'; var flattr_url = 'http://blog.redelabs.org/blog/laboratorios-experimentais-interface-rede-rua'; var flattr_lng = 'en_GB' -->Trackback URL for this post:
http://blog.redelabs.org/trackback/50
Inovação e tecnologias livres
Instigado pela proposta do baú da década (mas atrasado como contribuição), escrevi um texto sobre como estou vendo o momento atual. Dividi em duas partes: na primeira, analiso coisas que aconteceram nos últimos anos (em especial desde a criação do projeto Metá:fora até agora); na segunda coloco alguns temas que estão me interessando de hoje para o futuro. É um começo de conversa que tem a ver, entre outras coisas, com o que vem depois da inclusão digital, com a relevância das tecnologias para o futuro do Brasil e com inovação baseada em conhecimento livre. Espero comentários, críticas e sugestões.
Ler online no blog desvio:
Parte 1: a década que foi; Parte 2: hojes e depois.Também publiquei versões em PDF, Epub e Kindle no Archive.org (e replicando aqui também o PDF).
UbaLabGambiologia - A criatividade que nos faz humanos
Escrevi esse texto para o catálogo da mostra Gambiólogos, que aconteceu mês passado em BH.
Três minutos antes da abertura, artistas e integrantes da equipe de montagem ainda subiam e desciam as escadas do espaço Centoequatro carregando ferramentas e material. Atenção totalmente concentrada na solução de questões de última hora. Não poderia ser diferente. Fred Paulino, idealizador e curador da exposição, conta que o Gambiociclo, peça sua com Paulo Henrique 'Ganso' e Lucas Mafra que indica o caminho para a sala, é um trabalho em progresso - ela se transforma, ganha novos elementos, evolui ao longo de cada iteração. Faz parte da maneira gambiológica de fazer as coisas: sempre em transformação.
Antes mesmo de entrar na sala, um tapete feito de teclados de computador dá o tom lúdico, irônico e iconoclasta que emerge da exposição. Só quem já experimentou entende o prazer secreto de pisar em computadores, e os Gambiólogos resolveram compartilhar essa sensação com os visitantes. Como os exemplos de gambiarra abundam nas culturas brasileiras, Fred traçou uma linha para a seleção: as obras precisariam envolver (e questionar) tecnologias. A primeira impressão ao circular pela mostra evoca justamente o questionamento do determinismo tecnológico - a suposta autoridade dos fabricantes de qualquer produto em encerrar seus usos possíveis. Na Gambiologia, a afirmação "isso serve para..." é substituída pela questão: "o que pode ser feito com isso?". Essa inversão está presente nas colagens de artefatos como o "Gabinete de Curiosidades Jean Baptiste 333" ou o "Trigger de Objetos Cotidianos". São reeditados também alguns já conhecidos contrastes ou tensões contemporâneas: analógico/elétrico ("Furadeiras"), analógico/eletrônico ("Desconcerto"), abstrato/sensível ("Sequenciador de Papelão + V^2"). Outras obras ainda incorporam um maior grau de complexidade ("Performance de desenho autônomo", "Self stimulating closed loop", "Eyewriter"), mas sem fugir do componente funcional e estético da baixa tecnologia.
Mais do que mero elogio da precariedade, a Gambiologia promove uma confluência entre a valorização da sensibilidade do artesão - o manuseio, o conhecimento tácito, os materiais -, o reuso como caminho inclusive para a redução do impacto ambiental, o ativismo midiático e o experimentalismo criativo. Como pode ser efetivamente ouvido e sentido na mostra, a Gambiologia dialoga com os mundos do design e da arte, como um lembrete daquele impulso criador que opera no ruído, no improviso, na cacofonia e na exploração da indeterminação - eterna tentativa de dominar e superar o programa da máquina, como sugeria Flusser. Aquilo que no "mundo real", longe das exposições de arte, é instintivo - a adaptação criativa às circunstâncias - vira aqui um caminho estético consciente, que incorpora uma reflexão ética e política, crítica do consumismo insustentável, do mundo superficial da pose e das aparências. Que não se confunda a gambiologia com o design vernacular. Enquanto este captura elementos do cotidiano, aquela traz a criatividade tácita das ruas para dentro do próprio processo de criação e desenvolvimento. Ela configura também uma ponte de ligação entre essa potência criativa de inspiração popular brasileira com tendências que têm emergido recentemente em todo o mundo - a cena maker, as plataformas de hardware aberto como o Arduino, os laboratórios de prototipagem e fabricação.
O que pode surpreender no trabalho dos Gambiólogos é a familiaridade quase primitiva que ele emana - uma certa organicidade e a certeza do potencial de interconexão e recombinação entre os elementos constituintes de todas as obras expostas. Surge a sensação de que tudo ali pode ser reinterpretado, remanejado, remixado. As peças trabalham com uma diversidade de materiais: canos, papelão, computadores, hardware e software livre, latas de spray, câmeras, garrafas, motores de passo, sensores, liquidificadores, silver tape e por aí vai. Um hipotético exercício colaborativo de reconstrução - em que se desmontassem todas as obras e convocassem os artistas para criar outras com os mesmos materiais - seguramente resultaria em outros trabalhos interessantes e questionadores. O espírito gambiológico está mais na atitude de enxergar o mundo como repleto de recursos interpretáveis de múltiplas formas do que nas escolhas específicas de cada obra.
A gambiarra está associada ao tipo de adaptabilidade que em última instância nos faz humanos - observar o entorno e, com o que temos à mão, solucionar problemas. É um conhecimento ancestral, que até há pouco aparecia espontaneamente nas culturas brasileiras como resultado da precariedade. Os eventuais bons mares do crescimento econômico, da redistribuição de renda e da maior oferta de produtos manufaturados não podem nos deixar esquecer dessa sabedoria cada vez mais necessária em um mundo de crises econômicas, colapso ambiental e demanda por criatividade. Iniciativas como a mostra Gambiólogos estão aí para nos recordar disso.
MetaReciclando as cidades digitais
Participei recentemente de um seminário sobre Cidades Digitais, organizado pela Unesp de Araraquara e realizado no SESC daquela cidade. Foi uma boa oportunidade para aprofundar algumas reflexões que já andei esboçando nos últimos tempos. Minha apresentação transformou-se no texto abaixo. A primeira parte não tem muita novidade, mas pode ser interessante pra quem está conhecendo a MetaReciclagem agora. Os slides da apresentação estão disponíveis no scribd.
Esse post faz parte da blogagem coletiva de inverno do Mutgamb, inspirado por Pozimi.
Redelabs – Caminhos brasileiros para a Cultura Digital Experimental
Em outro post, falei sobre dois modelos lembrados com frequência quando se fala em laboratórios de mídia. Para o nosso contexto aqui no Brasil, esses exemplos externos são importantes menos por suas características específicas – infra-estrutura, funcionamento, costura institucional ou metodologias – do que por sua adequação às características do contexto em que se inserem. Também levantei nesse texto anterior que uma certa sensação de liberdade pode ser o elemento que esses modelos diferentes têm em comum. Como a proposta do projeto redelabs é promover o diálogo entre essas iniciativas de todo o mundo com o que é interessante e possível fazer aqui no Brasil, quero começar a desdobrar um pouco das nossas particularidades, e pensar em como isso pode apontar caminhos futuros. Abaixo eu tento relacionar alguns fatos, eventos, estruturas e redes que têm alguma relação com isso. Estou certamente bastante limitado à minha própria experiência, e adoraria receber comentários e sugestões sobre o que mais for relevante.
Tecnologias enredadas no Brasil
Nos anos recentes, as tecnologias de informação e comunicação se desenvolveram em um ritmo bastante acelerado, disseminando-se por praticamente todas as áreas do conhecimento. Os brasileiros viramos recordistas no tempo mensal de uso de internet, especialmente com o uso em massa de redes sociais – uma tendência que seria vista em todo mundo alguns anos depois do que por aqui. As tecnologias em rede fazem cada vez mais parte do imaginário – mais um motivo para experimentação, crítica e reflexão. Grande parte dos programas de inclusão digital do terceiro setor e do setor público também já entenderam que sua missão não pode estar limitada a oferecer acesso e atuam na dinamização de projetos, formação de público e desenvolvimento do potencial de jovens criadores.
Em particular, cresceram de maneira significativa as ações no cruzamento entre arte, ciência, tecnologia e sociedade. Uma quantidade cada vez maior de espaços, eventos, redes e programas dedicam esforços a promover reflexão, produção e a articulação na área – costurando atuação entre as instituições culturais e artísticas, a academia, os coletivos independentes, o governo e a indústria. Artistas, produtores, estudantes e curiosos têm cada vez mais oportunidades para se conhecer e aprender uns com os outros. Não só brasileiros – frequentemente, os eventos realizados aqui contam com a presença de nomes importantes do mundo todo, enquanto eventos de todo o mundo também convidam representantes brasileiros. Instituições de naturezas diversas têm fomentado a criação e exibição de projetos críticos e engajados, reconhecendo a relevância dessa produção. O mesmo em eventos como o FILE, o Emoção Art.Ficial, o Arte.Mov, a Submidialogia e tantos outros. No Brasil ainda não existe uma visão clara de circuito, mas grande parte dessas iniciativas operam em parcerias informadas. Estratégias conjuntas já parecem estar no horizonte, é só questão de criar os mecanismos adequados.
Uma particularidade: “mídia” e “laboratório”
Eu demorei para prestar atenção nisso, mas é emblemático que aqui no Brasil a gente fale em “a mídia” como uma palavra no singular. Talvez isso seja um eco dos tempos em que praticamente o único meio de comunicação relevante era aquela grande emissora de televisão. Talvez tenha a ver com a tendência que os meios de comunicação de massa têm ao uníssono, ao alinhamento e à falta de diversidade. De qualquer forma, às vezes me dá a impressão de que usar o termo “mídia” para identificar esse tipo de experimentação convergente para a qual queremos propor caminhos acaba por limitar bastante sua compreensão: muitas pessoas pensam que se trata de “fazer vídeos”, ou então de “fazer meios de comunicação alternativos” – o que é necessário, mas não é o foco aqui. Um assunto sobre o qual todo mundo acha que precisa tomar uma posição clara a favor ou contra acaba tendo pouco espaço para aquele tipo de liberdade sobre o qual eu falava antes. Por isso a tentativa de desviar um pouco do foco na mídia e concentrar mais nas possibilidades de intercâmbio entre espaços de articulação, ou laboratórios.
Semana passada no Labtolab, Gabriel Menotti me falou que achava a ideia de laboratório tão ou mais complicada que a de mídia. Concordo que alguns dos significados geralmente atribuídos a laboratórios são realmente difíceis (falei sobre eles no outro post – exclusão, ênfase em infra-estrutura, desconexão com a realidade lá fora). Mas ainda assim, muitas interpretações são possíveis. Tentando equacionar uma construção que vá além da ideia disseminada de laboratórios de mídia, prefiro manter o termo que permite uma maior flexibilidade de interpretação.
Raqueando estruturas
Talvez porque até há pouco tempo não existia quase nenhuma possibilidade formal de financiamento de projetos experimentais, as pessoas interessadas na área aprenderam a ocupar todo espaço possível, mesmo em projetos com outras naturezas. Um exemplo emblemático é o papel que o SESC de São Paulo exerce há alguns anos – como um dos únicos espaços que abrigavam um tipo de experimentação que se posicionava entre o ativismo midiático e a educação. Muita gente começou ou desenvolveu a carreira oferecendo oficinas no SESC. Um caso próximo (entre dezenas ou centenas desenvolvidos por conhecidos): entre janeiro e fevereiro de 2007, eu organizei com Ricardo Palmieri o LaMiMe – Laboratório de Mídias da MetaReciclagem. Foi uma ocupação temporária da sala de internet do SESC Avenida Paulista, que ofereceu oficinas sobre eletrônica básica e hardware livre (arduinos, etc.), software livre (pd, cinelerra, ardour, etc.) e outras. Foi uma oportunidade excelente para troca de conhecimento e para conhecer gente nova. Mas o formato de oficina condiciona as trocas para um lado mais instrumental e pontual, e coíbe um pouco o ritmo mais caótico e despretensioso da descoberta. Por mais que se beneficiem mutuamente, a educação e a experimentação têm objetivos e naturezas distintas, e é necessário que aconteçam com respeito a essas diferenças.
O mesmo pode ser visto no contexto dos Pontos de Cultura: pessoas interessadas em desenvolver projetos experimentais mas que por força dos formatos possíveis acabaram se submetendo à lógica educacional. Repito: oficinas são fundamentais. Mas não são tudo.
Propondo novos caminhos
Em vez de ficar sempre tentando encontrar brechas nos formatos possíveis, precisamos pensar em quais são os formatos que podem dar conta de equilibrar a diversidade de necessidades pessoais, artísticas, institucionais e sociais.
Outro post aqui nesse blog debateu a questão da experimentação e da incorporação do erro dentro do processo. Em um desdobramento daquela conversa na rede MetaReciclagem, eu citei uma imagem que Ivana Bentes trouxe para o debate Arte Open Source (com Giselle Beiguelman e André Mintz, na última Campus Party): “a obra é o lixo do processo artístico”. O fato de grande parte dos mecanismos de apoio à arte ainda se basearem na ideia de obra pode ser uma das causas pelas quais existe mais competição do que colaboração. Como fazer para trazer essa dimensão do processo para dentro do ciclo? Hoje em dia, um espaço que tem recebido reconhecimento pela inovação e relevância é o Eyebeam, em Nova Iorque. Um dos formatos com os quais eles trabalham são as fellowships, bolsas concedidas para artistas destacados, não necessariamente ligadas a um projeto específico. Será que isso é um caminho interessante? Certamente, nos últimos anos têm aparecido oportunidades similares aqui no Brasil. Só para citar algumas: as bolsas da Funarte, que desde o ano passado reconhecem a cultura digital como uma área de investigação e produção, ou o programa Rumos do Itaú Cultural. Também o Prêmio Sergio Motta, o novo File Prix Lux e alguns recentes prêmios do Ministério da Cultura propõem questões próximas. O Minc ainda criou no ano passado o projeto XPTA.Labs, que se posiciona de maneira bastante incisiva na questão experimental, e justamente nessas semanas deve estar saindo o resultado do edital de Esporos de Cultura Digital, que também se propõe a apoiar espaços de articulação e produção.
Um pouco do meu pé atrás em propor uma política centrada em laboratórios parte do princípio de que a falta de infra-estrutura – equipamentos e acessibilidade – não é mais o maior obstáculo à produção. O coordenador de um laboratório de mídia europeu há pouco comentou comigo que está encarando um problema grave: o espaço e a infraestrutura de sua organização vão triplicar nos próximos anos, mas o orçamento para atividades deve diminuir em 30%. Ele questiona hoje em dia a retórica de infraestrutura que usou para conquistar apoio institucional em seu contexto. O que acho que faz mais falta aqui no Brasil é a falta de mecanismos adequados para a troca, exibição, formação de público e – é claro – sobrevivência. Estamos em um momento em que temos abertura para propor esses mecanismos.
Daí vêm algumas perguntas que tenho repetido nas últimas semanas para algumas pessoas, e que quero fazer também a qualquer pessoa interessada no assunto:
Faz sentido pensar em um projeto que tenha por foco apoiar e desenvolver ações de cultura digital experimental? No que ele deveria consistir? Como ir além do modelo de laboratório de mídia? Acesso à internet, equipamentos para produção e espaços de encontro estarão cada vez mais disponíveis. Se é possível fazer cultura digital experimental em uma livraria que ofereça internet wi-fi, no próprio quarto ou na garagem de casa, o que um espaço que se dedica a isso precisa ter para atrair as pessoas e fomentar a troca e a produção colaborativa? É possível construir uma conversa realmente colaborativa entre laboratórios? Pensar em um cenário em que as diferentes instituições e grupos envolvidos se proponham a, mais do que demandar recursos, também oferecer partes de sua estrutura, conhecimento aplicado e oportunidades de apoio para uma rede aberta de laboratórios de cultura digital experimental. Mais do que residências, promover itinerâncias e nomadismo comunicante pode ser uma boa. Qual a necessidade que temos hoje em dia de infra-estrutura? O Minc está caminhando no sentido de interligar seus espaços com fibra ótica – o que cria uma possibilidade de uso de banda larguíssima para experimentação e projetos. O que é possível propor em uma estrutura interconectada dessas?Ideias, correções ou sugestões? Aguardo demonstrações de interesse e comentários abaixo.
Laboratórios de Mídia – referências
A ideia de laboratório de mídia é uma construção diversa e bastante genérica – e justamente por isso, com significados distintos. Muitos modelos diferentes usam esse nome: de grandes estruturas que se propõem a dar forma ao futuro da humanidade, até iniciativas de pequenos grupos que, em sentido complementar, promovem a apropriação crítica das tecnologias, buscando humanizar o desenvolvimento e uso destas. Além de dezenas de outros formatos que se inserem no contexto da educação, do uso comercial de novas mídias, da busca artística formal, etc. Este post pretende explorar dois modelos emblemáticos e relacionados: o Medialab do MIT e alguns laboratórios de mídia europeus.
O Medialab do MIT é uma das maiores referências de um modelo que propõe grandes estruturas, ligadas à indústria de tecnologia e à academia. Ele cumpre um papel bastante complexo, e por vezes contraditório. Por um lado agrega pessoas criativas de todo o mundo, que trazem toda sua bagagem de vivências e referências para um ambiente multicultural e inovador, onde têm acesso a uma estrutura técnica e de conhecimento sem comparação. Por outro lado, o Medialab se insere em um contexto bastante delicado: provê patentes e inovações em um contexto econômico e político que se baseia na transformação do cotidiano em comércio. Mesmo que muitos dos projetos desenvolvidos no Medialab estejam baseados no estímulo à participação e à inclusão social, muitas vezes sua estrutura acaba legitimando um estilo de vida (um futuro imaginário) baseado no consumismo, na comoditização da criatividade e na manutenção de desigualdades em nível internacional a partir de um regime de propriedade intelectual apoiado pelo estado. Para não falar na tendência a um papel professoral que fica no limite entre a arrogância e o messianismo. O Medialab criou duas subsidiárias internacionais – na Irlanda e na Índia – que fecharam as portas depois de poucos anos de atuação.
Já alguns laboratórios de mídia europeus foram formados com outras bases – relacionados à arte em novas mídias, e/ou dialogando com o ativismo midiático ligado à cena squatter dos anos noventas, com os movimentos altermundista, do copyleft e do software livre e com uma matriz de atuação hacker/DIY. Seguem também uma certa linhagem da contracultura europeia que tem suas raízes em 1968 e em tudo que veio depois daquilo. Ao longo dos últimos quinze anos, esses laboratórios conseguiram aproveitar o interesse institucional advindo da disseminação das tecnologias de informação e comunicação para viabilizar estruturas e eventos que trouxeram resultados positivos para o mundo inteiro. O contraditório desse modelo está em uma certa crise de identidade que assume quando a retórica política das indústrias criativas tenta cooptar suas práticas para transformar toda essa potência em meras oportunidades de espetáculo e exploração comercial, trocando a reflexão e o aprofundamento por um vício superficial na novidade tecnológica. Esses laboratórios lutam para encontrar o equilíbrio entre a dependência de recursos do estado/empresas e o quanto precisam ceder em troca.
Existem muitas diferenças entre esses dois modelos, mas é importante buscar aquilo em que elas convergem. Apesar das diferenças institucionais, é possível ver uma condição em comum entre as pessoas que atuam nesses dois contextos: uma certa liberdade, que tem pelo menos dois diferentes aspectos. O primeiro é a liberdade de definição de temas de atuação. Sem dúvida é uma liberdade relativa e definida a posteriori, totalmente condicionada pela orientação temática de quem recruta e mantém essas pessoas. Mas ainda assim, fica a impressão de que elas ganham espaço por conta da paixão que nutrem por uma ideia, um insight ou um assunto, em vez de precisar se submeter a uma orientação prévia das instituições. Isso é o contrário do que elas encontrariam em um ambiente formal de trabalho ou usualmente no ensino tradicional. Certamente, essa liberdade não está somente nos laboratórios de mídia. Ela está presente por vezes no fomento à inovação na universidade ou em alguns mecanismos e instituições artísticas. Mas é um elemento que se pode identificar nessas estruturas tão diferentes entre si.
O segundo aspecto presente é a liberdade de experimentar. Em um sentido talvez bastante específico: os projetos que desenvolvem não requerem resultados objetivamente mensuráveis de imediato. Outra vez, ao contrário do mundo do trabalho, que avalia a todo momento a produtividade de qualquer ato e promove uma especialização que isola áreas de conhecimento. Como surgiu no nosso debate online da semana passada, esse aspecto experimental naturaliza (ou deveria naturalizar) o erro como elemento fundamental da criação.
Bem articuladas, essas liberdades propiciam um espaço de oxigenação e renovação, e talvez esses laboratórios emerjam como mediadores situados do conflito entre criação e consumo. Olhando sob um ponto de vista amplo, esse é um papel fundamental, que pode dar alguma pista sobre como podemos atestar a relevância da área. Exatamente nesse nicho que estamos observando, essa relevância não tem quase nada a ver com o impacto econômico direto da produção cultural, mas de seu papel simbólico. Seu papel de influência no imaginário social, de politização (em sentido amplo) daquilo que de outra forma é visto como mera ferramenta.
Esses projetos são quase sempre multidisciplinares e participativos. Existem dezenas, talvez centenas de instituições, projetos, redes mais ou menos organizadas e coletivos que se situam nesse cruzamento de áreas. Entretanto, elas próprias têm questionado a definição de laboratório de mídia. É uma longa discussão, e o que vai abaixo é só um resumo.
A ideia de laboratório implica certamente conotações positivas, como o aspecto experimental, a criação de conhecimento e ser um espaço de troca, aprendizado e teste de hipóteses. Mas também incorpora algumas limitações: sugere uma ênfase no acesso a infra-estrutura e equipamentos de alto custo, o que é cada vez menos o caso; traz uma sensação de exclusividade, de que só pessoas com alguma certificação podem ter acesso; e uma certa apreensão de que se trate de um ambiente não comprometido com a aplicação prática ou com a relevância de suas ações “no mundo real” – o eterno projeto piloto, que nunca sai da elucubração. Existem, obviamente, muitas outras interpretações possíveis para o termo, mas essas são as que emergem nas conversas com as pessoas envolvidas.
Já o tema mídia pode levar ao condicionamento à atuação com tecnologias de informação e comunicação, e com frequência esse é um dos aspectos menos importantes dos projetos desenvolvidos. Alguns deles só fazem um uso instrumental das tecnologias, e concentram-se muito mais em aspectos conceituais, estéticos, sociais, de gestão e outros. Em consequência, se cria uma situação na qual para inserir-se nos mecanismos de viabilização estrutural e financeira, alguns projetos precisam propor a utilização pro-forma de qualquer tipo de mídia, o que os desvia de seus objetivos reais.
De qualquer forma, o nome laboratório de mídia é mantido por falta de alternativa. Alguns se posicionam como laboratórios experimentais, outros explicitam que não necessitam de uma estrutura física própria posicionando-se como coletivos ou agências. Há ainda os deixam de questionar, e logo se veem com problemas internos de relacionamento porque as pessoas estão dedicando tempo demais a fazer coisas nas quais não têm nenhum interesse porque se deixaram condicionar pela estrutura institucional.
O que emerge das conversas com pessoas interessadas na área é um foco em experimentação, no cruzamento entre arte, ciência, cultura, tecnologia, educação e design, e em diálogo com a sociedade. Reconhecer que essa experimentação vai muito além do que geralmente se associa às ideias de laboratório e mídia é um começo, mas ainda precisamos conversar muito mais sobre que estratégias podem ser delineadas entre os diferentes atores, as diferentes forças e os múltiplos contextos que os circundam, em particular aqui no Brasil. Um bom caminho pode ser deixar temporariamente de lado toda a estrutura e as atividades dessas referências internacionais, e concentrar mais no que elas compartilham na essência: liberdade, experimentação, e temática multi-disciplinar. A partir daí a gente constroi a nossa resposta específica. Ou pelo menos tenta ![]()
Um resumo do Brasil profundo
Escrevi há dois anos um artigo que seria publicado como caderno submidiático #7 do des).(centro e posteriormente no livro Apropriações Tecnológicas. O que segue abaixo é uma tentativa de contar a mesma história sob a perspectiva dos laboratórios de mídia.
Em 2002, quando começou a articulação para a realização de um “Laboratório de Mídia Tática” em São Paulo, eu demorei alguns meses para entender porque o chamavam de “laboratório”. Entendi menos ainda quando o festival Mídia Tática Brasil finalmente aconteceu, muito mais focado em colocar as pessoas em contato do que em fazer coisas novas acontecerem ou promover experimentação. De qualquer maneira, ele promoveu o contato e a troca entre um monte de gente que se reencontraria várias vezes nos anos seguintes. Teve ainda o mérito de propor atividades no telecentro da Cidade Tiradentes, na Zona Leste de São Paulo, uma ação incipiente mas promissora de convergência entre o referencial ativista internacional e a realidade brasileira. Isso se aprofundaria, por exemplo no projeto Autolabs, criado e desenvolvido em 2004 por integrantes dos coletivos que estavam no MTB. O Autolabs sim acabou assumindo um papel mais experimental. Apesar de ser antes de tudo um projeto focado na educação midiática, ele proporcionou um ritmo de convivência entre as pessoas que levou a um grande nível de experimentação – técnica, social e administrativa. As bases do que foi desenvolvido e testado por ali seriam depois replicadas em muitos outros projetos, entre eles a ação cultura digital nos Pontos de Cultura.
No fim de 2003, alguns dos participantes do MTB fomos convidados para a última edição do Next Five Minutes, na Holanda. Conhecemos lá o pessoal do Sarai (Nova Déli), que tinha uma plataforma de intercâmbio com a fundação Waag (Amsterdam). Eles estavam lançando uma chamada para projetos para a plataforma. Pediam que se enviassem propostas para a criação de um centro de mídia para promover intercâmbio “sul-sul”. Foram selecionadas propostas do coletivo Mídia Tática – que propunha um ônibus que circulasse pelo Brasil – e da MetaReciclagem – que já tinha dois espaços de trabalho, em São Paulo e Santo André.
Ao longo do desenvolvimento do projeto nos meses seguintes, o Mídia Tática propôs uma estratégia para a criação de três centros de mídia – em Campinas, São Paulo e Rio. No Rio, Ricardo Ruiz e Tatiana Wells chegaram a criar o IP, um espaço na Lapa. Já a MetaReciclagem, à medida que se espalhava para novos espaços – o próprio IP, novas iniciativas em outros lugares do Brasil e a perspectiva iminente de implementação dos Pontos de Cultura, além de outros projetos públicos – decidiu não propor nenhum centro, mas pensar uma estratégia em rede para a ocupação de espaços que já existiam. Ela propunha não laboratórios, mas “esporos”, espaços auto-geridos que se comunicariam através de uma rede aberta.
Essas duas perspectivas foram apresentadas no encontro da plataforma no fim de 2004, na Índia. Segundo a avaliação dos parceiros internacionais, nenhuma das duas propostas no Brasil “estava pronta” para desenvolver um centro. Na opinião deles, ainda estávamos em uma fase prematura de organização. Hoje eu tenho mais elementos para afirmar que, pelo contrário, estávamos propondo uma forma de para-organização (como sugere Jamie King nesse PDF aqui). A plataforma Waag/Sarai se propôs a promover a residência de dois integrantes da MetaReciclagem no projeto Cybermohalla, em Nova Déli; e a apoiar uma publicação e um evento organizados pela Mídia Tática. O evento tornou-se a Submidialogia, que teve sua primeira edição em 2005 em Campinas, e depois outras edições ao longo dos anos – em Olinda, Lençois, Belém, Atins e Arraial d’Ajuda – a próxima será na Baía de Paranaguá.
Naquela primeira edição da Submidialogia, foram dados os primeiros passos para estabelecer-se o des).(centro, que incorporou desde o início todo o referencial de ação em rede e produção colaborativa – suas assembleias se realizam através da internet, e não existe a figura do presidente ou qualquer eufemismo equivalente. O próprio nome da associação já traz uma visão crítica do caminho tradicional das organizações – que muitas vezes começam com grupos de afinidade mas acabam tendendo à centralização, à especialização e à alienação.
Ao longo de todos esses anos, esse grupo bastante heterogêneo e disperso, assumindo diversas identidades dinâmicas e formando subgrupos que se mesclam e reformam o tempo todo, também realizaram outras ações e eventos – o festival Findetático, o encontro Digitofagia, as próprias conferências Submidialogia e muitos encontros e ações entremeadas no meio do cenário cultural e político. Agregou ainda muitas pessoas interessadas em diversos aspectos da apropriação de tecnologias. Realizou experimentação em diversas áreas, inclusive em formatos de organização e trabalho coletivo – até na própria implementação da cultura digital nos Pontos de Cultura, que incorporou princípios de autonomia, conhecimento livre, aprendizado em rede e outros, promovendo um diálogo profundo do formato hacklab com a realidade institucional no governo. E continua se refazendo a todo instante.
Uma Conversa com James Wallbank
 James Wallbank é diretor do Access Space, em Sheffield, criado em 2000 como o primeiro “free media lab” do Reino Unido. O Access Space foi um dos primeiros projetos no mundo a trabalhar com o reuso criativo de tecnologias, usando software livre e convidando a comunidade a se apropriar do espaço. James também criou a Low Tech, que trabalha “onde tecnologia, criatividade e aprendizado se encontram”. O Access Space e a Low Tech desenvolveram uma ação chamada “Grow Your Own Media Lab”, que mostrava como montar laboratórios autônomos e virou um guia impresso. Em 2009, ele liderou um workshop sobre Laboratórios de Mídia durante o Sommercamp Workstation, em Berlim. James também é integrante da rede Bricolabs.
James Wallbank é diretor do Access Space, em Sheffield, criado em 2000 como o primeiro “free media lab” do Reino Unido. O Access Space foi um dos primeiros projetos no mundo a trabalhar com o reuso criativo de tecnologias, usando software livre e convidando a comunidade a se apropriar do espaço. James também criou a Low Tech, que trabalha “onde tecnologia, criatividade e aprendizado se encontram”. O Access Space e a Low Tech desenvolveram uma ação chamada “Grow Your Own Media Lab”, que mostrava como montar laboratórios autônomos e virou um guia impresso. Em 2009, ele liderou um workshop sobre Laboratórios de Mídia durante o Sommercamp Workstation, em Berlim. James também é integrante da rede Bricolabs.
Levei uma conversa com James por email. Trechos relevantes abaixo:
efeefe: James, como eu te falei antes, estou começando um projeto com o Ministério da Cultura do Brasil que tem a ver com laboratórios de mídia, mas sob uma perspectiva diferente. Eu estou sugerindo que a ideia de laboratório de mídia está associada a referências que podem ter se tornado defasadas. Sem dúvida, o tipo de experiência coletiva que a gente tem hoje em dia é essencialmente mediada, mas eu acredito que essa mediação é menos importante do que seu aspecto enredado. O tipo de experimentação que temos visto e projetado (com software livre, hardware reutilizado e aberto, ambientes colaborativos em rede, engajamento distribuído e até num futuro próximo a cena de impressoras 3D) pode ser melhor entendida sob uma perspectiva de redes do que sob uma perspectiva da “mídia”. Chamar essa experimentação de midiática evoca um monte de limitações. Muito do ativismo midiático recente tem suas raízes nos anos noventa, quando as pessoas precisavam ter acesso às novas ferramentas eletrônicas. Agora o horizonte é outro.
James: Eu entendo o que você quer dizer – eu nunca fiquei feliz com o termo “Laboratório de Mídia” (Media Lab). Nós tivemos muitas conversas online sobre qual melhor termo poderia ser usado para descrever o Access Space. Não gostamos do termo “mídia” que descreve alguma coisa ou alguém que media (ou seja, fica no meio) e nós não gostamos do termo “laboratório” que sugere algumas coisas boas (experimentação, pesquisa) mas também sugere algumas coisas ruins (exclusividade, academia, desconexão da prática). Um pesquisador que debateu isso com a gente em um simpósio falou “vocês deveriam descrever o Access Space como um ‘espaço de acesso’ . É exatamente isso que ele é. O problema de vocês é simplesmente fazer as pessoas entenderem esse termo”.
É claro que muita gente pensa que o “acesso” do Access Space se refere a acesso a tecnologias. Na verdade, se trata de acesso a pessoas, a habilidades, a inspiração, a amizade. Nós começamos a entender que a tecnologia em si é como um dedo apontando alguma coisa – a criança olha para o dedo, o adulto olha para onde ele aponta. Para nós, a tecnologia aponta para auto-expressão, interconexão, compartilhamento, desenvolvimento de habilidades, confiança, criatividade e capacidades.
De volta às palavras, nós discutimos muitos termos – aqui vão duas listas que nós desenvolvemos no Sommercamp Workstation em Berlim no ano passado (em uma oficina liderada por mim e Jordi Claramonte):
Lista 1 – Função:
Mídia, Comídia, Social, Cidade, Transformacional, Inovação, Mudança, Inspiração, Informação, Tecnologia, Realidade, Ofício, Praxis, Epistemológico, Aprendizado, TI, Experimental, Pesquisa, Inter-, Operativo, Coletivo, Acesso, Crescimento, Imaginação, Comunidade, Crítica, Vizinhança, Co-, Comum, Ação, Aberto, Humano, Conexão, Compartilhamento.
(os hífens indicam prefixos)
Lista 2 – Lugar:
Lab, Utopia, Oásis, Bem, Espaço, Jardim, Fazenda, Playground, Complexo, Rede, Kibutz, Agrupamento, Cozinha, Nodo, Cruzamento, Intersecção, Junção, Conexão, Enxame, Cardume, Rebanho, Horda, Ninho, Teia, Colmeia, Obervatório, Coletivo, Centro, Nó, Oficina, Comunidade, Nuvem, Rossio, Estrutura, Lugar, Plataforma de Lançamento.
Nós debatemos e debatemos, mas não conseguimos encontrar uma resposta. Foi muito divertido. No final sugerimos que seria ótimo criar uma ferramenta online onde você pudesse pôr seus valores, ou apenas palavras aleatórias, e a ferramenta diria o que seu centro (lugar, espaço, o que for) se chamaria.
Algumas respostas, como “Agrupamento de Inovações” carregavam claramente insinuações corporativas, mas muitas eram realmente interessantes e iluminadas. Nós particularmente gostamos de “Jardim de inovação”, “Nuvem transformacional” e “Cozinha Epistemológica”.
efeefe: nós estamos chamando esse novo projeto de Redelabs – laboratórios enredados. Não tenho ideia de onde ele vai parar, mas a ideia geral é ultrapassar o modelo de laboratório de mídia (estrutura, ferramentas, exclusividade) para uma estratégia mais distribuída (ações enredadas entre laboratórios).
James: Muito interessante! Redelabs pode ser um termo melhor do que “Laboratórios de Mídia” mas ainda pode ter questões – a palavra “rede” também é fetichizada e mal-interpretada. Eu consigo imaginar “network labs” sendo um novo aplicativo do Google ou o nome de um novo plugin para o Facebook ![]()
efeefe: Heh, de fato. Mas nossa estratégia é usar “rede” mais como um desvio do que um objetivo em si. Estamos elaborando isso como uma crítica à insistência em “laboratórios de mídia” como um termo genérico. Não estamos tentando somente substituir o termo por outro, mas sim propor uma multiplicidade de definições – como a lista que vocês elaboraram no Sommercamp.
James: Eu tenho que dizer que apesar de eu gostar (e concordar totalmente com) a proposição de que o valor real está na “conexão” que acontece dentro, entre e ao redor de laboratórios, também é necessário haver um centro de gravidade – um espaço físico onde as pessoas se encontram na vida real. É crucial que seja um espaço onde as pessoas se encontram acidentalmente, além de quando elas planejam, e esse espaço deve ter as ferramentas que possibilitam que coisas aconteçam.
efeefe: Claro. Quando falamos de uma estratégia em rede, não é uma 100% virtual ou planejada. Na verdade, estamos totalmente baseados em espaços, pessoas e o significado criado quando essas duas coisas se misturam. O que é mais importante estrategicamente em definir o projeto como enredado não é em oposição a situado, mas em oposição a institucionalizado, centralizado. Estamos na verdade respondendo a uma demanda cultural percebida pelo Ministério da Cultura no Fórum da Cultura Digital, mas invertendo a perspectiva – em vez de criar novos espaços/laboratórios de mídia, estamos propondo que os diversos espaços existentes trabalhem juntos. É isso que estamos definindo como “enredados” nesse contexto. Diversidade, diferença e serendipidade são cruciais.
James: Se você tem somente encontros que são planejados, e você não tem um lugar consistentemente aberto fica difícil engajar novas pessoas, exceto pessoas que você já conhece, e que por isso são de alguma forma parecidas com você.
Diversidade é importante para a inteligência coletiva (ver “A sabedoria das multidões de James Surowecki sobre isso). Sem diferença interna de integrantes, é difícil para qualquer organização realmente entender a si mesma, seus efeitos, e sua relação com o mundo exterior.
É crucial para a diversidade dos laboratórios que as pessoas que são diferentes dos membros existentes em termos sociais, de atitude, educação e cultura tenham a chance de participar. É por isso, acredito eu, que um enredamento hábil é importante, e conexão arbitrária é importante também. Um dos problemas com a internet é que, quando você pode se conectar com milhões de pessoas diferentes, é fácil acabar só se conectando com o seu tipo de gente. (Pense em adolescentes que falam com amigos que gostam todos das mesmas bandas, usam as mesmas roupas, compram nos mesmos lugares… pense em adultos que gravitam em torno de websites políticos que reforçam suas próprias opiniões, onde debatem com pessoas que concordam com as ideias deles).
efeefe: Sim, o efeito câmera de eco. Mas quando se trata de espaços enredados, eu acredito que isso pode ser superado por um grande diálogo com eventos públicos – trazer arbitrariamente pessoas anônimas para os espaços com frequência.
E sobre a percepção de um movimento desde “mídia” para “redes” – faz algum sentido para você? Quais as consequências disso?
James: Eu acredito que nós ainda temos um problema em descrever o conceito que estamos tentando agarrar. Nós lutamos diariamente para explicar o que o Access Space é em uma frase simples. Mas eu acredito que o conceito central pode estar se tornando mais claro. TICs (essencialmente, tecnologias de conexão) têm uma tedência a centralizar – elas centralizam oportunidades, visibilidade, riqueza, habilidades, capacidades, fama, dinheiro, poder, transporte, pessoas, recursos… Dessa centralização também decorre um aumento na especialização – a sociedade pede que as pessoas façam coisas cada vez mais especializadas. Quase parece que a humanidade é subserviente à lógica tecnológica – o ideal humano se torna somente mais um componente tecno-industrial. Existem muitas razões (de integridade, sanidade e robustez) para dizer que essa tendência à centralização, à especialização e à inequalidade podem ser uma coisa ruim.
O que estamos buscando são intervenções locais que revertam o fluxo – que cooptem as tecnologias de conexão digital para distribuir, para descentralizar, para empoderar localmente, para criar possibilidades de autonomia. Posto de outra forma, estamos querendo ver como a tecnologia pode se conformar às necessidades humanas, e não o contrário.
Voltando à questão de nomes (e pensando mais sobre a “multiplicidade de termos” que, como você mencionou, tende a emergir quando a gente começa a tentar melhorar o termo “laboratório de mídia”) eu sou levado a pensar sobre os modelos de negócios dos labs. Eu penso que nossa dificuldade em nomear esses “laboratórios” locais ou “espaços sociais” ou “commons” vem da multiplicidade de propósitos deles. Eu quero dizer o seguinte:
Muitas pessoas (principalmente patrocinadores) nos perguntam “Qual é o modelo de negócios do Access Space?”. Minha resposta (depois de oferecer uma planilha e um diagrama da organização que faz com que eles se sintam seguros) é isso:
Todo negócio ou organização no nosso sistema sócio-econômico atual tem exatamente o mesmo modelo de negócios: focar em alguma coisa – fazê-la melhor, mais barato, mais rápido, de maneira mais eficiente ou mais conveniente. Essa é a “Proposta Única de Vendas” do negócio. Otimize a maneira como você entrega a coisa para o mercado, e você terá sucesso.
Perceba que esse modelo de negócios não se aplica somente a negócios “com fins lucrativos”. Ele se aplica até a coisas sem fins lucrativos, como igrejas! (Melhor pregador, fácil de chegar, maior estacionamento, construção mais esperta, vitral mais inspirado… etc. etc.).
O Access Space (em comum com muitos Bricolabs) tem um modelo de negócios diferente. Nosso modelo diz “não pegue uma coisa que você faz melhor – faça as coisas que precisam ser feitas. Não foque em otimizar a eficiência – em vez disso continue indo e responda às diversas questões relacionadas à medida que elas surgem. Não interrompa suas práticas que funcionam para responder questões emergentes de maneira mais eficiente – apenas faça o melhor que puder, com os recursos disponíveis. Permaneça flexível e tente ao máximo fazer você mesmo.
Perceba que há apenas uma palavra-chave na minha descrição do modelo que oferece apenas um foco – “relacionadas“. Eu sugiro que é possivelmente inviável mediar, explicar e então envolver pessoas com sucesso se você não tem nenhuma temática (a nossa é o reuso criativo de tecnologias), mas eu queria ver alguém tentar!
Então, será que nossa dificuldade com nomes é um sintoma da nossa resistência ao foco e à otimização?
Enquanto isso, acho que começo a perceber alguma outra coisa (sobre a qual provavelmente é muito cedo para falar, mas vou tentar). Com o Access Space ou qualquer outro projeto semelhante, “o produto é o processo“. Em outras palavras (três tentativas):
O trabalho de reconstruir computadores cria um computador reutilizado. Mas isso é um subproduto de valor limitado. O computador pode quebrar durante a remontagem, mas o processo ainda será útil. O produto real e duradouro é o conhecimento, a habilidade, o envolvimento, o prazer, e atividade da pessoa que o faz. O trabalho de organizar uma exposição – as habilidades, capacidades, redes e inspiração criadas ao organizar uma exposição de arte no Access Space são os valores mais significativos adicionados. A mostra em si é, mais uma vez, somente um subproduto do processo. A localização do valor adicionado no Access Space é na atividade e na conexão – o que as pessoas estão criando é de importância secundária, porque a coisa principal que eles estão criando é a si mesmas, suas comunidades e suas experiências.Uma hipótese: será que nos nossos termos para esses espaços de mídia e redes, deveríamos incluir palavras como “fluido”, “flexível” e “configurável”? Talvez cada uma dessas coisas não seja um laboratório de mídia, mas de maneira mais precisa, uma “rede flexível de atividade local“. Mas de novo, talvez “flexível” seja muito “mole” – essas redes também precisam ser coerentes… ou talvez o nome “névoa de ação“?
efeefe: isso me faz lembrar do encontro dos Bricolabs no Wintercamp ano passado, e sua tentativa de entender o que os integrantes da rede Bricolabs têm em comum como algo difícil de identificar – menos interesses objetivos, e mais algo subjetivo como um aroma. Esse tipo de identidade fluida é mesmo difícil de definir…
James: definir significa pensar “sobre o fim de”. O tipo de prática na qual estamos interessados não tem um fim, uma borda ou um limite. Descrever significa “desenhar uma linha em volta”. Se o que estamos considerando desaparece sem traços, o lugar onde se desenha a linha é arbitrário, e sempre inclui uma proporção maior ou menor do fundo.
O que estamos tentando fazer é encontrar o centro (ou a zona mais densa da neblina!). O fato de uma coisa não ter um limite não quer dizer que não tenha um centro. O fato de uma coisa ter uma forma flexível não quer dizer que não tenha propriedades consistentes.
efeefe: e sobre intercâmbios em rede?
James: me parece que no momento os únicos intercâmbios de valor (ou seja, interações) que existem entre espaços são acadêmicos, teóricos, conceituais e inspiracionais. Existem intercâmbios pessoais de amizade e comunalidade também – mas esses são difíceis de avaliar.
Existem muitos intercâmbios concretos menores (expertise “dura”) e quase nenhum intercâmbio de valor agregado (serviços). Eu acho que seria bom aumentar o número e diversificar o tipo de intercâmbio. Suspeito que o desenvolvimento dessas redes sugeriria maneiras pelas quais nós (coletivamente) poderíamos atrair recursos.
Redelabs – Contexto
Remixando um texto já publicado antes, trazendo novos insights, etc…
No contexto internacional das novas mídias e da arte eletrônica, os medialabs - laboratórios de mídia - têm um papel essencial – desde o emblemático medialab do norte-americano MIT, passando por iniciativas diversas em países europeus como o Medialab Prado de Madrid e a Tesla de Berlim, até projetos de intercâmbio com países em desenvolvimento como a plataforma Waag/Sarai entre Holanda e Índia.
A posição que tais laboratórios ocupam, sempre se adaptou às características cambiantes do próprio campo em que atuam. Se muitos medialabs funcionaram como espaços de acesso quando as tecnologias não eram tão acessíveis, atualmente eles têm por desafio permanecer relevantes em uma época de disseminação de tecnologias. Mesmo no Brasil, um computador pode ser comprado em prestações baixas em qualquer hipermercado e as conexões de banda larga têm se expandido a cada trimestre.
Em uma época na qual o acesso a tecnologias de produção e publicação de mídias está cada vez mais facilitado, um cenário em que as redes abertas fazem a informação circular diretamente entre as pessoas, qual a razão de existir de um laboratório de mídia? A dinâmica do trabalho criativo tem se transformado de forma cada vez mais rápida, e a estratégia “build it and they’ll come” não faz mais sentido. Para incentivar a produção criativa, é necessária uma sensação de apropriação e de gestão compartilhada, no sentido da reconstrução da própria idéia de espaço público. Isso demanda a reinvenção do próprio imaginário dos laboratórios de mídia. Que tipo de relação uma estratégia para laboratórios de mídia deve manter com o que tem sido construído nos últimos anos como uma cultura digital eminentemente brasileira?
Mais do que oferecer simplesmente uma estrutura, os medialabs mais interessantes de hoje em dia engajam-se em um diálogo cada vez mais aberto e crítico com o meio com o qual se relacionam, e tornam-se espaços de referência e intercâmbio, cabeças de rede, muito mais agenciando conversas do que expressando uma posição própria específica. Esses espaços, em vez de buscar exclusividade, concedem a artistas e coletivos a liberdade de adotar estratégias nômades, impermanentes e autônomas para sua produção, articulação e divulgação. Com isso, encontram relevância mesmo em um mundo de comunicação fragmentada e desestruturada.
Apropriação de redes
A criação e dinamização de redes de articulação, produção e distribuição de cultura digital não pode se limitar à estrutura. Um traço característico das culturas brasileiras é justamente a força que as redes adquirem no dia a dia. Chama a atenção em todo o mundo o nosso nível profundo de apropriação de ambientes sociais online, o recorde mundial de horas conectados, a naturalidade cotidiana da gramática da rede.
Algumas das iniciativas brasileiras mais relevantes no cenário da mídia eletrônica são exatamente aquelas que se configuram como redes abertas. É necessário tratar essa perspectiva não só como ferramenta ou estrutura, mas como eixo conceitual – a construção de novos horizontes sobre espaços experimentais e de produção artística, e entender como isso dialoga com nossa maneira única de negociar os espaços cotidianos. Em outras palavras, não só usar uma rede para falar sobre arte, mas essencialmente tratar a própria rede como um projeto experimental, de arte nos novos meios de comunicação.
Laboratórios em Rede
A reflexão da plataforma RedeLabs vai no sentido de propor um passo adiante, em que se mesclam os referenciais de laboratórios de mídia e a cultura digital brasileira. Ao longo dos próximos meses, vamos propor estratégias para o estímulo de redes que articulem espaços de produção nesse sentido.
Colaborações serão sempre bem-vindas.
Gambiarra - criatividade tática
Por Felipe Fonseca e Hernani Dimantas
Mandamos esse texto para a publicação do Paralelo, evento que aconteceu em março/abril de 2009 em São Paulo. Devem sair uma versão impressa e uma POD (print-on-demand) nos próximos meses.
A gambiarra aparece como a arte de fazer. A re-existência do faça-você-mesmo. Sem todo o ferramental, sem os argumentos apropriados, mas com o conhecimento acumulado pelas gerações. Fazer para modificar o mundo. Um contraponto ao empreendedor selvagem. Fazer para transformar aquilo que era inútil num movimento ascendente de criatividade. A inovação está presente no DNA pós-moderno, no pós-humano. Numa vida gasosa. Abrimos aqui parênteses para fazer uma crítica ao Bauman com suas diversas modernidades líquidas. O líquido se acomoda ao recipiente. Seja um copo, um vaso ou apenas a terra contra a qual o oceano se deixa existir. O gasoso flui no espaço, no tempo e no ser em existência. Não só líquida ou gasosa, a pós-modernidade é a multiplicidade de estados que se misturam, na confluência da Ipiranga com a São João, na co-existência de todos os níveis de desenvolvimento econômico e tecnológico. Uma gambiarra que remixa, modifica, transforma e se mistura. Traço comum da inventividade cotidiana, do improviso, da descoberta espontânea, da transformação de realidades a partir da multiplicidade de usos. O mais trivial dos objetos, lotado de usos potenciais: na solução de problemas, no ornamento improvisado, na reinvenção pura e simples. O potencial de desvio e reinterpretação em cada uso. A inovação tática, acontecendo no dia a dia, em toda parte.
Gambiarra é um termo em português que no dicionário denota uma extensão elétrica, mas ali no mundo real adotou (naturalmente?) outro significado ao qual só podemos tentar aproximações: improviso, solução temporária, bricolage, desconstrução, precariedade. É tida como consequência de uma sociedade ainda não totalmente amadurecida: como não temos as estruturas apropriadas, as ferramentas adequadas, os profissionais especializados (ou o dinheiro para contratá-los), a gente improvisa. Desloca a finalidade desse e desse objeto, soluciona as coisas por algum tempo, e assim vai levando.
Mas a gambiarra é muito mais do que isso. O ideal de sociedade hiper-especializada, com conhecimento compartimentado, guardado em gavetinhas e vendido em embalagens brilhantes, já deu sinais de esgotamento. A aceleração da aceleração do crescimento econômico já começou a vacilar (e nem vamos falar em crise, ok?). O modelo de desenvolvimento do século XX não fechou a conta: os países ricos não conseguiram integrar as populações de imigrantes, criaram uma sensação de estabilidade e prosperidade totalmente ilusória, transformaram toda produção cultural e toda solução de problemas em comércio. Em nome do pleno emprego e de uma sociedade totalmente funcional, as pessoas comuns perderam uma habilidade essencial: a de identificar problemas, analisar os recursos disponíveis e com eles criar soluções. Em vez de usar a criatividade para resolver problemas, as pessoas pegam o telefone e o cartão de crédito. Todos vítimas da lógica do SAC!
Esse movimento embute a semente de sua própria reação. O faça-você-mesmo é a sequela dele. As novas gerações assumem a necessidade de ação. Não dá para ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Há que se fazer a diferença. Mesmo nos países ricos e nos centros urbanos brasileiros, a repressão ao impulso inventivo cotidiano causa uma insatisfação que acaba sendo canalizada para atividades criativas. Inventores e inventoras em potencial buscam reconhecimento e troca em seus pares, e a gambiarra renasce. A entrada das novas tecnologias nos tem aberto alguns espaços. As pessoas estão cada vez mais construindo atalhos para a participação em rede. Grupos de afinidade se encontrando para organizar hacklabs, iniciativas faça-você-mesmo, software livre, robótica de baixo custo, hardware aberto e experimentos de diversas naturezas. Nesse sentido, a gambiarra, nosso traço tão brasileiro da gambiarra, não é atraso ou inadequação, mas sim um aviso e um apelo ao mundo: desenvolvam essa habilidade essencial, e a sensibilidade que ela exige em relação a objetos e usos. Não se alienem de sua criatividade! Não acreditem nas estruturas do mundo ocidental que querem transformar a criatividade (as "indústrias criativas" e todas as suas falácias) em nada mais que um setor da economia, restrito e regulamentado. Criatividade não se trata de submissão individual ao mercado "criativo" que tudo transforma em produto, mas do estímulo à capacidade de invenção em todas as áreas.
A gambiarra ainda não virou produto. Precisamos resistir a isso. Nosso espírito antropofágico facilita, mas as tentação de uma sociedade plenamente consumista estão sempre na esquina (ali na frente do shopping center, pra ser exato). Curiosamente, não é a precarização das pontas que faz do mundo globalizado uma ameaça para a gambiarra. O perigo é justamente o outro lado: traz o espectro de um tipo burro de desenvolvimento para os quase-desenvolvidos. Não podemos acreditar demais no sonho civilizado de uma sociedade em que toda aplicação de conhecimento vira consumo, porque isso destrói o potencial de criação nas pontas que vai ser cada vez mais importante.
Da mesma forma, é também fundamental questionar o uso de um referencial da gambiarra como mero instrumento de renovação estética, sem tratar desse aspecto importante de entender a criatividade como processo distribuído e transformador. Fica no ar a pergunta de Aracy Amaral citada em artigo de Juliana Monachesi questionando a chamada "estética da gambiarra" na mostra Rumos Artes Visuais 2005-2006 – Paradoxos Brasil: "Seria uma circunstância necessária com que os artistas brasileiros se deparam para produzir ou trabalhar com o descarte tornou-se um maneirismo?”. A gambiarra não pode ser mero ornamento formal para ocupar galerias - para desenvolver toda sua potência precisa ser legitimada, perder a aura de atraso e envolver cada vez mais gente na perspectiva de criatividade tática. Essas são as bases da Gambiologia. Não pretendemos um elogio da precariedade, do que é abaixo do ideal, daquilo que está aquém. Não, estamos atuando e construindo um mundo em que toda condição é vista como abundância. Com o espectro da invenção latente no dia a dia, qualquer problema é pequeno. Basta exercitar o olhar.
Cyberpunk de chinelos
Escrevi isso para o Simpósio de Arte Contemporânea que vai acontecer no fim do mês no Paço das Artes, em Sampa. Também vou mediar uma mesa sobre "Redes Sociais, Arquivo e Acesso".
O mundo virou cyberpunk. Cada vez mais as pessoas fazem uso de dispositivos eletrônicos de registro e acesso às redes - câmeras, impressoras, computadores, celulares - e os utilizam para falar com parentes distantes, para trabalhar fora do escritório, para pesquisar a receita culinária excêntrica da semana ou a balada do próximo sábado. Telefones com GPS mudam a relação das pessoas com as ideias de localidade e espaço. Múltiplas infra-estruturas de rede estão disponíveis em cada vez mais localidades. Essa aceleração tecnológica não resolveu uma série de questões: conflito étnico/cultural e tensão social, risco de colapso ambiental e lixo por todo lugar, precariedade em vários aspectos da vida cotidiana, medo e insegurança em toda parte. Mas ainda assim embute um grande potencial de transformação.
O rumo da evolução da tecnologia de consumo até há alguns anos era óbvio - criar mercados, extrair o máximo possível de lucro e manter um ritmo auto-suficiente de crescimento a partir da exploração de inovação incremental, gerando mais demanda por produção e consumo. Em determinado momento, a mistura de competição e ganância causou um desequilíbrio nessa equação, e hoje existem possibilidades tecnológicas que podem ser usadas para a busca de autonomia, libertação e auto-organização - não por causa da indústria, mas pelo contrário, apesar dos interesses dela. As ruas acham seus próprios usos para as coisas, parafraseando William Gibson. Em algum sentido obscuro, as corporações de tecnologia se demonstraram muito mais inábeis do que sua contrapartida ficcional: perderam o controle que um dia imaginaram exercer.
O tipo de pensamento que deu substância ao movimento do software livre possibilitou que os propósitos dos fabricantes de diferentes dispositivos fossem desviados - roteadores de internet sem fio que viram servidores versáteis, computadores recondicionados que podem ser utilizados como terminais leves para montar redes, telefones celulares com wi-fi que permitem fazer ligações sem precisar usar os serviços da operadora. Um mundo com menos intermediários, ou pelo menos um mundo com intermediários mais inteligentes - como os sistemas colaborativos emergentes de mapeamento de tendências baseados na abstração estatística da cauda longa.
Por outro lado, existe também a reação. Governos de todo o mundo - desde os países obviamente autoritários como o Irã até algumas surpresas como a França - têm tentado restringir e censurar as redes informacionais. O espectro do grande irmão, do controle total, continua nos rondando, e se reforça com a sensação de insegurança estimulada pela grande mídia - a quem também interessa que as redes não sejam assim tão livres.
Nesse contexto, qual o papel da arte? Em especial no Brasil, qual vem a ser o papel da arte que supostamente deveria dialogar com as tecnologias - arte eletrônica, digital, em "novas" mídias? Vêem-se artistas reclamando e demandando espaço, consolidação funcional e formal, reconhecimento, infra-estrutura, formação de público. São demandas justas, mas nem chegam a passar perto de uma questão um pouco mais ampla - qual o papel dessa arte na sociedade? Essa "nova" classe artística tem alguma noção de qual é a sociedade com a qual se relaciona?
É recorrente uma certa projeção dos circuitos europeus de arte em novas mídias, como se quisessem transpor esses cenários para cá. Não levam em conta que todos esses circuitos foram construídos a partir do diálogo entre arte e os anseios, interesses e desejos de uma parte da população que é expressiva tanto em termos simbólicos como quantitativos. Se formos nos ater à definição objetiva, o Brasil não tem uma "classe média" como a europeia. O que geralmente identificamos com esse nome não tem tamanho para ser média. Aquela que seria a classe média em termos estatísticos não tem o mesmo acesso a educação e formação. É paradoxal que a "classe artística" demande que as instituições e governo invistam em formação de audiência, mas se posicione como alheia a essa formação, como se só pudesse se desenvolver no dia em que a "nova classe média" for suficientemente educada para conseguir entender a arte, e suficientemente próspera para consumi-la.
Muita gente não entendeu que não só o Brasil não vai virar uma Europa, como o mais provável é que o mundo inteiro esteja se tornando um Brasil - simultaneamente desenvolvido, hiperconectado e precário. Não entendeu que o Brasil é uma nação cyberpunk de chinelos: passamos mais tempo online do que as pessoas de qualquer outro país; desenvolvemos uma grande habilidade no uso de ferramentas sociais online; temos computadores em doze prestações no hipermercado, lanhouses em cada esquina e celulares com bluetooth a preços acessíveis, o que transforma fundamentalmente o cotidiano de uma grande parcela da população - a tal "nova classe média". Grande parte dessas pessoas não tem um vasto repertório intelectual no sentido tradicional, mas (ou justamente por isso) em nível de apropriação concreta de novas tecnologias estão muito à frente da elite "letrada".
Para desenvolver ao máximo o potencial que essa habilidade espontânea de apropriação de tecnologias oferece, precisamos de subsídios para desenvolver consciência crítica. Para isso, o mundo da arte pode oferecer sua capacidade de abrangência conceitual, questionamento e síntese. Vendo dessa forma, as pessoas precisam da arte. Mas a arte precisa saber (e querer) responder à altura. Precisa estar disposta a sujar os pés, misturar-se, sentir cheiro de gente e construir diálogo. Ensinar e aprender ao mesmo tempo. Será que alguém ainda acredita nessas coisas simples e fundamentais?
ZASF - Zonas Autônomas Sem Fio
"Mr. programmer
I've got my hammer
Gonna smash my, smash my radio!"
Ramones, We want the airwaves
"Para explicar como as forças astrológicas poderiam produzir ação à distância, Mesmer postulou um fluido sutil que ele chamava fluidium, um meio diáfano que comunicava vibrações lunares para as marés da mesma forma que possibilitava que Venus e Júpiter ajustassem os destinos humanos. O fluidium tomava forma no conceito Newtoniano de éter, um fluido invisível que permearia o espaço e serviria como meio estático para a gravitação e o magnetismo, bem como sensações e estímulos nervosos. Para Newton, o éter servia para explicar como os corpos distantes do sistema solar comunicavam-se uns com os outros, e ao mesmo tempo livrar-se da abominável ideia de um universo em que existisse o vácuo."
Erik Davis, Techgnosis
Eletrônicos equipados com wi-fi são geralmente vistos somente como dispositivos de acesso à internet. Entretanto, assim como Brecht propôs para o rádio, é possível pensar em um uso alternativo das tecnologias sem fio para a criação de redes informacionais locais, não conectadas à internet e que não dependam de uma infra-estrutura centralizada. O acesso ubíquo à internet tem certamente um aspecto de integração, mas por outro lado também traz uma grande alienação do sentido de local: cinco pessoas sentadas em um café acessando seu email ou orkut com wi-fi são cinco pessoas mantendo-se alheias uma à outra e ao entorno. É certamente possível argumentar que essas cinco pessoas podem usar a internet para acessar informação local, mas é raro que tentem. Mesmo quando buscam esse tipo de informação, acabam buscando em estruturas centralizadas como o google ou a wikipedia.
Um dos conceitos fundadores da rede Bricolabs foi o de infra-estruturas genéricas de informação (generic information infrastructures). Em essência, tratava-se de adotar padrões abertos de comunicação para a criação de redes para usos múltiplos e não determinados, fazendo uso de dispositivos genéricos de informação (os GIDs, generic information devices) e tratando de incentivar a apropriação de possibilidades técnicas e como implementá-las. Buscava-se delinear estratégias para o desenvolvimento de ciclos de inovação baseados em informação livre (hardware aberto, software livre, espectro aberto e conhecimento/cultura livres). Foi a partir desse posicionamento que a Bricolabs conquistou o apoio e participação de pessoas e coletivos em todo o mundo que atuavam em projetos que compartilhavam dessa perspectiva, além de ter criado campo para o desenvolvimento de projetos relacionados, como o Bricophone.
Em todo o mundo, a tensão entre a liberdade na rede e as políticas de controle usando pretextos diversos - pirataria, pedofilia, etc. - chama a atenção para uma questão hipotética mas ainda assim presente: o que acontece quando alguém puxar a tomada da internet? A estrutura de domínios, que dá identidade à rede permitindo que as pessoas saibam como acessar os sites de outrxs, é controlada por uma organização norte-americana. A criação de infra-estruturas genéricas e autônomas, além de objetivamente possibilitar arranjos de rede diferenciados, também atua no sentido de desenvolver estratégias de sobrevivência para o pior cenário.
Rob van Kranenburg, um dos criadores da Bricolabs, publicou pelo Institute of Network Cultures de Amsterdam um ensaio chamado "The Internet of Things", em que chama a atenção para a necessidade de combater o hábito da indústria de TI em encapsular o conhecimento que embarca no desenvolvimento de seus produtos. Para fazer frente a essa tendência, é vital que se criem espaços de experimentação técnica e social, em que seja possível explorar (mesmo que à força) a indeterminação potencial dos mais variados dispositivos eletrônicos de comunicação. Esses espaços têm emergido em todo o mundo, atuando em rede e construindo ciclos de aprendizado e inovação que passam longe das estruturas tradicionais. No Brasil, uma dessas redes é a MetaReciclagem, que conta com algumas centenas de integrantes e dezenas de projetos e espaços.
Autonomia em rede
Desde que a MetaReciclagem começou a ser articulada, em 2002, alguns de seus integrantes tinham a intenção de desenvolver redes sem fio autônomas baseadas em hardware remanufaturado e software livre, mas só recentemente os equipamentos para conectividade wi-fi têm se tornado mais acessíveis. Hoje e possível retomar essa intenção original da MetaReciclagem, buscando as referências da rede Bricolabs e do projeto mimoSa, e aproveitando o conhecimento compartilhado por projetos como Burnstation, Freifunk, Guifi, Hive Networks e RedeMexe.
O núcleo Desvio propõe, nesse sentido, o desenvolvimento de zonas autônomas sem fio (ZASF), um conjunto de soluções de hardware e software para a criação de redes wi-fi autônomas para diversos usos experimentais e informacionais. É uma ação de uso crítico de tecnologias cada vez mais abundantes para a criação de zonas autônomas sem fio.
Um aspecto técnico do wi-fi - a criação de redes "ad-hoc", de ponto a ponto - pode ser estendido para a criação de redes mesh, em que cada equipamento conectado torna-se também parte de uma infra-estrutura compartilhada de rede. O projeto ZASF articula a implementação dessas redes com uma reflexão sobre algumas polaridades que emergem: criação de sentido local ou dissolvência na internet; compartilhar e acessar informação livre ou ensinar e aprender a partir da descoberta e do desafio; usar ferramentas comerciais remotas ou manter serviços de rede no próprio computador; etc.
Uma possibilidade ainda pouco explorada é o reuso de hardware para estabelecer as redes autônomas. Qualquer computador feito nos últimos dez anos é mais do que suficiente para oferecer serviços de rede como servidor web com sistemas colaborativos de gestão de conteúdo - wikis e blogs; servidor de chat e mensagens instantâneas; armazenamento e acesso de arquivos de mídia e documentação; e até serviços de stream de áudio e vídeo. Os aspectos de descentralização e auto-replicação das redes mesh também são estendidos ao projeto através da disponibilização de documentação e de todo o software necessário para a criação de redes semelhantes em outras localidades e contextos.
Na prática, o protótipo de ZASF é uma rede mesh localizada em espaço público, e acessível a qualquer dispositivo que queira se conectar a ela. Uma vez dentro da rede, qualquer tentativa de navegar na internet direciona o dispositivo para um site local, que dá acesso aos diferentes serviços disponíveis - wiki aberto, chat, diretório de mídia compartilhada, documentação técnica e conceitual sobre a própria rede, tutoriais e software para replicação, etc. Dependendo do contexto, a rede pode oferecer conteúdo específico, atuando como totem wireless ou espaço de informação.
Documentando
Vamos publicar toda a documentação relacionada ao projeto ZASF na
tag "wireless" do blog desvio
Sem fio - plataforma etérea
Como comentei no post anterior, já há algum tempo temos articulado referências sobre possibilidades relacionadas a redes sem fio. No começo era uma curiosidade técnica, mais uma potencial expansão de horizontes do eterno jogo de descoberta que é brincar com tecnologia livre (o que faz com que muita gente - eu incluído - acabe se dedicando a projetos que não dizem nada para outras pessoas, justamente porque não conseguem explicar essa dimensão do fascínio da descoberta, mas isso é outro assunto). Com o tempo, acabei misturando a pesquisa de redes sem fio com a exploração conceitual de paralelos entre magia e tecnologia (mais sobre isso no meu blog de tecnomagia). Também começava a formular uma questão: como pode se articular a perspectiva da MetaReciclagem e das várias mimoSas que rolaram por aí - que demonstram de maneira muito concreta o potencial da apropriação crítica de tecnologias - com esse universo mais etéreo das redes sem fio.
Coletei por alguns anos um monte de links e anotações até conseguir pensar em uma plataforma viável para isso. Queria algo na linha das infra-estruturas genéricas, com base em software livre. Brinquei um pouco com o OpenWRT, mas acabei ficando com o DD-WRT por um tempo. Ambos são sistemas baseados em GNU/Linux para ser instalados em roteadores wi-fi como o WRT54G. Fiz algumas experiências com eles, mas o armazenamento e a memória RAM desses roteadores são extremamente limitados para possibilitar muita coisa. Foi útil para expandir a rede aqui de casa com uma Fonera Liberta, mas pra criar redes locais mais versáteis precisava de algo mais.
Em março deste ano, durante o Wintercamp, conheci nas mãos do broda Alejo Duque uma Alix 3d3: um SOC (sistema em um chip) baseado no AMD Geode que para o tamanho, preço e consumo de energia é bem forte: 500Mhz e 256Mb de RAM, com vídeo VGA, duas portas USB e duas portas Mini PCI, além de placas de rede e som. Alejo usa o sistema para montar as Streambox, máquinas prontas para ligar na rede e começar a estrimar o que estiver entrando pela placa de som. Na Suíça, onde ele vive, custava o equivalente a cerca de trezentos reais. Ele fez a mão de encomendar uma e me mandar por correio.
Durante alguns meses, realizei alguns testes, descolei acessórios (um cartão sem fio e outro cartão CF) e aprendi um monte de coisas (tudo documentado aqui). A estação sem fio roda em uma rede mesh autônoma, oferece IP via dhcp, roda um servidor web, um servidor de chat. Cheguei a fazer testes com uma webcam, mas não tenho uma disponível por aqui. Fico pensando ainda em outras possibilidades de entrada e saída de dados (bluetooth, placa de som, sensores de presença, luminosidade, proximidade) detonando processos no totem. Fiz um vídeo mostrando o que acontece quando um cliente encontra e se conecta a essa rede:
Estabelecida a base tecnológica, acabei elaborando três vertentes potenciais (entre diversas possíveis) para o uso dessas caixas autônomas sem fio: máquinas trocadoras de mídias, inseridas em eventos e espaços públicos - culturais, turísticos, rurais, florestais -, recebendo e disponibilizando conteúdo na área circundante; máquinas móveis, embutidas em automóveis ou transporte público, que levem uma rede wi-fi carregada de conteúdo e serviços para qualquer lugar (que dialoga com as pesquisas sobre itinerâncias); e uma terceira linha que eu venho chamando Oraculismo - dialogando com a tecnomagia - que trata essas redes como espaços mágicos, em que o conteúdo só é revelado após negociação, troca ou descoberta.

O Oraculismo surgiu como ficção, um conto tecnomágico que nunca terminei de escrever. Mas foi se desdobrando como investigação estética e, possivelmente, jogo. Um elemento importante é contrapor-se a um tipo de alienação da localidade que o acesso ubíquo à internet pode favorecer, e possibilitar a criação de espaços informacionais - totens - totalmente contextuais, modificados e realimentados pelas pessoas que circularam por ali, onde ainda existem segredos. O desvelar de mistérios é um importante tipo de aprendizado. E ainda tem mais um desdobramento possível: a sincronização de dois totens precisa de deslocamento físico de pessoas que tenham consciência dos segredos, e as trocas diretas entre essas pessoas podem acontecer nos cantos do sistema: notas deixadas em espaços a que ninguém tem acesso, exceto o guardião que identifica os agentes que aprenderam a executar rituais pré-determinados. O guardião é um bot - um daemon - que fica esperando em um canal de chat. De acordo com os rumos que a conversa toma, ele começa a dar acesso a diferentes áreas de conteúdo e serviços disponíveis na rede local.
Próximos passos, pesquisa pros próximos meses: dar vida ao guardião do Oraculismo, para gerenciar os diversos tipos de interação possíveis. Prometo que conto mais assim que houver.

Sem fio - contexto, caminhos e bases
Uma das obsessões fundadoras do projeto metá:fora e da MetaReciclagem era a ideia de mobilidade e de redes sem fio. Alguns dos primeiros rascunhos de projeto que surgiram tinham a ver com dispositivos móveis, e uma das forças motrizes que nos fizeram necessitar de computadores para experiências era uma ideia alimentada pelo dpadua de criar infra-estruturas de rede autônomas com base nos projetos de redes wi-fi metropolitanas. De lá pra cá, percorremos muitos caminhos paralelos, fizemos um monte de experiências, mas essa possibilidade sempre nos acompanhou.
Semana passada eu estava lendo um artigo de Armin Medosch chamado 45 revoluções por minuto. Armin é um dos responsáveis, junto com a Hive Networks, pelo projeto Hidden Histories, que cria espaços públicos de distribuição de mídia a partir de redes bluetooth e transmissores FM de baixa potência. No artigo, entremeado em uma história das mídias eletrônicas, ele situa o surgimento das primeiras utopias sem fio na invenção do telégrafo sem fio, no sonho de Nicolas Tesla em transmitir energia sem fios e na criação do rádio. Afirma que nos Estados Unidos - ao contrário de quase todo o resto do mundo, onde o rádio era rapidamente controlado pelo estado -, houve uma grande proliferação de radioamadores, e que o espírito de garagem deles precedeu a primeira onda de hackers de computadores, criando um modelo de inovação fora do mercado. Falando sobre o imaginário sem fio dos dias de hoje, Armin contrapõe de maneira direta as aplicações restritas e limitadas das redes de telefonia celular (que, ao lado de redes sociais comerciais como facebook e myspace, ele chama "tecnocracia da sociabilidade") à liberdade de experimentação possível em tecnologias como o wi-fi (que operam em redes que não requerem concessão ou licenciamento):
"Empresas de telefonia celular parecem incapazes de levar a cabo todo o espectro de benefícios das tecnologias que implementam. A revolução da telefonia móvel foi mesmo assim um sucesso em termos de números de usuários da rede e de ganhos econômicos. Assim o contraste entre redes comunitárias sem fio e telefonia móvel 3G oferece em si um local preferencial para entender-se o fetichismo de produtos no capitalismo de alta tecnologia.
Clientes de companhias de telefonia móvel e usuários de redes sociais são levados a comprar aqueles mundos ilusionários que vendem de volta para eles sua própria comunicação como produtos. A estética dos produtos é baseada em uma certa reciprocidade entre o significado estético de fazer o produto parecer "atraentes" para nós e o que consideramos que nos faz atraentes para outras pessoas.
O telefone celular (...) contém muitos anos de tempo de desenvolvimento social, o tempo de vida de cientistas, pesquisadores, programadores, e o trabalho daqueles que produziram os telefones em fábricas terceirizadas, e ainda contém materiais brutos como o Coltan extraído em condições desumanas em áreas de guerra civil no Congo. Ainda assim o que vemos em um telefone celular é a promessa de estar conectado e de ser aquela pessoa que a indústria projeta na gente através da publicidade. A publicidade aqui toma uma forma onde ela promete identidades, sugere modelos de personalidade aos quais podemos nos adaptar como a forma ergonômica do telefone se adapta a nossas mãos. Nos anúncios de 3G, encontramos a mulher consciente que tem um celular que combina com seu batom, maquiagem e joias; existe o guerreiro móvel com a barba por fazer, um jovem e confiante empreendedor que não precisa vestir um terno e pode confiar em estar "sempre conectado". O produto-fetiche telefone celular produz modelos de comportamento para o individualismo de seus usuários.
(...)
Apesar de as ideias por trás da invenção da tecnologia (wi-fi) serem comerciais, entusiastas de redes de computadores aproveitaram a oportunidade assim que o wi-fi apareceu no mercado e encontraram maneiras de desviar aquela tecnologia e aplicá-la para usos comunitários.
(...)
Redes comunitárias sem fio e software livre e de código aberto não aparecem na televisão ou na publicidade. Rede operadas pelos próprios usuários sem ganho financeiro não são produtos, são valor de uso, pura e simplesmente: existem fora do sistema de fetichização de produtos."
Não chego a concordar totalmente com a crítica fundamental às redes 3G, até porque aqui no Brasil das estruturas instáveis ele pode fornecer conectividade para quem não tem alternativas. Conheci semana passada uma lan house aqui em Ubatuba que compartilha uma conexão 3G. É até possível pensar em alternativas híbridas, misturando 3G e redes wi-fi comunitárias, como o pessoal faz com a stompbox. Mas de fato, o potencial de apropriação das redes wi-fi é gigantesco.
Me interessa a defesa das redes wi-fi comunitárias, não só como alternativas de acesso à internet, mas também como potencial de criação de redes autônomas, hiperlocais. Em uma apresentação em Porto Alegre na Debian Conference de 2004 em que falávamos sobre redes wi-fi comunitárias eu e o Dalton fomos questionados por um argentino que disse que uma rede wi-fi não serviria pra nada, já que na cidade dele não existia internet. Argumentamos que havia um grande potencial para usar o wi-fi como intranet, usando qualquer pc para oferecer servidor web, chat e diversos outros serviços.
Um par de anos depois, participei da elaboração de um projeto que pretendia organizar uma rede wi-fi na Cidade Tiradentes, em São Paulo. Um dos entraves do projeto foi justamente a dificuldade para a conexão à internet. Tentamos convencer o pessoal a começar com serviços locais, mas o fetiche do acesso à internet venceu a possibilidade de aplicações locais rodando diretamente entre vizinhos e vizinhas. Mais tarde, conheci o pessoal que implementou projetos como o alemão Freifunk, o catalão Guifi e o internacional Hive Networks, e o conceito das redes mesh se popularizou por conta do laptop de cem dólares (ou mais). Só o conceito, mas enfim, é um começo que ajuda a naturalizar a argumentação.
Também na semana passada saiu a edição do Wi journal dedicada às mídias locativas (tem termo melhor?) no Brasil. André Lemos fala sobre anotações eletrônicas urbanas como um dos tipos possíveis de mídia locativa, e mais pra frente comenta sobre a expansão de territórios informacionais possíveis, a partir de uma fusão entre espaço eletrônico e espaço físico. Acho possível imaginar que uma rede composta de nós locais que faça uso da proximidade e da potencial exclusividade de informação local pode ser um elemento interessante a explorar, não só como anotação urbana mas como elemento de intervenção urbana (talvez não só como comentário, mas como "objeto" - ou inobjeto - urbano em si).
Já há algum tempo, eu estou cozinhando uma mistura de elementos que pode ir um pouco nesse sentido. Comecei imaginando estender a funcionalidade de projetos de captura e distribuição de mídia como a mimoSa e a burnstation para uma rede wi-fi: criar uma rede mesh com um servidor local que oferecesse às pessoas que se conectam a ela a possibilidade de enviar e baixar conteúdo. Comecei lentamente a estudar caminhos técnicos para isso (e a rabiscar sobre redes sem fio e celulares). Semana passada, finalizei um primeiro protótipo de hardware. Vou contar no próximo post o que aprendi nesse processo.
Interdependência enredada
Mandando minha colaboração para a blogagem coletiva do Dia da In(ter)dependência. Por conta de alguns movimentos recentes, mas ainda seguindo uma obsessão que já dura sete anos, tenho conversado bastante sobre a MetaReciclagem nas últimas semanas. Orlando trouxe uma imagem interessante - o reacesso - que com certeza faz bastante sentido para mim. No processo de coleta e compilação do História da / Histórias de MetaReciclagem, uma das coisas mais importantes para mim foi poder revisitar hoje - com um pouquinho mais de experiência - as ações, ideias e insights do passado, minhas e nossas. Tem um aspecto obviamente constrangedor: eu certamente não escreveria algumas coisas, não tomaria algumas decisões, e colocaria algumas coisas de modo diferente hoje em dia. Mas também traz a possibilidade de aplicar uma perspectiva histórica - afinal sete anos não são tão pouco tempo - e entender como as ideias se desenrolam e desenvolvem com o tempo. Essa dobra ajuda a trazer novas possibilidades para o futuro, ao passo que também segura um pouco a megalomania (hm, ok, não segura muito não).
Por conta de alguns movimentos recentes, mas ainda seguindo uma obsessão que já dura sete anos, tenho conversado bastante sobre a MetaReciclagem nas últimas semanas. Orlando trouxe uma imagem interessante - o reacesso - que com certeza faz bastante sentido para mim. No processo de coleta e compilação do História da / Histórias de MetaReciclagem, uma das coisas mais importantes para mim foi poder revisitar hoje - com um pouquinho mais de experiência - as ações, ideias e insights do passado, minhas e nossas. Tem um aspecto obviamente constrangedor: eu certamente não escreveria algumas coisas, não tomaria algumas decisões, e colocaria algumas coisas de modo diferente hoje em dia. Mas também traz a possibilidade de aplicar uma perspectiva histórica - afinal sete anos não são tão pouco tempo - e entender como as ideias se desenrolam e desenvolvem com o tempo. Essa dobra ajuda a trazer novas possibilidades para o futuro, ao passo que também segura um pouco a megalomania (hm, ok, não segura muito não).
>>Leia mais
Logo, gambi
Os tempos estão mudando, como sempre. A tal crise financeira pode ter servido no mínimo pra criticar os apóstolos da fórmula crescimento-produção-consumo-descarte, questionar o vício no upgrade. Até vozes na grande mídia estão aceitando que talvez os videiros tivessem razão. Que em vez de uma indústria fabricando cada vez mais produtos que duram menos, talvez seja a hora de as pessoas criarem produtos elas mesmas.
Naturalmente, todos esses indícios são limitados. É razoável tentar inferir uma visão geral: finalmente, o século XX está acabando. Já não era sem tempo. Mas ainda existem muitas estruturas a desconstruir. Lá no mundo que se define como "desenvolvido" (e muita gente discorda), exageraram na especialização e todos viraram reféns da restrição do conhecimento. Um amigo que vive em Londres conta que se quiser consertar sozinho um interruptor quebrado, o senhorio pode processá-lo. Em nome do caminho do progresso, retirou-se de uma população inteira a liberdade da inovação cotidiana, e tudo virou consumo. Compre pronto, use por pouco tempo e jogue fora. Produza lixo, e não se preocupe com onde ele vai parar. Não crie nada, deixe isso para os especialistas.
Quero crer que cá em terras antropofágicas a realidade é outra. Não temos medo de arriscar, de fazer coisas que não sabemos. Por natureza, queremos mais do que o simples acesso. Queremos o processo, os conhecimentos abertos do meio do caminho. Sabemos usar chaves de fenda, concretas e metafóricas. Nós improvisamos. Não é todo mundo, mas muitxs amigxs têm orgulho da Gambiarra. Gambiarra é artigo, ciclo, metodologia, dissertação de mestrado e mais. Todas compartilham a perspectiva de aceitar e valorizar, em vez de recusar esse espírito de improvisação que nos é natural.
 Talvez seja hora de ir além, juntar todo mundo e construir as pontes entre tudo isso. Hdhd chama de Gambiologia, que foi precedida por outras gambiologias. Os significados são múltiplos - estudo da invenção cotidiana, ciência ajambrada, a biologia de seres híbridos cyberpunks, seres feitos do remix entre máquina e gente. A base é tratar como essência, como potência cultural, o que geralmente é desvalorizado pelas elites submissas ao mundo "desenvolvido". Assim como não queremos vencer o complexo de vira-latas, mas sim incorporá-lo; nós não queremos superar a gambiarra. Queremos mostrá-la ao mundo como alternativa tática de sobrevivência, sustentabilidade na selva pós-capitalista e disseminação da criatividade. Quem vem junto?
Talvez seja hora de ir além, juntar todo mundo e construir as pontes entre tudo isso. Hdhd chama de Gambiologia, que foi precedida por outras gambiologias. Os significados são múltiplos - estudo da invenção cotidiana, ciência ajambrada, a biologia de seres híbridos cyberpunks, seres feitos do remix entre máquina e gente. A base é tratar como essência, como potência cultural, o que geralmente é desvalorizado pelas elites submissas ao mundo "desenvolvido". Assim como não queremos vencer o complexo de vira-latas, mas sim incorporá-lo; nós não queremos superar a gambiarra. Queremos mostrá-la ao mundo como alternativa tática de sobrevivência, sustentabilidade na selva pós-capitalista e disseminação da criatividade. Quem vem junto?
Redes, ps.
No afã de terminar o post de ontem, que já estava ficando longo, acabei esquecendo de comentar sobre mais dois aspectos da atuação em rede que me parecem importantes. O primeiro é a irrelevância da definição em ambientes verdadeiramente enredados. Durante o wintercamp, James Wallbank (Access Space, Sheffield) expôs uma tentativa de explicar a rede bricolabs dizendo que ela se assemelhava a um cheiro: é difícil apreender e explicar um cheiro. Podem-se fazer analogias, alusões, mas nunca contê-lo ou determiná-lo.
A outra ideia que me parece relevante na busca de entender como as coisas funcionam nas redes é uma ideia que surgiu numa conversa informal nos jardins do MIS durante o Paralelo: de que algumas das redes abertas brasileiras obtinham sucesso por conta de uma insistência das pessoas que as lideravam em auto-sabotar (active self-sabotage, acho que foi como chamamos) o próprio poder que acabavam conquistando. À medida que as pessoas que acumulavam poder desdenhavam desse poder e o ofereciam a qualquer interessado, as redes acabavam se renovando. É um tipo de auto-ironia que no contexto das redes acaba sendo ironicamente produtivo.
(continuo lendo aqueles livros, vou comentar mais por aqui assim que as ideias surgirem ou reaparecerem)
Redes
 Nos últimos dias tenho folheado de maneira descompromissada algumas publicações que recebi recentemente da Holanda: Organized Networks, de Ned Rossiter; From Weak Ties to Organised Networks, publicação pós-Wintercamp (que já comentei por cima aqui); e a caixa e-culture, uma caixa com um DVD, um folheto e três livros. Não foi de propósito, mas isso me pegou no meio do planejamento e primeiras conversas relacionadas à aplicação dos recursos do Prêmio de Mídia Livre que a MetaReciclagem levou, e acabei estendendo alguns insights a essa busca mais prática.
Nos últimos dias tenho folheado de maneira descompromissada algumas publicações que recebi recentemente da Holanda: Organized Networks, de Ned Rossiter; From Weak Ties to Organised Networks, publicação pós-Wintercamp (que já comentei por cima aqui); e a caixa e-culture, uma caixa com um DVD, um folheto e três livros. Não foi de propósito, mas isso me pegou no meio do planejamento e primeiras conversas relacionadas à aplicação dos recursos do Prêmio de Mídia Livre que a MetaReciclagem levou, e acabei estendendo alguns insights a essa busca mais prática.
Enquanto busca de identidade de rede, a MetaReciclagem já passou por um monte de fases. Desde o começo como um subgrupo do projeto metáfora, passando pela dissolução influenciando grandes projetos de governo, até a fase atual em que muitas vezes parece que a potência de articulação e colaboração se esgotou, até que aparece vida em um canto esquecido, até que alguém volta a se movimentar naquele espaço simbólico depois de alguns anos em silêncio, até que os olhares e afinidades se reencontram em novas buscas. Acho que em todas essas fases, a única constante é a incerteza sobre o que vem a seguir. Daí que quando eu pego alguns desses estudos de matriz europeia, chega a me incomodar a sensação de que estão tentando enquadrar uma classe de fenômeno que não se presta muito a classificações e determinações.
Quando Rossiter sugere que é necessário que se criem novas formas institucionais que dêem conta do tipo de interação que as redes tornam possível, ele o faz baseado na perspectiva de uma sociedade que já foi concreta e estável e que em determinado momento passou a se liquefazer, a perder os limites e as estruturas. Como se o agora fosse um momento intermediário, em que se estabelecem as bases de uma sociedade que vai voltar a ser estável, segura e previsível (posso estar enganado, o livro dele é o que estou avançando mais devagar).
Essa visão influencia até mesmo o tipo de questionamento que o Wintercamp fazia a todas as redes que reuniu. Compartilhei com outras pessoas a sensação de que as perguntas não se aplicavam às práticas que estávamos debatendo no espaço da rede Bricolabs (comentei um pouco mais sobre isso nos meus posts sobre o evento). Talvez seja necessário relativizar as perspectivas: em vez de partir de um mundo europeu ocidental que se caotizou, partir de um mundo mais amplo, que sempre foi inclassificável e inordenado, no qual por algum tempo e em algumas localidades específicas existiu uma ilusão de ordem.
Há alguns dias, eu bloguei sobre alguns contrastes que senti em sampa depois de um fim de semana em Porto Alegre. Acho que faltou complementar a reflexão com o que eu sinto aqui em Ubatuba. Casas térreas, ainda muita rua de terra, muita loja de material de construção, muita obra incompleta, muita terra pra vender. Mais do que uma urbanização ainda não realizada, eu penso mais em termos de fronteira, de um limiar entre tipos diferentes de espaço, realidades potenciais que compartilham a coordenada geográfica. Como se ao atravessar a rua eu também estivesse atravessando o rio que poderia ainda existir ou a estrada ou ferrovia que poderia ter sido construída.
Inverter a perspectiva do desenvolvimento é pensar que esse cenário de Ubatuba é tão contemporâneo quanto a Potsdamer Platz em Berlim. Mais do que isso, faz parte de um cenário complexo em que o caos sonoro que escuto no quarteirão nesse exato momento - jazz, rock, igreja evangélica, funk carioca, todos no volume máximo, coexiste com a frieza pretensiosa da Avenida Paulista, que fica a menos de 250km daqui.
Como essas coisas se relacionam daqui para a frente, é uma coisa interessante a se pensar. Mas acho que estar nesse ambiente diverso contribui bastante para a compreensão de rede que a gente acaba adotando aqui no Brasil. Outra coisa que eu depreendo de alguns desses textos de fora é a noção de que a rede é uma coisa que não faz parte da vida cotidiana: as pessoas têm seu trabalho, sua família, seus amigos, e além de tudo isso - em uma dimensão paralela - participam de redes. É uma visão que sempre me pareceu equivocada, mas talvez nisso eu revele minha própria perspectiva: de que redes sempre fizeram parte da existência humana e do cotidiano.
Em outras palavras, acho que eu estou mais uma vez afirmando que um mundo sem redes, se é que existiu, foi uma distorção específica de uma época e de alguns locais, talvez daqueles contextos que quiseram acreditar que as instituições democráticas vinham para eliminar de uma vez por todas com a necessidade de arranjos informais diretos entre as pessoas, quase como uma objetivação da da vida em sociedade: você não precisa desenvolver a habilidade de se relacionar em redes, porque as instituições vão te oferecer ferramentas estatisticamente comprovadas para isso. Se não faz sentido em democracias estabelecidas (já hoje, figuras que eram democratas efusivas questionam se a representatividade estatística ainda vale em tempos de grande imigração para os países ricos), me parece que faz menos sentido ainda em democracias vacilantes como a nossa (alguém acredita em voto obrigatório?).
Nisso tudo, acabo caindo de novo na imagem do poder para-constituido, que comentei uma vez em uma mensagem na lista de discussão da MetaReciclagem: em vez de pensar que as redes são um cenário pré-constituído e as organizações um cenário pós-constituído (caso em que a constituição de uma organização seria um divisor de águas), é melhor pensar na coexistência, em rede, de atores que estão constituídos com cenários que não se constituem (e nem pretendem se constituir).
Já passamos o século XX, a era da indústria e das marcas, em que as coisas eram classificadas e rotuladas de maneira visível e consistente. Se o mundo do dinheiro já entendeu isso, não podemos perder tempo (nós que acreditamos em outrxs deusxs além da nota de cem) com o atrito causado pela tentativa de usar regras antigas de convivência entre multiplicidades pessoais, identidades coletivas e as limitações burocráticas.
Gosto de pensar que a MetaReciclagem, de alguma forma, e com toda a dispersão que tem, oferece um exemplo (mas nenhuma fórmula) desse tipo de convívio complexo, tenso, mas em última instância ainda produtivo e feliz. Talvez uma das bases seja justamente que as pessoas só colaboram se quiserem: não existe coerção, e até por conta da distância a pressão que se pode exercer sobre as decisões nas pontas é menor do que seria em um contexto mais estruturado.
Essa questão da permeabilidade da rede também foi uma referência interessante de um dos textos da caixa e-culture (que falei lá no comecinho desse post que tá saindo mais longo do que eu imaginava), relacionando a idéia de walled garden (jardim cercado) com o convívio em rede. Juntando esse tipo de reflexão com a necessidade concreta de definir caminhos para o desenvolvimento do site, mandei uma mensagem pra lista articulando essas referências com algumas idéias do Bauman que andavam circulando por lá, tratando das figuras do caçador e do jardineiro.
Jardinagem foi um termo que a gente adotou dos wikis e acabou usando bastante ao longo desses anos, mas talvez seja hora de misturar com a perspectiva da permacultura, que em essência tem mais a ver com o ideário da MetaReciclagem: reuso, apropriação, invenção com os elementos que estão à mão, etc. Há algumas semanas fui visitar aqui em Ubatuba o IPEMA, e por mais que eu já conhecesse grande parte das coisas que eles fizeram por ali, é sempre bom ver que aquela conversa de estimular um tipo de sensibilidade que faça as pessoas trocarem o comprar pelo fazer, de preferência com materiais reaproveitados, também ecoa em outras áreas do conhecimento.
A Daslu e o Camelódromo
Esse artigo foi publicado na revista A Rede, em novembro de 2005.
Nos últimos anos, o Brasil se tornou referência mundial em iniciativas que usam o software livre para combater a exclusão digital. O modelo de telecentro foi adotado em esferas governamentais e do terceiro setor, e milhões de pessoas tiveram a oportunidade de usar as tecnologias da informação e comunicação (TIC). Mas para quê? Muitos projetos de inclusão digital tratam todo o universo de possibilidades sociais das TIC como mera questão de estar dentro ou fora. Podemos estar nos esquivando da parte mais interessante do debate: entender de que forma essas tecnologias podem ser adaptadas para melhorar a vida das pessoas.
Um caminho é a perspectiva de apropriação tecnológica. Enquanto as pessoas não tiverem consciência de que podem elas mesmas manipular a tecnologia, a transformação proporcionada por essas iniciativas terá alcance limitado. Muitos telecentros funcionam como cibercafés gratuitos: ainda existe a distância entre o pessoal "de dentro" e o "público". A preocupação é que as comunidades tenham acesso à internet. Mas pouco se fala que as pessoas não precisam ser apenas usuárias, e que podem ser co-autores. Se o que buscamos é transformação sustentável, gerar autonomia é fundamental. Aprender a preencher um currículo em um editor do texto não traz vantagem a longo prazo para ninguém. Além disso, é triste ver pessoas que aprendem a digitar, mas não têm nenhuma familiaridade com o ato de escrever. Sabem usar o software, até que digitam rápido, mas nada do que escrevem tem alma. Instigaram seu desejo de fazer parte do seleto clube dos usuários de computadores, mas não o seu desejo de expressão e de criação.
Muitos coordenadores de projetos esquecem que a comunicabilidade é um traço marcante da cultura brasileira, com o papo de bar, a fofoca e a mania de dar pitaco. Aliás, mesmo dentro dos telecentros, o papo de boteco continua: os brasileiros criaram fama ao usar serviços como o blogger, o fotolog ou o orkut. E eu já ouvi coordenadores de projeto perguntando se havia como bloquear o acesso a esses sites. Querem que as pessoas usem a tecnologia para se comunicar, mas proibir o que elas fazem de melhor? Ah, certo: um usuário correto deve acessar um portal de notícias para ver o resultado do jogo ou o que vai acontecer na novela, e depois preencher seu currículo. Um camelô que tem acesso ao maravilhoso mundo da internet vai deixar de ser camelô e virar office-boy, como deve fazer um incluído, certo?
Errado! Por que não pensar em como a tecnologia pode melhorar a vida do camelô? Por que todo mundo precisa querer ser uma Daslu, catedral, modelo excludente e baseado em pura competição? Por que esse pessoal tem tanta vergonha do camelódromo da esquina, ao qual todo mundo vai? Aliás, a metáfora de Eric Raymond, que opõe a catedral aos bazares para demonstrar o software livre, pode muito bem ser tropicalizada como "a Daslu e o camelódromo". A primeira é baseada na centralização do poder, na competição e na inatingibilidade. O bazar vira camelódromo, dinâmico, orgânico, vivo e participativo. Como aproveitar as características culturais brasileiras para obter o máximo das tecnologias? O primeiro passo é buscar processos voltados às dinâmicas de mutirão, que existem em qualquer canto, do puxadinho à escola de samba. Uma proposta seria trocar todos os cursos de editor de texto por oficinas de weblogs. E estimular as pessoas a usarem a internet para promover a troca de conhecimentos, ações colaborativas e a mobilização coletiva.
Anotações no coletivo
Anotações no Coletivo
Artigo escrito em novembro de 2003, na seqüência de uma palestra que dei junto com Hernani Dimantas no Cybercultura 2.0, no Senac, a convite de Lucia Leão.
Aí uma costura das anotações tomadas na linha Lapa - Santo Amaro, quinta-feira passada, a caminho do Cybercultura 2.0, com algumas coisas que realmente cheguei a comentar na mesa redonda com o Hernani, e mais algumas elucubrações posteriores. Meu nome é Felipe Fonseca. Dizem que fui co-fundador do Projeto MetaFora junto com o Hernani. Mas outros dizem que o Projeto MetaFora nunca existiu, foi uma espécie de alucinação coletiva.
A cultura brasileira como uma cultura hacker (ou poderíamos definir: a ética hacker nas culturas populares brasileiras*).
Em primeiro lugar, quero me desculpar porque vou avançar em alguns assuntos sobre os quais não sou especialista. Não me preocupar muito com isso é uma das coisas que aprendi com os hackers com quem trabalho. Bom, vamos adiante.
A era das grandes verdades
Até há pouco tempo, a comunicação concentrava-se em torno das fontes "oficiais" de informação e conhecimento: a igreja, o estado, a escola e a academia, e no último século a mídia de massa. As estruturas de comunicação eram facilmente identificadas. Um mapeamento dos fluxos de comunicação revelariam três grandes vertentes:
* as "fontes oficiais" propriamente ditas;
* as derivações das fontes (aquele tiozinho que repete no boteco o argumento do padre ou do âncora do telejornal), paráfrases das grandes verdades;
* as vozes contrárias, antíteses das grandes verdades.
Essas últimas eram responsáveis por uma espécie de equilíbrio e um movimento de renovação. Podem ser identificadas aqui as vanguardas do século XX e a contracultura do pós-guerra, que, de alguma forma, acabavam impedindo uma total tirania na comunicação.
A era das múltiplas verdades
Nas últimas décadas, entretanto, as fontes "oficiais" começaram a se multiplicar e pulverizar. Acredito que alguns fatores influenciaram bastante nesse movimento:
* os questionamentos sobre a ciência no século XX;
* os questionamentos sobre a arte e seu papel;
* o intenso desenvolvimento e a facilitação do acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação;
* o acirramento da competitividade nos mundos corporativo e acadêmico, e entre as empresas de mídia de massa.
Um hipotético mapa da comunicação nos dias de hoje revelaria um cenário complexo, tendendo ao caos. Apesar de o ambiente da comunicação continuar dominado pelas mesmas estruturas (hoje, sobremaneira, as megacorporações), não é tarefa simples identificar onde se encerra esse poder. Em tal cenário, o papel de uma suposta contracultura precisa necessariamente se reinventar. Há 30 anos, era fácil identificar "o inimigo": a ditadura no Brasil, a guerra do Vietnã e as estruturas militares nos EEUU, etc. Hoje, para onde devem apontar as armas da contracultura?
Aliás, ainda existe uma contracultura?
Eu acredito que não haja uma resposta objetiva.
Mas a comunicação tem papel fundamental na aceitação e manutenção dessa realidade. Em O Sistema dos Objetos, Jean Baudrillard identifica que a dominação através da manipulação publicitária não se dá no âmbito de cada peça de comunicação influenciando uma decisão do "consumidor", mas no contexto do conjunto das peças publicitárias seguindo fórmulas assemelhadas e ratificando um modo de vida ocidental, branco e consumista. Uma situação claramente emergente, em que a ação de cada parte é menos importante do que a ação do conjunto.
A mídia tática surge nesse cenário, também como uma força emergente, potencializada com o novo ativismo que surge ao fim da década passada, nos protestos em Seattle, Gênova, Davos, Washington e tantos outros. Grupos de ativistas midiáticos e artistas de todo o mundo passam a utilizar ferramentas às quais anteriormente só as elites tinham acesso para questionar a credibilidade da comunicação. Usam, camuflados ou não, as próprias armas do inimigo para conscientizar as pessoas sobre o que se passa no mundo. A mídia tática pode ser vista como a retomada do "social" na comunicação. Sua estrutura como sistema descentralizado e emergente encontra justificativa em Steven Johnson, no Emergência:
(...) se você está tentando lutar contra uma rede distribuída como o capitalismo global, é melhor mesmo se tornar uma rede distribuída.
A ética hacker
No mundo do desenvolvimento tecnológico, uma contracultura atuante desde os anos 70 construiu colaborativamente a Ética Hacker. Não vou entrar em detalhes, mas alguns dos princípios postulados pelos hackers encontram eco e respaldo na mídia tática:
* a descentralização coordenada;
* ênfase na reputação pessoal, baseada no histórico de ações, ao invés de hierarquia baseada em títulos ou honras;
* colaboração e conhecimento livre e aberto;
* questionamento profundo sobre a validade da propriedade intelectual;
* Release Early, Release Often - é mais importante realizar do que ter um plano perfeito;
* informalidade.
Hackerismo brazuca
Estive em setembro no Next5Minutes, festival internacional de mídia tática realizado em Amsterdam. Alguns dias antes de embarcar, comecei a debater com o pessoal no MetaFora sobre o que falar por lá. As primeiras idéias circularam em torno da ética hacker e uma apresentação do grupo MetaFora. Na manhã da partida (ou a manhã anterior, não estou certo), acordei com a opinião de que tal linha de argumentação tinha duas falhas. Em primeiro lugar, eu não havia sido chamado para representar o MetaFora, e sim o Mídia Tática Brasil, festival realizado em março de 2003 do qual participamos. Além disso, não faria sentido simplesmente fazer côro a diversas outras vozes que já apregoam os princípios da descentralização e da colaboração. Já há algum tempo, tínhamos percebido que, em termos de colaboração, nós, elite cultural revoltadinha brasileira, temos mais a aprender do que a ensinar com as culturas populares* no Brasil.
O hackerismo tecnológico tem grande aceitação no Brasil, como pode detalhar o Hernani. O governo está adotando Software Livre, o país é um dos maiores em volume de ataques de crackers. Sexta-feira, Maratimba comentou comigo que ouviu da boca de Miguel de Icaza que o Brasil tem o maior parque instalado do ambiente gráfico Gnome. No N5M, alguns programadores de Taiwan que estavam na mesa redonda New Landscapes for Tactical Media, da qual eu e Ricardo Rosas também participamos, vieram a mim perguntar, maravilhados, se tudo o que se falava sobre Software Livre no Brasil era verdade. Assenti, orgulhoso. Eu vejo algumas raízes culturais hackers no Brasil desde muito antes da criação do primeiro computador.
Os mitos afro-brasileiros**
Durante alguns séculos, pessoas de várias regiões da África foram violentamente seqüestradas e trazidas ao Brasil, comerciados como escravos e encarcerados a uma vida de trabalho duro, restos de comida e praticamente nenhum direito. Não bastassem as agressões físicas e a humilhação contínua, eles eram proibidos de exercer suas crenças, originalmente anímicas. Alguns convertiam-se à "verdadeira fé" católica, mas muitos desenvolveram uma alternativa, análoga à engenharia social hacker: o tal sincretismo religioso. Camuflando seus orixás com vestes católicas, puderam continuar praticando seus rituais e venerando seus deuses da guerra, do trovão e do vento. Embora tenham aparecido diversas lideranças na Umbanda, não havia uma centralização de poder ou dogma. Assim, as linguagens espirituais afrobrasileiras foram se desenvolvendo de maneira colaborativa. Têm uma base comum (o kernel hacker) e diversas adaptações locais (a customização descentralizada hacker), chegando a abarcar elementos do kardecismo, de culturas indígenas, de tradições ciganas, do budismo e outras crenças orientais.
A cultura burguesa brasileira
Não é novidade que, no início do século XX, a incipiente intelectualidade brasileira, composta em sua maioria pelos jovens filhos das elites que estudavam na Europa e voltavam ao país, passava por uma crise de identidade, como ocorreu com todas as ex-colônias européias emancipadas entre os séculos XVII e XX ao redor do mundo. Duas perspectivas levavam a um impasse: de um lado, a cultura européia, moderna, vibrante, mas associada à ex-metrópole colonial. De outro, uma cultura bruta, neonaturalista e sertaneja, quase crua. Os modernistas resolveram o paradoxo com a antropofagia, basicamente hacker: não renegaram nenhum dos dois mundos para criar novas formas de expressão. Pelo contrário, ao invés de tentar começar uma nova cultura do zero, misturaram elementos da cultura européia com a cultura brasileira. Vestiram a cultura popular de raiz com a experimentação formal do primeiro mundo.
Fenômeno semelhante ocorreu no final dos anos 70 com a Tropicália. Uniram o samba ao roquenrou, adaptando a linguagem comum da contracultura mundial com o sotaque local.
A economia pirata
Premida por uma situação econômica em condições cada vez piores, pressionada pela dificuldade de encontrar colocação e subsistência na economia formal, grande parte da população no Brasil migrou nas últimas duas décadas para a economia informal. Caracterizada por um dinamismo e por uma espécie de empreendedorismo na gambiarra, esse mundo alternativo de trabalho, que possui seu próprio círculo de produção e distribuição, envolve hoje praticamente metade da população considerada "economicamente ativa" no Brasil, e mais uma grande quantidade de jovens e idosos. Possui suas formas de uma mídia mambembe que, se não se assemelha à mídia tática do primeiro mundo, também chega, de maneira emergente, a questionar os domínios da propriedade intelectual e do poder da mídia de massa, em especial o branding corporativo. Outros elementos da ética hacker presentes na economia pirata:
* colaboração;
* descentralização;
* ênfase na reputação;
* informalidade.
O mutirão
Maratimba descreveu uma analogia do puxadinho feito em mutirão com o princípio do Release Early, Release Often, que corre um certo risco de ser uma visão estereotipada, mas que funciona como símbolo:
Começo | Barraco - "Vamo botar essa porra em pé!"
Sabe como é? Menos é mais. Minimalismo funcionalista.
Expansão | Puxadinho - "Chame os amigos e ponha água no feijão"
Contemplar o máximo de necessidades. Refinamento e oferta de adicionais.
Refundação | Alvenaria - "Tá na hora de botar ordem na casa"
Revisão de erros e melhoria da qualidade geral. Consistência de dados e de interface E agora? Subi um barraco? Puxei um quarto pras crianças e um banheiro do lado de fora? Troquei os aglomerados e madeirites por tijolo e telha? Basta seguir a vida e esperar. Se precisar de mais teto, você pode construir a famosa casa nos fundos ou o mais popular segundo andar.
Comunidades periféricas interconectadas
As autoridades, a academia e a sociedade civil já acordaram para as possibilidades de transformação que as tecnologias de informação e comunicação trazem para a melhoria de vida das populações periféricas. As duas primeiras fases da "inclusão digital" tinham lá suas falhas, mas podem ser encaradas como um bom começo. Há um paralelo com um movimento que Mario de Andrade fez no século passado, de planejar expedições ao Brasil rural em busca de uma suposta cultura brasileira. Hoje, sabendo que cerca de 70% da população brasileira vive na periferia das grandes cidades, esses projetos têm o potencial de mapear e consolidar as características de cada comunidade e integrá-las às conversações mundializadas. É questão de adaptar as tecnologias às necessidades das pessoas, e não o contrário. Vamos nos esforçando.
* Observações da moderadora Rita de Oliveira. Obrigado, Rita.
** Lucia Leão comentou que o site preferido de Roy Ascott é um site sobre Umbanda. Não tenho o link aqui, vou pedir à Lucia.
Comentários
Lucia Leão
O site indicado pelo Roy é: http://www.umbandaracional.com.br/
Case Liganóis
Em algum momento de 2003 eu montei o Liganóis, um site colaborativo para pessoas interessadas em comunicação comunitária, inclusão digital e assuntos relacionados. O site acabou saindo do ar depois de algum tempo, mas o aprendizado foi grande. A idéia desse texto, que escrevi no fim de 2003, era tentar contar um pouco do processo que gerou o Liganóis.
Em anexo (PDF, 130KB)
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| caseliganois.pdf | 129.33 KB |
Case conversê
Esse texto eu escrevi em 2005 depois da primeira fase de desenvolvimento do Conversê.
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| case_converse_1_0.pdf | 87.18 KB |
Cultura colaborativa
Escrevi esse texto no fim de 2006 pra Brazine, uma revista bilíngüe que circula na Alemanha, Suíça e Áustria. Encontrei ele perdido numa pasta aqui. Não tem muita novidade (já tem uns sete anos que eu só me repito), mas republico aqui pelo registro mesmo.
Nos últimos anos, uma grande diversidade de projetos do terceiro setor e diferentes instâncias do governo têm se concentrado na questão da exclusão digital como obstáculo fundamental para um salto qualitativo em termos educacionais, sociais e econômicos no Brasil. Se começaram com premissas bastante limitadas, como o simples fornecimento de computadores para populações periféricas - e pouca preocupação sobre todo o contexto que cerca a chegada dessa tecnologia -, alguns desses projetos têm evoluído para uma perspectiva mais abrangente. São ações que buscam promover uma visão mais ampla da tecnologia. Certamente, a influência do movimento do software livre nesses projetos foi fundamental, mostrando na prática que aspectos como a produção colaborativa, a coletividade, o remix, a criação de comunidades de intercâmbio de conhecimento são alternativas viáveis tanto em termos metodológicos como econômicos. Nesse sentido, e seguindo a própria evolução da tecnologia - de "páginas" na internet para sistemas integrados de relacionamento e publicação coletiva - começaram a ser desenvolvidos projetos de tecnologia social e educação que se opunham tanto à visão assistencialista típica das décadas passadas quanto a uma certa influência de uma cultura individualista, que põe a competição como fator preponderante dos tempos atuais e elege o dinheiro, o consumo e a ostentação como ideais não-declarados. Passou a emergir uma visão em que a atuação individual é interdependente do coletivo, e em que o conhecimento é construído de maneira coletiva e participativa. Chega a parecer óbvio, mas há poucos anos não era. A ilusão de empregabilidade (como se saber usar um computador garantisse uma vaga em um cenário em que "emprego" é a sombra de um reflexo) era palavra de ordem nesses primeiros projetos. O fato realmente notável foi que, com o tempo, esses projetos passaram a defender conceitualmente alguns traços que historicamente já fazem parte da formação cultural brasileira.
Muito do que hoje entendemos como cultura brasileira, ou então o que há de comum às diferentes culturas brasileiras, tem uma base muito mais colaborativa, dinâmica e coletiva do que costumamos perceber. Um olhar abrangente para os lados nos dias de hoje só confirma essa idéia. Sem deixar de lado todos os abusos, violência e exploração, o Brasil viu desde sempre uma grande mistura das culturas portuguesa, negra e indígena, e depois ainda mais com outras correntes migratórias da Europa. Alguns exemplos são elucidativos:
- Correndo o risco de ser superficial demais, a antropofagia da Semana de 22 pode ser entendida como um grande movimento de remix: pegando referências estabelecidas e consolidadas da cultura européia, desconstruindo-as e adaptando-as ao que havia de culturas tradicionais no Brasil, criando assim novas referências culturais prontas para mais transformações e remixagens.
- A Umbanda também tem características que em muito se assemelham ao movimento de software livre: mistura uma série de referências culturais (sincretismo religioso de rituais ancestrais africanos sincretizando com a liturgia católica, e ainda sofrendo influências desde Kardec até o Budismo tibetano), se desenvolve de maneira descentralizada e se transforma em cada contexto local. Nunca contou com uma autoridade central que definisse as diretrizes dogmáticas, e seus rituais, liturgia e cosmogonias estão em constante transformação.
- Outros momentos importantes da nossa formação cultural, como a tropicália e o manguebit, também comungaram dessa facilidade em absorver e reinterpretar referências culturais, chegando a um ponto em que nem se reconhece mais o que vem de fora e o que foi feito aqui mesmo. Somos integrados à cultura mundial, e sempre aparecemos como elemento inovador. Que o diga a Bossa Nova, que transformou o jazz.
Várias outras particularidades podem ainda ser mencionadas: o grau de informalidade da economia brasileira (quem falou que isso é tão ruim?), o trabalho voluntário nas escolas de samba, a feijoada com a galera pra construir o quarto da filha. Mas quero falar especificamente de dois traços marcantes: o mutirão e a gambiarra.
Engraçado ver que ambientes geridos coletivamente, como centros comunitários, residências super-habitadas e tantos outros, podem até chegar a um ponto de desleixo e falta de cuidado que atrapalham muito. Mas se alguém sugere um mutirão, tudo se transforma. Existe quase uma obrigação moral a colaborar. Mesmo quem inventa uma desculpa pra se ausentar acaba sentido-se culpado depois de ver os resultados. O mutirão é um conceito entendido em todo o país.
Gambiarra, segundo os dicionários, é uma extensão elétrica com um soquete de lâmpada na ponta. Na prática, pode significar qualquer tipo de adaptação informal, geralmente feita com baixo custo para cobrir um imprevisto. Não que seja provisória - muitas vezes, como a gambiarra funciona, ela acaba permanecendo por anos. Existem casos de gambiarras feitas para resolver os problemas causados por outras gambiarras. Mas a gambiarra é a consolidação de uma criatividade que, se não nos é exclusiva, acaba por ser quase proverbial: a gambiarra como otimização criativa, maneira de extrair o máximo de recursos escassos.
A grande pergunta a se fazer é: com todo esse repertório de cultura colaborativa, de remix, de ação coletiva, e contando com as figuras presentes do mutirão e da gambiarra, como é que se dá a apropriação brasileira das novas tecnologias de informação e comunicação?
Com o passar do tempo, algumas respostas começam a emergir. Desde que o software livre se tornou assunto sério em projetos sociais, no fim de 2002, diversas iniciativas deram exemplos excelentes de como a inventividade tipicamente brasileira pode se valer das possibilidades das novas tecnologias. Ao contrário do que defendem algumas lideranças da chamada sociedade civil organizada (que já teve sua própria existência questionada por pesquisadores como Bernardo Sorj), o jeitinho brasileiro não precisa se enquadrar no que é tido como o empreendedorismo "correto". Muito pelo contrário, o que aparece como grande oportunidade é atualizar a gambiarra e o mutirão com os horizontes que as novas tecnologias abrem, e tomar nossas particularidades como trunfo. A popularidade - excessiva, defendem alguns - do que pode ser chamado de "software social" no Brasil pode não ser somente uma moda ou reflexo de uma hipotética superficialidade cultural, mas um traço essencial, que deve ser entendido e apropriado. Em outras palavras, o fato de os brasileiros que já acessam a internet ficarem mais tempo online do que qualquer outro povo, geralmente usando ferramentas como fotologs, weblogs, messengers ou o orkut não é necessariamente uma desvantagem. Só precisamos é de uma compreensão mais aprofundada do que isso significa, e propor soluções que levem isso em conta.
Alguns exemplos começam a surgir, conectando o mundo institucional e os circuitos alternativos. Alguns movimentos que, antes de tentar esconder sua matriz cultural e adaptar-se ao que o mundo espera deles, batem pé e se orgulham da herança antropofágica e remixada que nos é oferecida, e com todos os conflitos, atritos e problemas que surgem no caminho, insistem na consolidação de um jeito brasileiro de entender, usar e transformar as tecnologias de informação e comunicação. O tempo dirá se essa perspectiva está correta.
Desviantes: Heraclitus RV
No fim do ano passado, Bronac Ferran me apresentou por email a Kathelin Gray, e desde então vínhamos conversando sobre o Heraclitus RV. O Heraclitus é um navio de pesquisa construído em 1975 que até hoje navega pelo mundo desenvolvendo diversas formas de pesquisa e se envolvendo com diferentes projetos. Durante o verão passado, o navio saiu da África do Sul e cruzou o Atlântico para atracar em Parati.
Em um dia ensolarado de maio, saímos de Ubatuba em direção ao Rio para visitar o Heraclitus. Era a última semana antes que ele partisse para o nordeste brasileiro, e Kathelin estaria por lá.

Chegamos no Yachtclub e ficamos esperando alguns instantes até aparecer o bote que nos levaria ao Heraclitus. Subimos no barco, e nossas anfiritriãs não estavam - tinham saído para acessar a internet. Estavam por lá Edie, o imediato que vem das Ilhas Salomão, o brasileiro Gilson, do projeto Matutu, e Debra Berger, ceramista que vive entre a Califórnia e a Espanha. Logo vieram Kathelin e a chefe de expedição, Christine Handte. O capitão Claus estava no Rio comprando as cartas para a próxima etapa de navegação.

O ambiente do Heraclitus é fantástico. Além de ser maior do que eu imaginava, eu também esperava uma coisa mais austera, um "navio de pesquisa" cheio de equipamentos, mas na verdade eu me surpreendi ao perceber que me sentia bastante próximo ao sítio de uns amigos que costumo frequentar: uma sensação de ambiente compartilhado, com laços muito fortes de confiança entre as pessoas. Grande parte da pesquisa que eles realizam, ao contrário do que eu imaginava pelo site, é relacionada a contexto social, relacionamento, teatro e outros assuntos delícia.
A sala e a cozinha são juntas. No meio da sala, suportes para cortinas e um trapézio para encenações teatrais eventuais. Muitos temperos ao fundo, pratos de metal, uma mesa com suportes para que os vasilhames não caiam. Muitas paredes são decoradas ou pintadas.

A biblioteca é um capítulo à parte. Esteiras no chão, uma bela coleção de livros e um buraco na parede com uma cama dão vontade de simplesmente sentar e ficar por lá.

Encontramos algumas camas em diferentes cômodos. No convés, redes, mesas e cadeiras e o visual para a natureza de Paraty, além de um pequeno vaso com temperos.

Ficamos para almoçar, e aproveitamos para conversar sobre muitas coisas. Uma das coisas que eles querem melhorar no Heraclitus é em relação a dar visibilidade á pesquisa continuada que eles realizam. Querem usar melhor a internet, para dar para pessoas que não estão lá um pouco do que é a sensação de lá. Christine apontou o grande contraste que existe, que é a concretude extrema do barco: se o casco fura, precisa ser consertado o mais rápido possível. Se não há comida, as pessoas passam fome. Conversamos um pouco sobre maneiras simples de publicar, pesar mais na auto-publicação, estender o uso do blog que eles já têm. Pelo que entendi, alguém ofereceu pra eles o uso de um sisteminha proprietário de publicação para renovar o site (mas já estou em conversas com a Kathelin para ajudar a abrir isso e talvez usar um sistema livre mais voltado para rede social do que conteúdo).
 ]
]
Em determinado momento falei que achava que eles tinham bastante material sobre esses trinta e poucos anos no mar, e Kathelin nos levou para a biblioteca para mostrar um vídeo no computador. O vídeo, sem som, era fantástico: mostrava como o Heraclitus foi feito. Em essência, um bando de gente, entre eles John Allen, que depois foi responsável pelo projeto Biosfera 2, ocuparam uma doca para construir um barco. Dormiam em sacos de dormir, e faziam tudo juntos. Uma menina (da Tailândia, talvez? não lembro...) era filha de um construtor de barcos, e ajudou bastante. Fizeram toda a estrutura, construíram o navio em ferrocimento e lançaram ao mar. Fiquei muito empolgado de pôr esse tipo de material na internet.

O Heraclitus e as pessoas que circulam por ele têm um valor muito grande, não só pelo conhecimento acumulado que pode ser útil para projetos similares em todo o mundo (como o Stubnitz, o MARIN e o ARK) mas também como inspiração e prova de que um projeto orientado por uma visão consistente e por muito trabalho duro pode perdurar no tempo. Também tem um elemento interessante, que é a concretude do barco em si em relação a sua impermanência: ele está sempre lá, mas o lá é sempre outro.
Valeu a visita. Sugiro que quem estiver perto de Salvador ou Camamu entre em contato com eles para conhecer o pessoal e visitar o Heraclitus. E se tudo der certo, algum ponto no futuro vai ver o site deles virar um pouco mais social e conectado ;)
Em busca do Brasil profundo
Escrevi um artigo pra publicação que a Karla Brunet organizou pós-Submidialogia 3. Virou o sétimo caderno submidiático em março de 2008. Anexo aqui (PDF).
Atualizando (22/10/08): o texto faz parte da compilação "apropriações tecnológicas".
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| caderno_07.pdf | 231.85 KB |
Entrevistas
Entrevistas feitas ou concedidas.
Bate-papo com Gisela Domschke
Conversei há alguns meses com Gisela Domschke* sobre alguns assuntos relacionados aos Redelabs. Foi em 2008, quando Gisela havia retornado da Inglaterra (onde lecionara no Mestrado de Mídia Interativa da Goldsmiths) e coordenava o LabMIS, que eu a conheci por intermédio de Bronac Ferran. Desde então temos nos encontrado em trilhas cruzadas, principalmente em diversos eventos em Sampa.
efeefe: Você traz uma bagagem interessante, que é essa vivência dando aulas na Goldsmiths, na Inglaterra. E Londres é meio que o epicentro mundial do ideário da indústria criativa. É uma coisa que me assusta um pouco…

Gisela Domschke
Gisela Domshcke: Também a mim. Por isso me agrada o termo cultura digital experimental, já que cultura digital é algo diretamente relacionado a indústria criativa. É o que a originou, praticamente. Toda a indústria criativa é uma consequência dessa cultura digital enquadrada.
efeefe: A comoditização da cultura digital. A gente está falando sobre a necessidade de experimentação que não esteja voltada ao mercado, produto, tv digital. Essa coisa de somente criar novos mercados… Gisela Domschke: Acho que a indústria criativa realmente não traz aquilo que você está buscando, que é a experimentação. A indústria criativa já traz em si a inserção no mercado. Não vejo que o poder público tenha que investir nisso. Isso se desenvolve sozinho. efeefe: Até porque tem a ênfase em explorar patentes, e aqui no Brasil a gente tem trazido a coisa de direito autoral alternativo, reforma da lei do direito autoral, licenças livres, e eu acho que dá pra investir em outros caminhos aí. Gisela Domschke: Penso que temos que encontrar um caminho alternativo. E isso a arte faz muito bem, é o seu grande valor. A cultura digital alternativa tem essa característica. E mais que isso, tem um certo ativismo. Ou poderia ter. Aqui no Brasil isso acontece em menor escala. Quando dava aula na Goldsmiths, no mestrado de Interactive Media, um dos tópicos que lecionava em meu curso era o ativismo, porque sempre vi aí um dos um dos valores mais importantes e interessantes da cultura digital. efeefe: Eu tava relendo aquela conversa na Empyre, em que estavas mencionando isso… Gisela Domschke: Acho que no Brasil se faz pouco nesse sentido. Inclusão digital tem acontecido até em telecentros. Mas quando se fala em montar laboratórios, sem dúvida nenhuma, concordo com você, que a questão nao é montar novos centros desses que já estão por aí. É buscar essa excepcionalidade, que está na conversa, nessa formação de uma rede, de troca de experiências. Por exemplo, essa oportunidade de você ir pra lá e participar desse encontro [nota: eu havia acabado de retornar do labtolab, em Madrid] ocasiona muitas ideias, é uma coisa inspiradora. E sem dúvida nenhuma pra eles também. Isso tem que acontecer mais, com mais frequência. Inclusive no Brasil. efeefe: O que é estranho é que eu tive que ir pra Madrid pra conhecer o pessoal de Buenos Aires, de Córdoba, Santiago, Lima, Medellín, etc. Gisela Domschke: E ainda depende do CCE proporcionar esse encontro. É realmente um cenário que poderia ser mais facilitado com o apoio do poder público. efeefe: Um caminho que a gente conversou várias vezes nos últimos anos é a ideia de itinerâncias, em vez de residências. Aqui no Brasil o pessoal que está mais ativo tem um aspecto de circulação muito mais aprofundado do que o relacionamento com uma comunidade específica, um lugar específico. A residência tem essa coisa de levar a pessoa pra se aprofundar em um contexto, mas aqui a gente tem muito mais a circulação. Daí a gente pensar em um programa de itinerâncias, pegando grupos de artistas e fazendo eles circularem, passar duas semanas em um lugar, duas semanas em outro. Gisela Domschke: Levando alguma coisa… efeefe: Sim, levando. E fazer um projeto ao longo do itinerário, ou trabalhar, interferir nos projetos que estão acontecendo localmente. Sair desses modelos fixos. Porque o referencial de medialab tem esse aspecto de fixo, estável. Aliás, eu queria te ouvir por causa do teu tempo lá fora e da experiência com o LabMIS. Eu estou considerando que existem dois modelos básicos de medialab – um é aquela coisa do MIT, a grande estrutura de cima pra baixo, que surge na encruzilhada entre Universidade e Indústria pra criar patentes e produtos. Muitas vezes ideias bem intencionadas mas que se baseiam sempre em criar novos produtos, como o OLPC, computação vestível, Lego Mindstorms. Tem essa coisa de propor uma solução pro mundo criando novas coisas. É um modelo baseado naquela ideia de inovação industrial, sempre com o risco de acabar caindo na apropriação pela indústria bélica, etc. E tem outro modelo de medialab, que eu vi mais no Medialab Prado, Hangar, nos primórdios do Waag. Uma coisa mais ativista, que vem dos grupos squatters e artistas engajados, que precisavam ter acesso a ferramentas de mídia. E abriram, criaram espaços, um movimento situado. Mas agora o momento é outro. Não é tanto ter acesso a ferramentas de mídia. E pra nossa realidade, falar em inovação é uma coisa complicada, porque a indústria aqui em geral importa inovação de fora. E fica essa questão, qual é a natureza dessa experimentação que a gente quer fazer? O que é necessário aqui no Brasil? Ou então, qual é o modelo de espaço ou articulação e estratégia nessa intenção experimental que não seja necessariamente a ideia de laboratório com grandes computadores novos e brilhantes. Hoje isso tem em toda parte, salas de aula, até telecentros, 3G, celular, o momento é outro. Gisela Domschke: Acho que é a qualidade do humano que a gente tem que buscar. E isso tanto no trato com a tecnologia quanto no trato entre nós, humanos. Acho muito importante ver quem vai colaborar nesse projeto. Não adianta investir em tecnologia de ponta e ter pessoas que não possuam a compreensão dessa dimensão experimental, porque aí não acontece. E isso é uma coisa muito rara. Criar uma estrutura que possibilite que as pessoas possam trabalhar, criar e passar isso adiante, fazer florescer. Penso que é basicamente por aí que temos que direcionar o projeto redelab. O exemplo do LabMIS. Eu vim de Londres muito com esse tipo de abordagem. Nosso curso era parte do programa do centro de estudos culturais, onde existia uma interdisciplinaridade. Tínhamos alunos voltados para a indústria, mas também alunos voltados para a arte. E outros para o ativismo. Quando cheguei em São Paulo e soube que o MIS planejava abrir um laboratório – um laboratório em um museu público – vi a possibilidade de se criar algo excepcional. Em termos de formato, a gente tinha que atender às reivindicações de vários artistas que estavam lá como orientadores. Tinha pessoas de diversas áreas, cada um propondo uma lista de equipamentos. A gente teve que pegar o orçamento e ver o que podia fazer para atender às diversas demandas. Criamos um laboratório de edição de vídeo com máquinas da Apple e fibra ótica. Mas criamos em outra sala um lab de desenvolvimento de interfaces. A ideia naquela sala era ter linux, sensores, placas arduino, ferramentas, etc. Aquela sala era um espaço dedicado a essa cultura digital alternativa, até te chamei… efeefe: É, a gente conversou na época… Gisela Domschke: O espaço também pode ser fundamental, o espaço é necessário. Tem esses dois elementos, o espaço e o humano. E vontade, dedicação. Com isso acho que se pode fazer o que quiser. efeefe: Outra coisa que a gente está pensando é como desenvolver arquiteturas de diálogo. Arquiteturas que facilitem a troca. Gisela Domschke: você vê, os Zapatistas podem ser uma grande inspiração em termos de arquitetura de comunicação. Como é que a gente não consegue fazer isso acontecer hoje? O Brasil pode ser bem desconectado… efeefe: Em um sentido é, mas no outro não! Gisela Domschke: No outro não, claro. Mas ainda assim. As pessoas aqui em São Paulo falam do Acre como se fosse “o fim do mundo”! efeefe: Tem duas coisas diferentes, uma coisa é o Brasil e outra é São Paulo. São Paulo é um caso à parte no Brasil, justamente nisso de estar à parte. Eu vejo muito mais intenção, por mais que às vezes não aconteça até porque não tem recursos, mas muito mais vontade e abertura pra diálogo fora de sampa do que aqui. Aqui tem um pouco mais de recursos, mas tem muito mais competição. Não tem muito essa disposição pro diálogo. Tem bastante ativismo, mas os ativistas torcem a cara pra arte. Gisela Domschke: essas segmentações eu não entendo. efeefe: Tem essa coisa da competição, e por isso eu penso em arquiteturas de diálogo. Como a gente faz um processo que todo mundo se sinta à vontade pra se apropriar. Gisela Domschke: Um pode dialogar com outro, e aí criar outras coisas, não? efeefe: Mas pra isso é necessário um papel de mediação… Gisela Domschke: É aí que entram em cena essas figuras importantíssimas – os mediadores. Não é tanto administação, mas mediação o que é necessário. efeefe: Durante o Labtolab em Madrid, uma das conversas que aconteceu era sobre residências, intercâmbios, etc. Uma integrante do Medialab Prado sugeriu que não deveria haver residências só dos artistas, mas também dos mediadores culturais, de pessoas que estão envolvidas com outras coisas, mas são fundamentais pro que acontece em cada um dos labs. Pensar nesse tipo de intercâmbio também: de gestão, não só de produção. E pensar circuitos. Eu quero acreditar que está se formando no Brasil nos últimos anos um circuito de eventos e espaços. Antes eram coisas mais esporádicas, isoladas. Hoje já tem, só aqui em Sampa, o Arte.Mov, o FILE, o Reverberações, a programação do Itaú Cultural, do MIS, Matilha Cultural. Um monte de coisas acontecendo, e todas estão em contato. A gente vê as mesmas pessoas participando, e isso acaba se tornando um circuito que pode ser trabalhado, desenvolvido. Que já é mais do que existia há alguns anos. Eu lembro de 2003 no Mídia Tática Brasil, que foi o primeiro momento de contato entre um monte de gente do Brasil inteiro. Gisela Domschke: Foi em 2003 que veio o Barbrook? efeefe: Isso, veio o Barbrook, o John Perry Barlow, e o Gil ali no meio. Foi um momento de efervescência. Antes daquilo era meia dúzia de pessoas em cada cidade grande do Brasil que se encontrava pra fazer umas coisas e dialogava muito mais com o que acontecia fora. E aí começou uma integração, intercâmbio entre as pessoas daqui. Depois vieram os pontos de cultura, fez um tipo de contato entre as pessoas mas era uma coisa muito mais utilitária. “Esse ferramental aí de tecnologia e mídia… como é que usa isso pra alguma coisa?”. E nunca teve o momento de aprofundar no que é o isso, qual o isso que a gente quer propor. Sempre foi o “como é que isso serve pra alguma coisa”. Então, tem um monte de gente que tem potencial, que tem um histórico interessante de produção experimental, mas que teve que se encaixar nos formatos possíveis. Gente que não aguenta mais dar oficina. Mas que não tem a estrutura, o interesse, a paciência pra entrar no jargão do financiamento tradicional de projetos experimentais. E é daí que surge essa pergunta, como é que a gente faz pra essas pessoas poderem trabalhar, contemplando toda a visão de processo e não só da obra, da produção, do que pode ser exibido nos circuitos tradicionais. Gisela Domschke: Ontem mesmo numa discussão, levantei essa questão: aqui no Brasil a gente não tem nenhum edital para pesquisa no campo da arte. Você sempre tem que entregar um produto cultural. Pra quê? Pra ir lá e fazer a contabilidade no final. Tira foto e manda. Estava comentando sobre essa necessidade de se abrir esse espaço, esse apoio para pesquisa. O British Council fez um pouco isso com o Artist Links. Nesse programa a gente não tinha a necessidade de entregar um produto cultural. Uma coisa tão bacana, mas que infelizmente não terá continuidade. Uma pena. Faz-se três anos na China, três anos no Brasil, e então rumo ao próximo Bric. efeefe: Cumprir agenda. Gisela Domschke: Acho bem complicado isso dentro do momento atual da globalização. Muitas vezes a troca cultural segue interesses econômicos. efeefe: É mais pra mostrar lá do que aqui. Gisela Domschke: Mais pra mapear realmente, e ver onde eles se situam. Compreender a cultura local seria a etapa inicial para futuros relacionamento de negócios. efeefe: Pra estabelecer controle. Eu estou conversando com o consulado da Holanda de novo porque eles querem uma atualização do mapeamento de cultura digital no Brasil feito em 2009. Mas agora a gente quer fazer em português, e depois traduzir. Porque isso pode ser interessante pra gente mesmo e pra outros contextos. Isso pode ser um começo de troca. Gisela Domschke: O Brasil mesmo poderia fazer esse tipo de mapeamento. E como funciona? A Holanda vai e aponta umas pessoas. Poderiam existir outras formas de se fazer um mapeamento. efeefe: Eu já propus pra eles de fazer um wiki. A gente vai e escreve sobre tal organização, mas quero que o pessoal da organização também vá lá e escreva. Gisela Domschke: Nosso Ministério da Cultura poderia conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo no país. Mesmo nós, não conhecemos tudo. Para o redelabs, esse conhecimento seria fundamental. efeefe: A gente está pensando nessa questão de trabalhar nos espaços inter-institucionais. E tem essa dificuldade de fazer as estruturas não só entrarem na conversa, mas também cada uma delas ceder espaço, tempo, conhecimento para uma rede que se forma também fora delas. Gisela Domschke: A troca com a instituição pode trazer um conteúdo diversificado. Não precisa só estar na Bienal, no MAC, etc. Poderíamos, por exemplo, ter uma rede no Teatro Oficina. Teatro é um ambiente que pode trazer coisas interessantes em termos de linguagem. Pode ter um nó dessa rede em um espaço de música. De certa forma, criar uma interdisciplinaridade, mas usando instituições que já são focadas em certas linguagens. E na rede a interdisciplinaridade acontecer com pessoas que são especialistas. efeefe: Sim. A gente está querendo fugir um pouco da imagem de media lab pra sair das limitações… Gisela Domschke: É necessário trazer o humano! efeefe: … e pensando em laboratórios em rede, o que dá pra interpretar de uma forma positiva. Gisela Domschke: Seria uma coisa tática, de guerrilha mesmo. Ocupar esses espaços todos. E criar comunicação entre eles. Só isso já seria um grande gol. efeefe: A questão é: o quê propõe nisso? Como começamos? Gisela Domschke: É aí que entra esse diálogo com cada instituição ou organização. Seguindo o exemplo, no Teatro Oficina: aconteceria uma coisa ali com o Zé Celso totalmente diferente do que aconteceria com a Ana Magalhães no MAC. Daí se criam focos de ideias totalmente diversificados. efeefe: Um campo de improbabilidade. Gisela Domschke: E não fica aquela coisa de gueto, porque a rede está comunicando a diversidade. Essa interdisciplinaridade seria a grande transformação. Esse diálogo. E aí pensando naquele mapeamento… há de haver milhares de instituições/organizações pelo Brasil afora, com as quais a gente não consegue se comunicar. A redelabs viria para interferir nesta situacão. Aquele site do Minc, o Cultura Digital, talvez fosse uma tentativa de fazer isso. Mas não adianta vir de cima. efeefe: Eu estava conversando com o Mushon Zer Aviv, que é ligado ao Eyebeam em Nova Iorque. Ele levantou uma questão: como promover a colaboração sem obrigar as pessoas a colaborarem? Tem também o texto do Geert Lovink, The principle of notworking [pt-br aqui, traduzido por Novaes], que fala que um dos elementos principais da colaboração é que as pessoas podem optar por não colaborar. Se elas não puderem escolher não colaborar, não é colaborativo de verdade. Ele critica ali todas as estruturas que pensam a colaboração a partir da obrigatoriedade da colaboração. Gisela Domschke: Concordo. E a rede apenas pela rede não é suficiente. Tem que ter o humano, e o presencial. efeefe: E liberdade. O que eu acho legal no Eyebeam é que eles têm um programa de bolsas pras pessoas ficarem um tempo fazendo o que quiserem. É um caminho interessante: um formato aberto o suficiente que banque as pessoas produzindo – o processo mesmo – mas que vincule essa produção a algum espaço físico. O cara pode até propor de fazer na garagem da casa dele. Deixar indeterminado. Um resultado possível dessa nossa investigação de Redelabs é ouvir que o laboratório físico o cara pode ter em casa. Gisela Domschke: Essa flexibilidade é fundamental. O laboratório é essa atitude de querer experimentar, de fazer alguma coisa. efeefe: E aí a gente vai pro teatro, e laboratório tem outro significado. Gisela Domschke: Por isso que eu acho bacana esse trânsito. Talvez um sistema de bolsas de apoio a experimentação e fluxo. Porque assim não tem aquela coisa de sobrar lá uma sala com equipamentos que não são utilizados. efeefe: E tem um monte de elementos novos. Um exemplo fácil é o celular com internet. Tem toda uma questão aí, que a base é comércio, empresa, dinheiro. Mas tem por outro lado uma liberdade que a gente ainda não conseguiu explorar. Se ficarmos presos no modelo de medialab, a gente não vai conseguir explorar isso tudo. E as pessoas não vão ocupar o espaço, vão esperar a indústria trazer a inovação de fora, sem nenhum questionamento além da rejeição total. E isso não muda nada. Gisela Domschke: Muito legal o questionamento. Acho que é isso, pensar mesmo “pra quê” existir o laboratório hoje em dia.* Artista e curadora, mestre em Design de Comunicação pelo Central Saint Martins College of Arts, em Londres. Coordenou o curso de mestrado em Mídias Interativas na Goldsmiths University, em Londres. Participou de diversas exposições e festivais de mídia, entre eles o World Wide Video Festival (Amsterdam), Pandemonium Festival (Londres), Lovebytes (Sheffield), Videobrasil (São Paulo), Bienal Mercosul (Porto Alegre), 24a Bienal de São Paulo (São Paulo), Whitney Biennial (Nova York), FILE (São Paulo), ICA New Media Talents Awards (Londres). Suas obras foram publicadas em periódicos como Creative Review, Blueprint, The Guardian e Arco Magazine. Coordenou a criação do LABMIS, laboratório de mídias do Museu de Imagem e do Som, onde foi responsável pela programação de eventos, workshops e programas de residência de artistas. Foi orientadora do curso de Digital & Virtual Design do Istituto Europeo de Design, São Paulo, e é professora da Escola São Paulo e da FAAP. Desenvolve projetos de curadoria e produção executiva em colaboração com instituições culturais internacionais como British Council, AHRC, Mondriaan Foundation, Virtuel Platform e Ludic Group.
Entrevista – Drew Hemment

Drew Hemment
Continuando o post anterior (sobre o Future Everything), vai abaixo uma curtíssima entrevista que consegui fazer com Drew Hemment. Drew é diretor do festival Future Everything, que nesse ano sediou também a Glonet (global networked event) – que contou com um capítulo brasileiro junto com o Arte.Mov. Ele esteve no Brasil há alguns anos (relato aqui).
efeefe: Faz sentido chamar os projetos que o Future Everything exibe de “cultura digital experimental”? O que você acha dessa expressão e como isso se relaciona com o contexto mais amplo de como as tecnologias se inserem no mundo (em termos econômicos, artísticos, sociais, ambientais, etc.). Drew Hemment: “Cultura Digital” já foi referido anteriormente a grupos de pessoas engajando-se naquelas mídias e artes digitais que eram relativamente fáceis de distinguir da cultura não-digital. Hoje, à medida que o espaço digital se espalha para todas as áreas, é muito mais difícil identificá-lo como uma área discreta. Eu nunca usei o termo “cultura digital experimental”, mas é uma opção possível para indicar aquelas áreas do espaço digital mais amplo que incluem artistas, hackers, a borda mais interessante da comunidade de desenvolvedores, etc. efeefe: Eu sei que vocês têm experimentado com formatos bastante enredados, com particular sucesso na Glonet (conferência enredada global). Por que vocês propuseram isso? Drew Hemment: A motivação foi em primeiro lugar a sustentabilidade ambiental – reduzindo a necessidade de viagens aéres -, e em segundo lugar buscar novas maneiras de se estar conectado globalmente em uma época em que a telepresença e afins se tornaram interessantes outra vez. Os resultados podem ser vistos em nosso blog. efeefe: Que tipo de mecanismo de apoio ainda falta para propiciar a produção de experimentação cada vez mais enredada e sustentável? Por exemplo, alguns artistas demandam alternativas de financiamento que enfoquem menos em obras artísticas e mais em processos, o que possivelmente levaria a produção menos competitiva e mais cooperativa. Que papel você imagina que o governo deve ter nesse contexto? Drew Hemment: É uma pergunta difícil de responder sem transformar em um grande texto que infelizmente não posso fazer agora. Eu concordo bastante com sua afirmação. No clima econômico atual, agora é a época de ser muito empreendedor, não no sentido de buscar lucro, mas de ser inventivo em como se desenvolve e apoia projetos. É o que nós mesmos estamos tentando. Não temos todas as respostas, mas estamos definitivamente fazendo as perguntas! Pessoalmente, tendo a pensar que o financiamento público não pode ser toda a resposta… No Reino Unido o governo não se demonstrou muito bom em ver o valor da cultura DIY emergente [grassroots]. O Brasil foi (algumas vezes) melhor. Ao mesmo tempo, muitas pessoas na área valorizam sua independência. Eu gostaria de ver os governos apoiando mais essa área, apesar de, como eu falei antes, eu não ver financiamento como a resposta a tudo.Conversa com Cesar Harada
No começo do ano, eu estava dando uma vasculhada no site do projeto Opensailing, que concorria à premiação do festival Future Everything. Já tinha ouvido falar dele, e pareceu que podia ter alguma relação com o cenário aqui em Ubatuba. Resolvi entrar em contato com Cesar Harada, idealizador do projeto. Cesar é um francês de ascendência japonesa que desenvolveu seu mestrado no RCA, em Londres, e depois recebeu uma fellowship do TED (entre outras conquistas). Ele respondeu-me entusiástico, dizendo que me conhecia – havia assistido à apresentação que fiz no RCA com Ruiz e CV, há uns dois anos. Falou que admirava as posições e táticas da MetaReciclagem. Na época, ele estava em Londres desenvolvendo protótipos para o Opensailing. Quando eu comecei a pesquisa redelabs, comecei uma conversa/entrevista com ele. Cesar estava no Quênia desenvolvendo a World Environment Action, e a caminho de Boston para começar a trabalhar em um laboratório do MIT. Nossa conversa já começou com uma mudança:Há duas semanas, Cesar me mandou outro e-mail:Cesar Harada
Cesar: Eu acabei de me demitir, ontem (07/07), de uma posição na Escola de Arquitetura SENSEable City Lab (MIT), mas me ofereceram outra vaga no departamento de artes do MIT Media Lab a partir de outubro até janeiro de 2011. Mas eu não sei mais quão relevante isso é. Eu quero focar em oceano e pesquisa, não na mídia que cerca isso. efeefe: Como o Media Lab do MIT difere do que se pode encontrar em instituições em Paris e Londres? Cesar: A cena de arte e mídia em Paris e na França em geral são bastante apoiadas pelo estado. A arte que sai de lá é muito oficial e “antiquada”. Ela precisa de alguma maneira ter uma conexão com a história da arte ou referências fortes. Uma comunidade underground no Ministério da Cultura está sempre fazendo exposições extravagantes com dinheiro maluco. A arte e mídia na França é em grande parte financiada pelo DICREAM e museus públicos locais como Le Cube e o 104. Existe um pequeno grupo emergente de coletivos underground que fazem cada vez mais movimento como a Ars Longa, e uma cena squat bem underground está surgindo também, mas crescendo muito devagar. Então Paris é em grande parte institucional e muito intelectual, crítica, enraizada na filosofia francesa. Em Londres é muito diferente. A cena de design interativo é muito mais comercial. Na arte-mídia existem umas poucas instituições que podem bancar prospecção, mas elas são muito boas. A cena de arte britânica em geral é muito mais provocativa e mais rasa do que a francesa, mas também mais dinâmica e mais ligada ao mundo da mídia do que ao mundo da arte. Nos EUA o Media Lab está quase totalmente incorporado à indústria. No laboratório onde eu trabalhava, nenhum projeto é independente. Cada projeto tem um financiador externo. Com exceção de poucas e ótimas exceções, o Media Lab do MIT é extremamente comercial e apoiado comercialmente. O melhor exemplo é o próprio motivo da minha saída. O laboratório me pediu para desenvolver uma tecnologia para limpar a mancha de óleo [do vazamento no Golfo do México]. Eu projetei máquinas para limpar o vazamento de óleo. Mas eles queriam me forçar a trabalhar com uma nanotecnologia que só estará disponível depois de 2020. A ideia deles era pegar 20 milhões de dólares, dividir entre dois laboratórios e desenvolver o conceito das máquinas, em vez de soluções reais. O laboratório estava recorrendo a fundos de emergência para levantar recursos para uma tecnologia que não era adequada para solucionar emergências. Mas eles não se incomodam em usar dinheiro de pessoas que estão passando por problemas agora. Eles só querem associar arte e ciência, aparecer e ficar ricos rapidamente. Então eu decidi que estava mais interessado em ter impacto real no meio ambiente. Então estou saindo para tentar desenvolver eu mesmo a tecnologia. Porque o Media Lab trabalha com mídia, não mais com ciência. A política do laboratório de cidades SENSEable do MIT é extremamente proprietária. No momento que eu entrei lá, tive que assinar um papel dizendo basicamente que minha alma pertence ao MIT. Meu coordenador tenta patentear todas as nossas ideias, fazer o máximo possível de dinheiro, mesmo em projetos humanitários… Então, acho que você pode entender por que eu estou tão feliz de sair. Eu estava no ninho de cobras. Eles são loucos, totalmente o oposto da MetaReciclagem. São tão antiquados em seu jeito de fazer negócios! Além disso, o MIT é incrivelmente hierárquico. Eu era coordenador de pesquisa, dando ordens para dez pessoas. Isso não é o meu jeito de fazer as coisas. Eu sou mais distribuído, gosto de tratar as pessoas como humanos, não como escravos. Então eu posso dizer com confiança que o Reino Unido é o mais voltado para o futuro (ficção – 2030), a França é orientada à arte (salto poético a 2020) e o MIT é incorporado ao mercado (2011). Minhas expectativas do MIT eram totalmente diferentes. Eu estou desapontado por eles serem tão antiquados. Eles têm excelentes ideias, mas não desafiam estruturas sociais, e não pensam além daquilo que a indústria deixa eles pensarem. No fim das contas, eu aprendi um monte. Eu ficaria muito feliz em ajudar a construir, por exemplo, novos modelos de laboratórios no Brasil, se o tempo permitisse. Eu entendo que o MIT Media Lab parece muito bom, olhando de fora. Mas acredito que há muitas outras (e melhores) formas de organizar uma estrutura social para produzir inovação. Eu vim ao Media Lab pensando nele como uma casa de produção. Acredito que teria sido melhor se eles estivessem trabalhando mais colaborativamente e de forma mais aberta. Além disso, o fato de que eles têm ligações tão fortes com a indústria os transforma em agências de publicidade semi-corruptas. Então, acredito que existem um monte de coisas para aprender com o MIT, mas por outro lado muitos vícios podem ser evitados com nossa forma de pensar – algo como um híbrido de MetaReciclagem, Open Sailing e Media Lab – uma entidade estranha. Um exemplo interessante que eu encontrei é o Kitchen Budapest. Eu só ouvi coisas boas sobre eles: Cada pesquisador tem um pagamento fixo. Cada pessoa passa 80% do tempo em projetos pessoais, 15% em colaboração, 5% para o laboratório em geral. Muito produtivo, um monte de diversão, espaço aberto, bom relacionamento com a indústria, políticas open source, tudo de bom!
A situação no Golfo estava OK até o fim de agosto, mas eles pararam grande parte do esforço de limpeza do mar porque a mídia está ocupada com outras coisas… eu estou no momento em Seoul, na Coreia, trabalhando em um protótipo para a máquina de limpar óleo. Encontramos também um patrocinador e alguns contatos interessantes – assim espero.
Entrevista – Alejo Duque
Há alguns meses, durante a Lift em Genebra, conversei sobre laboratórios enredados, estratégias nômades e assuntos afins com Alejo Duque. Alejo é um artista colombiano que vive na Suíça e circula por diversos espaços de arte eletrônica, ativismo midiático e afins. Também é um colega de rede Bricolabs . Vão abaixo alguns pedaços da conversa.
 Alejo Duque: Esse conceito de laboratórios em rede é muito relevante aos tempos em que vivemos. Uma boa rota para trabalhar com um grupos mais amplos do que os grupos locais. De uma maneira, se estamos conversando agora é porque já fazemos alguma coisa assim. Isso já é um laboratório em rede! Não é algo novo que vamos criar. É algo que já existe, com que já trabalhamos, que nos acompanha todo o tempo em que estamos conectados em rede. O que pode ter de novo essa aproximação? O que não existe nos modelos que já temos?
efeefe: É uma questão em aberto. Há um interesse de várias áreas em fazer coisas enredadas, mas não existe uma ideia fechada nisso. Redelabs quer se perguntar exatamente isso: o que podemos propor? Ano passado, no processo do Fórum de Cultura Digital, emergiu a demanda por medialabs. Mas geralmente o que se pensa como medialab é o que se fazia dez anos atrás: estruturas. Porém hoje em dia, pelo menos nas cidades grandes, existe banda larga, os computadores e câmeras são mais baratos. Ao mesmo tempo, há centenas de projetos no Brasil que poderiam ser vistos como medialabs táticos em diferentes sentidos. O importante não é mais a estrutura, mas uma estratégia de ocupação desses espaços que já existem. A ideia agora é conceber um projeto para propor uma estratégia de rede para esses espaços. Acho importante uma coisa mais próxima ao cotidiano, mas trazendo a reflexão sobre meios eletrônicos e o tipo de cultura que se pode fazer com meios eletrônicos quando eles se hibridizam com as culturas populares.
Alejo Duque: Nas sociedades latino-americanas é muito claro o apetite voraz de copiar o que acontece no restante do mundo. É essa noção específica de globalização. Estamos vendo uma cultura das empresas que produzem o imaterial. As indústrias desaparecem, e chegam os museus interativos. Se fala em melhorar o ar das cidades, criam-se bibliotecas, tem toda a questão da gentrificação que acompanha uma cultura de serviços. É um capitalismo selvagem mas muito camuflado. As pessoas que estão responsáveis por essas mudanças querem saber o que pôr nos edifícios que estão construindo. Já não querem medialabs. Há dez anos, tudo que falava em Medialab do MIT tinha muito impacto! Felizmente, hoje falam em Fablab. Eles têm que comprar as máquinas, para fazer um Fablab em seus novos edifícios. Eu venho de um lugar muito parecido com o Brasil e penso que a pequena escala em nível social é que pode efetivar mudança e construir algo maior. É na pequena escala, onde se pode trabalhar com pequenos grupos que vão se solidificando e construindo algo maior, sem dúvida.
Em Medelín particularmente, em se falando de ajudar culturalmente um grupo social para gerar mudança, estão ajudando aos garotos que estão trabalhando com renderizaçao 3d e mundos sinteticos, animação, etc. Encanta a eles o caso da Nova Zelândia – onde passaram a fazer filmes para Hollywood, têm super estúdios, rendering farms, etc. Em Medelín estão tratando de motivar os jovens para que criem empresas nesse modelo. Estão querendo que Medelín vire um hub para empresas como a Pixar. A mim parece um pouco louco.
efeefe: Essa coisa de outsourcing
Alejo Duque: Exato.
efeefe: E se descarta todo um componente cultural que é forte e pode ser fundamental hoje em dia. Tem uma reflexão que acho importante e queria saber tua opinião: no Brasil tivemos muito tempo de instabilidade política, precariedade, em que não havia infraestrutura, etc. As pessoas precisaram desenvolver um senso de criatividade cotidiana que está muito próximo da coisa de low-tech e de aproveitar os restos do processo industrial como matéria-prima de novas invenções. E agora vejo uma coisa na Europa, nos centros de mídia interessados em software livre e low tech e esse tipo de criatividade, toda a coisa de Fablabs e de fabricar em vez de comprar. Porque aí tem um processo diferente de evolução nos últimos anos – todas as pessoas se transformaram mais em consumidores do que atores, inventores, criativos. Houve uma separação entre a criatividade e a vida cotidiana.
Com as novas tecnologias existe toda a relação com o sentido de inventividade cotidiana – a Gambiarra no Brasil, o termo similar na Colômbia, na Índia ["jugaad"]. E a maneira com que isso cria um tipo diferenciado de apropriação de novas tecnologias, eu acredito que leva a uma situação inversa – agora não estamos olhando pra fora e dizendo que devíamos fazer como eles, mas estamos dando o exemplo de como se apropriar das tecnologias para fazer as pessoas desenvolverem seu potencial de criatividade e inventividade. Queria saber da tua experiência com os medialabs da Europa nessa questão da criatividade cotidiana que a gente tem e que agora está sendo interessante também nos países desenvolvidos.
Alejo Duque: É interessante que estejam valorizando muito mais esse tipo de aproximação à tecnologia. Pra mim é estranho, porque tem essa coisa que evolui muito naturalmente quando se é pequeno e está procurando uma porca para a bicicleta ou algo assim. Alguma coisa estragou e você tem que arrumar. É muito bonito porque você pode ir à rua, olhando pro chão por um par de quadras e vai encontrar muita coisa – uma alavanca, uma chave, uma porca e muitas outras coisas. E vai guardar porque entende que mesmo que não vá usar agora pode precisar mais pra frente. Esse é seu laboratório! O laboratório está nas ruas, todo espalhado pelas ruas. E essa sensibilidade se vê valorizada agora na Europa.
De qualquer forma, nós continuamos aprendendo muito com o que eles estão fazendo. Hoje existe esse boom de arduino, cultura maker, DIY [faça você mesmo], instructables, etc. Eu chego a outra questão: sobre toda a comercialização da cultura DIY, que tentei tocar no texto coletivo da bricolabs sobre lowtech . Falei ali comparativamente sobre o catálogo da Radio Shack, que há 40 ou 50 anos era o mais importante pra quem queria aprender sobre rádio e coisas eletrônicas. Penso que a revista Make, que catalisa toda a cultura maker, está vindo por esse caminho. E me parece muito interessante que todo mundo esteja atuando muito com energias renováveis, com recuperar ímãs de HDs para gerar eletricidade, como o pessoal fez aí no Brasil [eu tinha mostrado pra ele esse vídeo do Peetsa]. Mas me parece delicado que através de todos esses sites, de certa forma tão light, hype e fashion, se esteja impulsionando um mero consumo desse tipo de apropriação de tecnologias. Vejo aí um choque frontal entre aquele sair à rua que falei antes e o que a gente aprende a fazer através da internet.
Semana passada a gente fez uma oficina na Suíça e refletimos sobre as pessoas de lugares ditos subdesenvolvidos que têm isso como filosofia de vida – pessoas que sobrevivem e vivem e pensam e todos os dias atualizam essas práticas de apropriação na sua performatividade diária, no cotidiano. Isso é uma filosofia. Essas pessoas nunca estão interessadas no que a gente tá fazendo aqui. Hacking, modding, apropriação, conversão, nada disso. Isso é uma coisa muito importante de discutir, porque a gente tá exatamente no meio do caminho. Nenhum desses senhores que trabalham na rua arrumando carros, que têm as mãos sujas de graxa, vai se interessar por isso. Óbvio que pra gente é um prazer ir conversar com eles e compartilhar, mas…
efeefe: Acho que existe um atrativo interessante para essas pessoas, que é a coisa da tecnologia. E olha isso: podemos usar o pior lado da tecnologia – o mito de estar conectado, de entrar no mundo do que as pessoas mais ricas fazem, pra atrair as pessoas. E em seguida podemos desconstruir essa ilusão e dizer: vem aqui, tu vai aprender a pegar um computador, abrir, fazer coisas com ele. E começar a informá-lo das possibilidades da tecnologia digital auxiliar suas habilidades práticas cotidianas. Não sei o caminho pra isso, mas algumas experiências já foram feitas – conversar com os mestres de culturas populares, mostrar as possibilidades das novas tecnologias. Claro que existe o risco de gerar somente mais consumidores – pessoas que querem comprar coisas, que nunca estão satisfeitas com suas vidas. Precisamos evitar isso. Mas de qualquer maneira não é justo mantê-los longe de qualquer possibilidade por medo de influenciá-los.
Alejo Duque: Vem de novo a pergunta de inclusão e exclusão, sobre a qual já conversamos um pouco na rede Bricolabs. Os políticos falam em inclusão digital. E às vezes a gente percebe que a tal inclusão é uma intromissão completa na vida privada. Pensamos em trilhar o caminho da privacidade, de resguardar a intimidade, fazer com que respeitem nossos atos, nossas pegadas digitais, que se possa decidir quando nossos rastros são indexados e estudados por uma empresa de mercado e quando não. Até mais, escolher quando eu posso deixar rastros que não são verdadeiros – pensar que se alguém me persegue vou simular que vou por esse caminho mas vou por outro.
efeefe: Pistas falsas. Tem a ver também com estratégias de inteligência nas pontas, e não no meio. Na vida cotidiana, nas ditaduras da América Latina, nos estados policiais, nas sociedades violentas, a gente também aprendeu a sobreviver no dia a dia e fazer rastros falsos, toda uma estratégia de sobrevivência e de privacidade. A gente tem uma noção de privacidade diferente: na Europa existe essa coisa do espaço privado, da casa de cada um. Já a gente no Brasil sempre tem convidados dormindo no sofá, o vizinho que tem a chave, a prima do interior que tá morando na sala. Isso constroi uma outra noção de privacidade, mais flexível.
Alejo Duque: A gente tem que pensar em quando estamos trazendo os mestres de cultura popular, como saber que estamos fazendo uma inclusão justa ou que ela está acontecendo de forma equilibrada. Que não vá virar consumismo ou colonização, tecnoconolização – introduzir tecnologias que não deveriam ser introduzidas.
efeefe: A própria ideia de inclusão já não me soa bem. Melhor é pensar que não são as pessoas que precisam se adaptar às tecnologias, em como transformar essas tecnologias para mudar a vida das pessoas. Não é que o mecânico precise enviar email ou entrar no chat, mas pensar em que tipo de tecnologia se pode desenvolver para melhorar a vida dele. Nesse sentido, a flexibilidade possível com software livre, low tech, etc, significa que se podem desenvolver novos dispositivos ou novos usos para dispositivos que já existem, especificamente para aquele cara. Então acho que é uma perspectiva que é um trabalho muito mais pesado do que tudo que já foi feito: desenvolver múltiplas tecnologias, e não só incluir. A mera inclusão, conceitualmente, sempre chega em um ponto em que não é mais necessária.
Alejo Duque: Em Medelín temos um problema estrutural. Vocês no Brasil têm uma estrutura muito maior e mais forte. Nossos grupos sao mais nômades, têm que ir de um lugar a outro com o hackerspace porque não há um lugar fixo. É muito dificil. Existem poucos lugares bons aonde ir. Por exemplo a Casa Três Pátios, centro para residências de artistas, onde estão muito interessados em uma aproximação da arte tradicional com a tecnologia. Temos que resolver nossos problemas estruturais para poder operar, e então ser capazes de abrir um espaço para ser hospitaleiros e trazer outras pessoas para gerar intercâmbios. É um metodo de trabalho que depende 100% desse tipo de interação e fluxo de informacao. Senão não o faríamos, estaria cada um em sua casa trabalhando pela internet.
efeefe: Ah, então uma questão importante: qual é a relevância de ter espaços para essas coisas? Por que as pessoas precisam de espaços e não trabalham cada um em sua casa? A ideia comum dos medialabs é de que havia tecnologias que não eram acessíveis às pessoas, e havia a necessidade de uma grande estrutura para pagar por acesso, computadores, câmeras. Quando isso vai mudando, ficando mais acessível e há ainda toda a possibilidade de trabalhar com computadores usados, qual o motivo de as pessoas ainda quererem se encontrar e compartilhar espaços? Não é somente compartilhar informação, que é possivel por email e skype, é?
Alejo Duque: O primeiro é uma coisa natural, que é o aspecto humano. Precisamos estar em grupos. É uma coisa bonita que se vê com alguns garotos que vêm ao grupo trabalhar. São dropouts, um pouco deslocados, que não se enquadram, não encaixam. Têm problemas com os grupos a que pertencem no colégio, na universidade, na carreira que estão seguindo. Problemas com o próprio sistema da Universidade, não conseguem cumprir horários e tarefas. Mas são muito bons. Fazem tudo de sua própria maneira, resolvem de maneira 100% criativa! E ali encontram um grupo com o qual podem experimentar, compartilhar. Encontram um grupo, o que é fundamental. O segundo, é quando alguém tem um problema operacional para resolver. Por exemplo, alguém que quer fazer uma obra interativa, com sensores, que quer passar uma mensagem para o mundo, essas coisas. Talvez tenha o computador, encontrou documentação na internet, mas o cara não sabe como fazer a parte eletrônica. É um pouco triste, porque existe um nível em que as pessoas vêm ao grupo para se utilizar do grupo, para seus fins pessoais. Por isso mesmo, uma das tarefas do grupo é trabalhar para que tudo seja entendido como um projeto de colaboração, e você sabe como isso é complexo e difícil.
efeefe: Não achas que aqueles techs que têm a visão mais fechada na coisa eletrônica, por exemplo, não podem também aprender com os artistas? Há um diálogo, ou então: o que podemos fazer para existir mais diálogo?
Alejo Duque: É uma situação que gera uma maravilha de interação. A palavra arte é uma que não usamos. De fato eu sou o único que teve uma formação em escola de arte. Só usamos essa palavra como piada, para rir. Para dizer “estamos fazendo arte” e brincar de tudo que significa essa história de arte. Porque sabemos bem que não queremos participar dessas economias de galeria, curadoria e exposição. É um grupo que tem muito mais gente da engenharia do que da arte. Eles gostam muito de poder sair da caixa de números e produção. Para eles é uma troca. Há diferentes maneiras de fazer e contribuir. E nós que somos artistas aprendemos muito porque os garotos têm um conhecimento e uma metodologia de trabalho muito avançada. Outra coisa que falamos é que o movimento do software livre é 50% do caminho ganho. Porque todos temos muito claro que estamos dando, entregando. Não há um problema de autoria, não é começar do zero.
efeefe: Que tipo de de estratégias se pode pensar para os grupos nômades? Para que possam compartilhar os espaços, o tempo de uso dos espaços de maneira efetiva, sem perder a flexibilidade e agilidade que têm enquanto grupos nômades? Porque existem muitas vantagens no nomadismo. E ainda, muitas estruturas existem e fazem suas próprias programações. Como conectar as estruturas e pôr no meio do caminho os grupos nômades que podem fazer o papel de informantes entre os espaços diferentes, o papel de hermes/mercúrio?
Alejo Duque: Das abelhas…
efeefe: Isso, das abelhas. Os informantes, as abelhas, já trabalham. Agora queremos criar estratégias para dar suporte a essas pessoas que cumprem essa função. Porque a institucionalidade sempre se preocupa principalmente em criar estruturas de acesso, e o que a gente está propondo no eixo redelabs é que já existem dezenas dessas estruturas. Então a pergunta é não somente como apoiar essas estruturas que já existem mas também como apoiar as coisas que existem entre as estruturas. Como criar estratégias que façam a conexão entre as estruturas.
Alejo Duque: É uma pergunta maravilhosa, que tem a ver com o que eu comentei antes: como definir o que são laboratórios em rede? Isso se liga muito bem à situação que temos. Em Medelín existe uma organização que se encarrega de usar parte dos lucros das empresas locais para traçar os caminhos para daqui a 25, 50 anos. São os que estão planejando o que vai acontecer estrategicamente com as pessoas que vivem na cidade. Conversei com o vice-presidente dessa organização. Eles vêm fazendo coisas interessantes. Estão muito preocupados porque não têm ideias novas, não encontram novas maneiras de fazer as coisas. Tiveram um momento de êxito, fizeram capitais enormes e hoje estão assustados porque estão saindo essas makerbots, repraps [impressoras 3D] se replicando por toda parte. Quem tinha a empresa para fazer injeção de plástico tem que estar um pouco assustado, porque daqui a pouco todo mundo vai fazer isso em casa. Então eles ainda têm poder, têm muito dinheiro e querem pesquisar, fazer P&D. E sabem que precisam desses grupos pequenos que operam por aí a partir das redes, que são rápidos e ágeis, que têm uma velocidade que eles nunca poderiam alcançar. Eles querem organizar essas conferências, oficinas.
Então talvez respondendo à tua pergunta: eles estão trabalhando através dessas oficinas realizadas no Museu de Ciências, em um espaço para comunidades. O grupo do Hackerspace vai lá e realiza oficinas de streaming, que também realizam no Museu de Arte Moderna. Dois públicos diferentes, um na comunidade e outro de gente que se aproxima do Museu. E também o fazem com o pessoal de 3D rendering, que certamente conhece o Blender, que é software livre, mas não sabem muito sobre outras possibilidades para compartilhar informação entre eles, e o steaming poderia ser útil. É assim que estamos operando na colombia, em Medelín particularmente. O Hackerspace está recebendo por essas oficinas, que paga seus custos.
efeefe: Existe um perigo aí que já passamos no Brasil, e começamos a mudar: a apropriação. As pessoas que têm poder e dinheiro chamam os hackers e ativistas a trabalhar como técnicos para projetos conceituais, que no fim das contas vão dar muito mais dinheiro para os financiadores. Agora a gente tá pensando em mecanismos oficiais para equilibrar a equação, para que as pessoas não tenham que vender suas almas para as instituições locais. Criar ferramentas que permitam que os coletivos autogestionados mantenham o controle sobre suas coisas e que tudo seja compartilhado. Uma possibilidade é criar mecanismos oficiais, e o governo entra como órgão para equilibrar: tudo vai ser em licença livre, não se fala mais nisso. Equilibrar a relação entre os coletivos que têm potencia e agilidade, e as instituições que têm estrutura e dinheiro. É uma coisa de desenvolver um novo modelo de relação entre as instituições e as pessoas/coletivos.
Alejo Duque: Uma última coisa: estávamos falando sobre se incluímos ou não quem costumava nos excluir antes?
efeefe: Acho que a rede tem essa coisa de que a generosidade traz mais resultados do que seu oposto. Mas acho que depende muito do contexto.
Alejo Duque: Esse conceito de laboratórios em rede é muito relevante aos tempos em que vivemos. Uma boa rota para trabalhar com um grupos mais amplos do que os grupos locais. De uma maneira, se estamos conversando agora é porque já fazemos alguma coisa assim. Isso já é um laboratório em rede! Não é algo novo que vamos criar. É algo que já existe, com que já trabalhamos, que nos acompanha todo o tempo em que estamos conectados em rede. O que pode ter de novo essa aproximação? O que não existe nos modelos que já temos?
efeefe: É uma questão em aberto. Há um interesse de várias áreas em fazer coisas enredadas, mas não existe uma ideia fechada nisso. Redelabs quer se perguntar exatamente isso: o que podemos propor? Ano passado, no processo do Fórum de Cultura Digital, emergiu a demanda por medialabs. Mas geralmente o que se pensa como medialab é o que se fazia dez anos atrás: estruturas. Porém hoje em dia, pelo menos nas cidades grandes, existe banda larga, os computadores e câmeras são mais baratos. Ao mesmo tempo, há centenas de projetos no Brasil que poderiam ser vistos como medialabs táticos em diferentes sentidos. O importante não é mais a estrutura, mas uma estratégia de ocupação desses espaços que já existem. A ideia agora é conceber um projeto para propor uma estratégia de rede para esses espaços. Acho importante uma coisa mais próxima ao cotidiano, mas trazendo a reflexão sobre meios eletrônicos e o tipo de cultura que se pode fazer com meios eletrônicos quando eles se hibridizam com as culturas populares.
Alejo Duque: Nas sociedades latino-americanas é muito claro o apetite voraz de copiar o que acontece no restante do mundo. É essa noção específica de globalização. Estamos vendo uma cultura das empresas que produzem o imaterial. As indústrias desaparecem, e chegam os museus interativos. Se fala em melhorar o ar das cidades, criam-se bibliotecas, tem toda a questão da gentrificação que acompanha uma cultura de serviços. É um capitalismo selvagem mas muito camuflado. As pessoas que estão responsáveis por essas mudanças querem saber o que pôr nos edifícios que estão construindo. Já não querem medialabs. Há dez anos, tudo que falava em Medialab do MIT tinha muito impacto! Felizmente, hoje falam em Fablab. Eles têm que comprar as máquinas, para fazer um Fablab em seus novos edifícios. Eu venho de um lugar muito parecido com o Brasil e penso que a pequena escala em nível social é que pode efetivar mudança e construir algo maior. É na pequena escala, onde se pode trabalhar com pequenos grupos que vão se solidificando e construindo algo maior, sem dúvida.
Em Medelín particularmente, em se falando de ajudar culturalmente um grupo social para gerar mudança, estão ajudando aos garotos que estão trabalhando com renderizaçao 3d e mundos sinteticos, animação, etc. Encanta a eles o caso da Nova Zelândia – onde passaram a fazer filmes para Hollywood, têm super estúdios, rendering farms, etc. Em Medelín estão tratando de motivar os jovens para que criem empresas nesse modelo. Estão querendo que Medelín vire um hub para empresas como a Pixar. A mim parece um pouco louco.
efeefe: Essa coisa de outsourcing
Alejo Duque: Exato.
efeefe: E se descarta todo um componente cultural que é forte e pode ser fundamental hoje em dia. Tem uma reflexão que acho importante e queria saber tua opinião: no Brasil tivemos muito tempo de instabilidade política, precariedade, em que não havia infraestrutura, etc. As pessoas precisaram desenvolver um senso de criatividade cotidiana que está muito próximo da coisa de low-tech e de aproveitar os restos do processo industrial como matéria-prima de novas invenções. E agora vejo uma coisa na Europa, nos centros de mídia interessados em software livre e low tech e esse tipo de criatividade, toda a coisa de Fablabs e de fabricar em vez de comprar. Porque aí tem um processo diferente de evolução nos últimos anos – todas as pessoas se transformaram mais em consumidores do que atores, inventores, criativos. Houve uma separação entre a criatividade e a vida cotidiana.
Com as novas tecnologias existe toda a relação com o sentido de inventividade cotidiana – a Gambiarra no Brasil, o termo similar na Colômbia, na Índia ["jugaad"]. E a maneira com que isso cria um tipo diferenciado de apropriação de novas tecnologias, eu acredito que leva a uma situação inversa – agora não estamos olhando pra fora e dizendo que devíamos fazer como eles, mas estamos dando o exemplo de como se apropriar das tecnologias para fazer as pessoas desenvolverem seu potencial de criatividade e inventividade. Queria saber da tua experiência com os medialabs da Europa nessa questão da criatividade cotidiana que a gente tem e que agora está sendo interessante também nos países desenvolvidos.
Alejo Duque: É interessante que estejam valorizando muito mais esse tipo de aproximação à tecnologia. Pra mim é estranho, porque tem essa coisa que evolui muito naturalmente quando se é pequeno e está procurando uma porca para a bicicleta ou algo assim. Alguma coisa estragou e você tem que arrumar. É muito bonito porque você pode ir à rua, olhando pro chão por um par de quadras e vai encontrar muita coisa – uma alavanca, uma chave, uma porca e muitas outras coisas. E vai guardar porque entende que mesmo que não vá usar agora pode precisar mais pra frente. Esse é seu laboratório! O laboratório está nas ruas, todo espalhado pelas ruas. E essa sensibilidade se vê valorizada agora na Europa.
De qualquer forma, nós continuamos aprendendo muito com o que eles estão fazendo. Hoje existe esse boom de arduino, cultura maker, DIY [faça você mesmo], instructables, etc. Eu chego a outra questão: sobre toda a comercialização da cultura DIY, que tentei tocar no texto coletivo da bricolabs sobre lowtech . Falei ali comparativamente sobre o catálogo da Radio Shack, que há 40 ou 50 anos era o mais importante pra quem queria aprender sobre rádio e coisas eletrônicas. Penso que a revista Make, que catalisa toda a cultura maker, está vindo por esse caminho. E me parece muito interessante que todo mundo esteja atuando muito com energias renováveis, com recuperar ímãs de HDs para gerar eletricidade, como o pessoal fez aí no Brasil [eu tinha mostrado pra ele esse vídeo do Peetsa]. Mas me parece delicado que através de todos esses sites, de certa forma tão light, hype e fashion, se esteja impulsionando um mero consumo desse tipo de apropriação de tecnologias. Vejo aí um choque frontal entre aquele sair à rua que falei antes e o que a gente aprende a fazer através da internet.
Semana passada a gente fez uma oficina na Suíça e refletimos sobre as pessoas de lugares ditos subdesenvolvidos que têm isso como filosofia de vida – pessoas que sobrevivem e vivem e pensam e todos os dias atualizam essas práticas de apropriação na sua performatividade diária, no cotidiano. Isso é uma filosofia. Essas pessoas nunca estão interessadas no que a gente tá fazendo aqui. Hacking, modding, apropriação, conversão, nada disso. Isso é uma coisa muito importante de discutir, porque a gente tá exatamente no meio do caminho. Nenhum desses senhores que trabalham na rua arrumando carros, que têm as mãos sujas de graxa, vai se interessar por isso. Óbvio que pra gente é um prazer ir conversar com eles e compartilhar, mas…
efeefe: Acho que existe um atrativo interessante para essas pessoas, que é a coisa da tecnologia. E olha isso: podemos usar o pior lado da tecnologia – o mito de estar conectado, de entrar no mundo do que as pessoas mais ricas fazem, pra atrair as pessoas. E em seguida podemos desconstruir essa ilusão e dizer: vem aqui, tu vai aprender a pegar um computador, abrir, fazer coisas com ele. E começar a informá-lo das possibilidades da tecnologia digital auxiliar suas habilidades práticas cotidianas. Não sei o caminho pra isso, mas algumas experiências já foram feitas – conversar com os mestres de culturas populares, mostrar as possibilidades das novas tecnologias. Claro que existe o risco de gerar somente mais consumidores – pessoas que querem comprar coisas, que nunca estão satisfeitas com suas vidas. Precisamos evitar isso. Mas de qualquer maneira não é justo mantê-los longe de qualquer possibilidade por medo de influenciá-los.
Alejo Duque: Vem de novo a pergunta de inclusão e exclusão, sobre a qual já conversamos um pouco na rede Bricolabs. Os políticos falam em inclusão digital. E às vezes a gente percebe que a tal inclusão é uma intromissão completa na vida privada. Pensamos em trilhar o caminho da privacidade, de resguardar a intimidade, fazer com que respeitem nossos atos, nossas pegadas digitais, que se possa decidir quando nossos rastros são indexados e estudados por uma empresa de mercado e quando não. Até mais, escolher quando eu posso deixar rastros que não são verdadeiros – pensar que se alguém me persegue vou simular que vou por esse caminho mas vou por outro.
efeefe: Pistas falsas. Tem a ver também com estratégias de inteligência nas pontas, e não no meio. Na vida cotidiana, nas ditaduras da América Latina, nos estados policiais, nas sociedades violentas, a gente também aprendeu a sobreviver no dia a dia e fazer rastros falsos, toda uma estratégia de sobrevivência e de privacidade. A gente tem uma noção de privacidade diferente: na Europa existe essa coisa do espaço privado, da casa de cada um. Já a gente no Brasil sempre tem convidados dormindo no sofá, o vizinho que tem a chave, a prima do interior que tá morando na sala. Isso constroi uma outra noção de privacidade, mais flexível.
Alejo Duque: A gente tem que pensar em quando estamos trazendo os mestres de cultura popular, como saber que estamos fazendo uma inclusão justa ou que ela está acontecendo de forma equilibrada. Que não vá virar consumismo ou colonização, tecnoconolização – introduzir tecnologias que não deveriam ser introduzidas.
efeefe: A própria ideia de inclusão já não me soa bem. Melhor é pensar que não são as pessoas que precisam se adaptar às tecnologias, em como transformar essas tecnologias para mudar a vida das pessoas. Não é que o mecânico precise enviar email ou entrar no chat, mas pensar em que tipo de tecnologia se pode desenvolver para melhorar a vida dele. Nesse sentido, a flexibilidade possível com software livre, low tech, etc, significa que se podem desenvolver novos dispositivos ou novos usos para dispositivos que já existem, especificamente para aquele cara. Então acho que é uma perspectiva que é um trabalho muito mais pesado do que tudo que já foi feito: desenvolver múltiplas tecnologias, e não só incluir. A mera inclusão, conceitualmente, sempre chega em um ponto em que não é mais necessária.
Alejo Duque: Em Medelín temos um problema estrutural. Vocês no Brasil têm uma estrutura muito maior e mais forte. Nossos grupos sao mais nômades, têm que ir de um lugar a outro com o hackerspace porque não há um lugar fixo. É muito dificil. Existem poucos lugares bons aonde ir. Por exemplo a Casa Três Pátios, centro para residências de artistas, onde estão muito interessados em uma aproximação da arte tradicional com a tecnologia. Temos que resolver nossos problemas estruturais para poder operar, e então ser capazes de abrir um espaço para ser hospitaleiros e trazer outras pessoas para gerar intercâmbios. É um metodo de trabalho que depende 100% desse tipo de interação e fluxo de informacao. Senão não o faríamos, estaria cada um em sua casa trabalhando pela internet.
efeefe: Ah, então uma questão importante: qual é a relevância de ter espaços para essas coisas? Por que as pessoas precisam de espaços e não trabalham cada um em sua casa? A ideia comum dos medialabs é de que havia tecnologias que não eram acessíveis às pessoas, e havia a necessidade de uma grande estrutura para pagar por acesso, computadores, câmeras. Quando isso vai mudando, ficando mais acessível e há ainda toda a possibilidade de trabalhar com computadores usados, qual o motivo de as pessoas ainda quererem se encontrar e compartilhar espaços? Não é somente compartilhar informação, que é possivel por email e skype, é?
Alejo Duque: O primeiro é uma coisa natural, que é o aspecto humano. Precisamos estar em grupos. É uma coisa bonita que se vê com alguns garotos que vêm ao grupo trabalhar. São dropouts, um pouco deslocados, que não se enquadram, não encaixam. Têm problemas com os grupos a que pertencem no colégio, na universidade, na carreira que estão seguindo. Problemas com o próprio sistema da Universidade, não conseguem cumprir horários e tarefas. Mas são muito bons. Fazem tudo de sua própria maneira, resolvem de maneira 100% criativa! E ali encontram um grupo com o qual podem experimentar, compartilhar. Encontram um grupo, o que é fundamental. O segundo, é quando alguém tem um problema operacional para resolver. Por exemplo, alguém que quer fazer uma obra interativa, com sensores, que quer passar uma mensagem para o mundo, essas coisas. Talvez tenha o computador, encontrou documentação na internet, mas o cara não sabe como fazer a parte eletrônica. É um pouco triste, porque existe um nível em que as pessoas vêm ao grupo para se utilizar do grupo, para seus fins pessoais. Por isso mesmo, uma das tarefas do grupo é trabalhar para que tudo seja entendido como um projeto de colaboração, e você sabe como isso é complexo e difícil.
efeefe: Não achas que aqueles techs que têm a visão mais fechada na coisa eletrônica, por exemplo, não podem também aprender com os artistas? Há um diálogo, ou então: o que podemos fazer para existir mais diálogo?
Alejo Duque: É uma situação que gera uma maravilha de interação. A palavra arte é uma que não usamos. De fato eu sou o único que teve uma formação em escola de arte. Só usamos essa palavra como piada, para rir. Para dizer “estamos fazendo arte” e brincar de tudo que significa essa história de arte. Porque sabemos bem que não queremos participar dessas economias de galeria, curadoria e exposição. É um grupo que tem muito mais gente da engenharia do que da arte. Eles gostam muito de poder sair da caixa de números e produção. Para eles é uma troca. Há diferentes maneiras de fazer e contribuir. E nós que somos artistas aprendemos muito porque os garotos têm um conhecimento e uma metodologia de trabalho muito avançada. Outra coisa que falamos é que o movimento do software livre é 50% do caminho ganho. Porque todos temos muito claro que estamos dando, entregando. Não há um problema de autoria, não é começar do zero.
efeefe: Que tipo de de estratégias se pode pensar para os grupos nômades? Para que possam compartilhar os espaços, o tempo de uso dos espaços de maneira efetiva, sem perder a flexibilidade e agilidade que têm enquanto grupos nômades? Porque existem muitas vantagens no nomadismo. E ainda, muitas estruturas existem e fazem suas próprias programações. Como conectar as estruturas e pôr no meio do caminho os grupos nômades que podem fazer o papel de informantes entre os espaços diferentes, o papel de hermes/mercúrio?
Alejo Duque: Das abelhas…
efeefe: Isso, das abelhas. Os informantes, as abelhas, já trabalham. Agora queremos criar estratégias para dar suporte a essas pessoas que cumprem essa função. Porque a institucionalidade sempre se preocupa principalmente em criar estruturas de acesso, e o que a gente está propondo no eixo redelabs é que já existem dezenas dessas estruturas. Então a pergunta é não somente como apoiar essas estruturas que já existem mas também como apoiar as coisas que existem entre as estruturas. Como criar estratégias que façam a conexão entre as estruturas.
Alejo Duque: É uma pergunta maravilhosa, que tem a ver com o que eu comentei antes: como definir o que são laboratórios em rede? Isso se liga muito bem à situação que temos. Em Medelín existe uma organização que se encarrega de usar parte dos lucros das empresas locais para traçar os caminhos para daqui a 25, 50 anos. São os que estão planejando o que vai acontecer estrategicamente com as pessoas que vivem na cidade. Conversei com o vice-presidente dessa organização. Eles vêm fazendo coisas interessantes. Estão muito preocupados porque não têm ideias novas, não encontram novas maneiras de fazer as coisas. Tiveram um momento de êxito, fizeram capitais enormes e hoje estão assustados porque estão saindo essas makerbots, repraps [impressoras 3D] se replicando por toda parte. Quem tinha a empresa para fazer injeção de plástico tem que estar um pouco assustado, porque daqui a pouco todo mundo vai fazer isso em casa. Então eles ainda têm poder, têm muito dinheiro e querem pesquisar, fazer P&D. E sabem que precisam desses grupos pequenos que operam por aí a partir das redes, que são rápidos e ágeis, que têm uma velocidade que eles nunca poderiam alcançar. Eles querem organizar essas conferências, oficinas.
Então talvez respondendo à tua pergunta: eles estão trabalhando através dessas oficinas realizadas no Museu de Ciências, em um espaço para comunidades. O grupo do Hackerspace vai lá e realiza oficinas de streaming, que também realizam no Museu de Arte Moderna. Dois públicos diferentes, um na comunidade e outro de gente que se aproxima do Museu. E também o fazem com o pessoal de 3D rendering, que certamente conhece o Blender, que é software livre, mas não sabem muito sobre outras possibilidades para compartilhar informação entre eles, e o steaming poderia ser útil. É assim que estamos operando na colombia, em Medelín particularmente. O Hackerspace está recebendo por essas oficinas, que paga seus custos.
efeefe: Existe um perigo aí que já passamos no Brasil, e começamos a mudar: a apropriação. As pessoas que têm poder e dinheiro chamam os hackers e ativistas a trabalhar como técnicos para projetos conceituais, que no fim das contas vão dar muito mais dinheiro para os financiadores. Agora a gente tá pensando em mecanismos oficiais para equilibrar a equação, para que as pessoas não tenham que vender suas almas para as instituições locais. Criar ferramentas que permitam que os coletivos autogestionados mantenham o controle sobre suas coisas e que tudo seja compartilhado. Uma possibilidade é criar mecanismos oficiais, e o governo entra como órgão para equilibrar: tudo vai ser em licença livre, não se fala mais nisso. Equilibrar a relação entre os coletivos que têm potencia e agilidade, e as instituições que têm estrutura e dinheiro. É uma coisa de desenvolver um novo modelo de relação entre as instituições e as pessoas/coletivos.
Alejo Duque: Uma última coisa: estávamos falando sobre se incluímos ou não quem costumava nos excluir antes?
efeefe: Acho que a rede tem essa coisa de que a generosidade traz mais resultados do que seu oposto. Mas acho que depende muito do contexto. Entrevista - MSST
Glerm me entrevistou (e entrevistou também mais um monte de gente) para o blog do MSST (Movimento dos sem-satélite). Abaixo a minha parte:
2010/5/5 glerm soares:
> Como começou seu trabalho com software livre? Qual seu interesse atual neste
> sistema colaborativo? Que você acha do hardware livre? Que acha do termo
> "cultura livre"?
Eu comecei a ler sobre software livre muito antes de usar software livre. Lá por 2000 e 2001, tava começando a tentar entender as possibilidades de criação e inovação colaborativas entre pessoas que se relacionavam por redes. Ao mesmo tempo em que o Hernani Dimantas me passava umas dicas de leitura (manifesto cluetrain, hakim bey, outros), eu ia aprendendo um pouco sobre o software livre em termos mais conceituais. Quando resolvi tentar transformar essas ideias colaborativas em um sistema de "gestão da inovação" (foi mal, eu trabalhava em empresa e falava a língua delas nessa época) é que pude ter um contato mais direto com o código aberto e livre. Instalei e estudei o Zope. Montei uns sisteminhas toscos. Conheci um script pronto de CMS que imitava o slashdot e outro que implementava um "wiki", que na época eu nem sabia o que era. Gostei daquilo, mas achava o zope muito pesado.
Comecei a brincar com scripts livres que rodavam em PHP: phpnuke, postnuke, b2, nucleus e outros. Em 2002 com o projeto Metá:Fora e a necessidade de fazer um site pra organizar informação, configurei um phpwiki e isso foi o começo de uma história longa que entre outras coisas desembocou na MetaReciclagem.
Quando montamos o primeiro laboratório de MetaReciclagem, no começo de 2003, é que comecei a usar software livre como meu sistema operacional principal, e aprendi um monte observando a galera usar. Faz tempo que não sinto falta de sistemas proprietários no dia a dia. Na prática, eu uso bastante software livre, mas não sou um programador - no máximo eu copicolo umas coisas, mas no geral sou só um usuário fuçador.
Hardware livre eu acho interessante por um monte de meta-motivos - não necessariamente pelo hardware em si, mas pelas possibilidades de aprendizado e inovação distribuída que ele abre. Acho que tem muitos caminhos aí que questionam uma certa centralização e um certo encapsulamento da ideia de inovação - uma crítica ao complexo industrial que afirma que essa inovação e esa criatividade só podem acontecer nas etapas iniciais da cadeia de produção. Imagino que vai haver (já está havendo?) um ponto em que parte da indústria vai se apropriar dessas ideias e conceitos, e passar a fabricar produtos que já incorporem essa indeterminação. Outra parte da indústria parte para o caminho contrário - controlando ao máximo, coibindo a ressignificação e a apropriação. Não sei bem o que acontece depois, mas nesse cenário a parte da indústria que parte para a abertura é bem melhor do que a outra. Fica a pergunta de como a gente - e quem é esse "a gente" é ainda outra questão - se relaciona com essa indústria que busca a abertura. Vamos combater? Vamos ajudar? Vamos nos vender? Eles pelo menos sabem que a gente existe?
A cultura livre ainda ficou na promessa. Tem uma possibilidade de dinamizar esquemas de criação e produção muito mais profundos, mas a galera ainda tem medo de liberar os materiais brutos, as referências, os insights. Ficam só nessa onda de liberar material pronto, e isso não é liberdade de verdade - é muito mais uma estratégia de divulgação em tempos de hiperconexão. Mas de todo modo, esse hype tem pelo menos o crédito de ter questionado o mito do autor renascentista, do gênio que se isola, cria e fica rico com isso. Isso pode ser impressão minha à medida que o tempo passa, mas quero acreditar que hoje em dia a molecada com banda tá menos preocupada em assinar contrato com gravadora e ficar milionária. Não sei bem, o que tu pensa disso?
> Você considera-se um artista? De alguma forma você interage com circuitos
> artísticos, mas
> parece estar interessado em ir além. Que circuitos são estes?
Não me considero um artista, mas de maneira geral sufixos como -ista, -eiro, -or são uma coisa que eu não sou de usar muito. Eu já quis ser - talvez nessa ordem - guitarrista, engenheiro de som, fotógrafo, videomaker, animador, diretor de arte, diretor de criação, redator, webdesigner, consultor, escritor e outras coisas. Lá pelos 22 eu parei com essa ideia de querer ser alguma coisa.
Mas a arte é uma coisa que passou longe da minha formação, e uma ideia com a qual eu só passei a me relacionar há poucos anos. No começo da MetaReciclagem, eu tinha um pé atrás com "a arte" porque não entendia muito a relevância dela. Hoje entendo que, se existe um abismo entre os circuitos artísticos e o mundo lá fora, também existe um grande potencial para costurar possibilidades efetivas de construção de conhecimento, formação de imaginário, exploração simbólica e transformação de consciências através de pontes entre a arte, o ativismo e os projetos sociais.
Os circuitos com os quais eu quero trabalhar na verdade ainda estão sendo criados. São essas pontes, hoje mais possíveis com o enredamento de tudo, que exigem uma grande flexibilidade e uma grande disposição para o diálogo, mas que têm o potencial de dar maior aprofundamento para uns e maior penetração para outros.
> O que você pensa sobre nossa localização nos mapas? É possível
> identificarmos um fluxo comum de pessoas que vão além de nacionalidade e
> fronteiras interagindo - como é possível reconhecer-nos?
Nós quem? Conhecer é um processo de um a um - existem, claro, indícios e sinalizações, mas a ideia de "mapa" supõe uma objetividade que não acho que sirva pra esses encontros e reconhecimentos. Mapas são coisas muito mais simples e limitadas. Também - se o mapa é o produto da cartografia, o que é que geram os descartógrafos? Eles precisam gerar alguma coisa?
> O que é a ciência hoje? Como ela pode ir além das idiossicrasias culturais e
> lingüisticas de cada localização geográfica? Como ela pode ir além dos
> interesses geopolíticos e corporativos da globalização alienadora de
> subjetividades?
A ciência é um leque gigantesco - vai desde gerar inovação para o complexo industrial-militar, desenvolver tecnologias para melhorar a vida e diminuir o impacto humano no planeta, até a aplicação de metodologias para gerar e compartilhar conhecimento para diferentes problemas. A ciência em geral não vai ir além dessas limitações, porque ela não é um corpo homogêneo. O que acho interessante, seguindo o tema do próximo interactivos que acontece mês que vem em Madrid, é pensar em como essas práticas que vêm aí do hardware livre, do software livre, podem influenciar no movimento que tá rolando, da migração da "ciência de garagem" para a "ciência de bairro". Em outras palavras, talvez o que a gente tem feito por essas bandas possa ajudar a transformar o imaginário desde um modelo de inovação no espaço particular - muitas vezes motivada pela mitologia do sucesso na sociedade do consumo - para um modelo de inovação no espaço público, e voltada para solucionar problemáticas desse espaço público. Se trata inclusive de repensar a própria ideia de espaço público, que nas grandes cidades do Brasil e do mundo não é tão público assim.
> O que podemos pensar para além da Internet? Que tipo de práticas poderiam
> estimular um melhor entendimento de nossa condição atual de criadores de
> redes e criadoras nas redes?
As redes são muito anteriores à internet. A gente tem visto a internet dar muito mais força para redes que já existiam, e isso em si já é uma vitória - até uns seis anos atrás, essas redes paralelas eram coibidas em projetos públicos de inclusão digital, hoje são incentivadas. Isso é sinal de uma transformação mais profunda, talvez de um desaparecimento total das fontes "confiáveis" de informação. Isso tem consequëncias positivas e negativas. Agora, que tipo de práticas? Acho que a gente já tem feito muitas delas, com tanta conversa online sobre conversa online, com essa entrevista, com os encontros & debates. Mais gente tem que participar, mas aí é como lá em cima - vai chegando 1 de cada vez.
> O que é MSST?
Ainda tô tentando entender, como todo mundo.
> Que perguntas o MSST deveria fazer pra sociedade?
Que parte da sociedade?
Histórias velhas
Umas historinhas antigas que eu enviei pro COL lá por 1999/2000. Agora saindo com ilustrações da Cau.
Legumes
Publicado originalmente no COL 143, em 21/02/2000. Época meio neurótica. Acho que comecei a escrever durante um blecaute em sampa, mas isso pode ser engano. As duas ilustrações são da Cau.
 Legumes
Legumes
Acreditem em mim. Ah, olá, meu nome é Veco. Aliás, meu nome não é Veco, mas as pessoas me chamam assim porque... Porquê porra nenhuma! Não interessa. O que vocês precisam saber é que eu me chamo Veco e tenho uma história pra contar. É, uma história, com moral e tudo. Mas já que eu não sou escritor infantil, vou dar a moral (!!! nunca tinha pensado na origem dessa expressão) logo no início. É essa, sempre que vocês tiverem duas escolhas, uma certamente ruim e outra que parece boa, escolham a ruim. E aí, gostaram? Acharam um incentivo ao conformismo? Bom, foda-se, ninguém vai responder, e, se responder, eu nunca vou ouvir. Ah, pensando bem, eu tenho outra moral para essa história. Mas essa eu conto no final.
Bom, vamos à história, que começou no meu apartamento. Um apê enorme, no vigésimo primeiro andar de um edifício construído no início dos anos setentas. Desde essa época, ele foi habitado pela minha tia. Em noventa e nove, a megera morreu. Chamo de megera, porque quando eu era piá eu fiquei uma noite na casa dela, porque meus pais tinham que sair e não havia mais nenhum parente com quem me deixar. A velha fez uma sopa de legumes. Eu nunca gostei de legumes, então tomei o caldo da sopa e botei aqueles pedaços de coisas nojentas no lixo (é, eu era um guri de cinco, seis anos, mas muito educadinho). E voltei pra frente da tevê com um caderno e um lápis na mão. Fiquei ali desenhando. Quando a bruxa viu que os legumes tavam no lixo, ficou possessa. Me deu um puta sermão e me deixou a noite inteira trancado num quarto escuro. Cada vez que eu começava a chorar alto ou gritar, ela dava umas porradas na porta, do lado de fora. Eu pranteei em silêncio até dormir. Na manhã do dia seguinte, meus pais brigaram com ela e nós nunca mais a vimos.
Meus pais morreram, juntos, uns seis meses antes dela. Como não havia outros herdeiros, essa porra de apartamento ficou pra mim. Eu fui morar nele.
Voltemos, então, à história. Eu havia me mudado uns dez dias antes. Já tinha deixado tudo arrumado. O apê estava perfeito. Eu chamei a Lu pra conhecer. Lu é a mulher da minha vida. Eu tenho outras, ela tem outros, mas isso não nos incomoda. Bom, ela foi lá em casa, com um balão desses prateados que flutuam no ar, no formato do Rei Leão.
Esse foi o primeiro filme, se é que posso chamá-lo de filme, que nós vimos juntos no cinema.
Foi a primeira vez em que nos tocamos. Ela chegou lá em casa com o Rei Leão e um vinho, eu já tinha preparado a janta e a noite foi perfeita. Até que eu a convidei pra morar comigo no apê. Porra, a mulher quase teve um ataque. "Porque tu quer tirar a minha liberdade! Eu tenho minha vida, cara. Não vou entrar nesse teu esquema de vidinha a dois!"
Tentei argumentar enquanto ela se vestia, mas a mina parecia louca. Antes de bater a porta, ainda falou "Não adianta, cara. Já fez a cagada, já era."
Vivi três dias como um zumbi. Passava o tempo inteiro deitado vendo tevê, levantava, ia na cozinha pra comer, no banheiro pra cagar e mijar e deitava de novo.
Até que, na terceira noite, ou quarta, incluindo a que ela foi embora, deu um estouro na rua e faltou luz. "Puta que pariu, a tevê." Acendi uma vela azul que tinha na sala e fui pra sacada. Em todas as outras ruas os apartamentos estavam iluminados. "Velha filhadaputa, tinha que comprar esse muquifo bem nessa porra de rua?, falei. Às vezes, parece que meus pensamentos só valem se eu os falo. Mesmo que seja falar bem baixinho, como foi o caso.
Peguei uma cerveja na geladeira, fui pra sala e sentei apoiado na mesa. Acendi um cigarro. Eu já tinha comido, mas tive uma vontade repentina de tomar sopa de legumes.
Olhei pra vela. A fumaça do cigarro, na frente da vela, subia reta. Mas eu sentia um vento, a janela estava aberta. "Tô precisando dum banho." Fui pro banheiro, deixei a vela em cima da pia de mármore. Entrei no box e abri a torneira. "Putz, água gelada." Mas era melhor assim. Banho frio acorda, e, podem ter certeza, dormir era o que eu menos tinha vontade de fazer naquele instante. Embaixo do chuveiro, fiquei alguns minutos parado, observand a luz difusa da chama no box de acrílico.
Fechei o chuveiro, me sequei e voltei pra sala. Fiquei sentado no sofá, pensando como seria bom se eu pudesse ligar o som. Ou se a Lu ligasse. Gastei uns segundos avaliando o que valia mais pra mim, a Lu ou o som. Acho que o som estava ganhando, mas parei antes de chegar a uma conclusão. Na real, eu até podia viver sem a Lu, mas sem música é foda. Me arrependi de não ter escutado música nos três dias anteriores. Foi então que vi um vulto se mexendo ao lado do sofá. Pulei para o lado oposto e paralisei. Fiquei olhando fixo para o lugar, até que apareceu. Era aquela merda de Rei Leão, já meio murcho, balançando com o vento. Joguei ele pela janela e voltei ao sofá. "Há, eu sabia. Nem me assustei", pensei e falei. Nisso, a vela apagou. Já tinha derretido até o fim. "Não dá nada."
Levantei e entrei no corredor. Eu ia dormir, no dia seguinte a luz teria voltado e eu ia sair de casa, dar uma volta. Deitei. Súbito, ouvi um barulho na cozinha. Vesti uma bermuda, uma camiseta e calcei os chinelos. Cheguei na cozinha e identifiquei o barulho. A pilha de pratos sujos não deixava dúvida. Eu estava sentindo uma necessidade urgente de sair daquele apê. Decidi descer os vinte e um andares da escada para conversar com o porteiro. Se eu ficasse, não ia conseguir dormir mesmo. Eu tinha plena convicção de que poderia sentir-me melhor lá embaixo.
Vou me intrometer para explicar que é aqui o ponto da decisão que eu falei pra vocês. Era certo que ficar no apartamento era ruim. E eu achava que seria melhor sair. Continuando, saí direto da cozinha, pela porta dos fundos. Desci dois andares e só então percebi que em nenhum deles havia portas. Só a escada. "Esses edifícios antigos,
..." Tava muito escuro.
"Meu isqueiro!" Porra, era provável que eu ficasse algumas horas lá embaixo. Tinha que levar cigarro e isqueiro. E aproveitava pra iluminar a escada, vai que tem alguma coisa no caminho. Subi dois andares, mas não tinha mais a porta da minha casa. "Devo ter contado errado." Subi mais dois andares. Nada de portas. Desci os dois novamente.
"Porra, me perdi." Resolvi descer tudo e esperar. Não tinha mais ninguém na escada. Só por um momento, senti-me observado. Virei para trás e parecia que uma senhora me observava. Subi correndo as escadas e não havia nada. Nem a velha, nem qualquer barulho de passos que denunciasse haver mais alguém por ali. Continuei
descendo.
Desci. Desci. Já perdera a conta de quantos andares tinha passado.
Cansado, sentei num degrau. Um vento frio bateu nas minhas costas e voltei a descer.
 Logo, topei com uma porta. "Ah, o térreo." Cheguei ao saguão do edifício e a porta fechou atrás de mim. Não havia ninguém no saguão. Aliás, só havia um caderno e um lápis num canto. E, com exceção da porta que vinha da escada, não existiam outras saídas. Nem janelas. Tornei a abrir a porta da escada. Não havia mais escada. Atrás da porta, uma parede. Pensei em gritar, mas era melhor ficar quieto. Não quero fazer nenhum barulho. E digo pra vocês, o pior não é estar confinado neste lugar escuro. O que mais me angustia são duas coisas. Primeira, não tenho a mínima noção de quanto tempo já fiquei aqui. Segunda, não sei se estou vivo, morto, dormindo, em coma ou louco. Mas eu sei de uma coisa. Ah, eu sei. Sei que, amanhã de manhã, meus pais vão chegar e me tirar daqui.
Logo, topei com uma porta. "Ah, o térreo." Cheguei ao saguão do edifício e a porta fechou atrás de mim. Não havia ninguém no saguão. Aliás, só havia um caderno e um lápis num canto. E, com exceção da porta que vinha da escada, não existiam outras saídas. Nem janelas. Tornei a abrir a porta da escada. Não havia mais escada. Atrás da porta, uma parede. Pensei em gritar, mas era melhor ficar quieto. Não quero fazer nenhum barulho. E digo pra vocês, o pior não é estar confinado neste lugar escuro. O que mais me angustia são duas coisas. Primeira, não tenho a mínima noção de quanto tempo já fiquei aqui. Segunda, não sei se estou vivo, morto, dormindo, em coma ou louco. Mas eu sei de uma coisa. Ah, eu sei. Sei que, amanhã de manhã, meus pais vão chegar e me tirar daqui.
Antes que eu me esqueça, a segunda moral da história:
SEMPRE COMAM OS LEGUMES DA SOPA.
--Izq—
Mujeres
Publicado originalmente no COL 146, em 14/03/2000. Na época eu lia bastante Rubem Fonseca. A ilustração é atual, feita pela Cau.
MUJERES
---Izq---
 Paula olha mais uma vez para sua mãe dentro do carro. Pisca o olho. Vê os lábios dela proferindo um "boa sorte". Vira-se e entra na porta giratória do banco. A porta tranca. Paula abre o zíper de cima da bolsa e mostra para o guarda as chaves, o celular, o estojo de maquiagem de metal. Como previsto, o guarda não pede para ela tirar as coisas. Luísa e Márcia já estão dentro do banco, a primeira na fila do caixa, a outra atrás do outro segurança. É quarta-feira, metade do mês, onze da manhã. Não há mais do que quatro clientes na agência. Só um caixa funcionando, uma mocinha com jeito de delicada. Mais dois funcionários atrás do balcão. No lado oposto do banco, dois gerentes.
Paula olha mais uma vez para sua mãe dentro do carro. Pisca o olho. Vê os lábios dela proferindo um "boa sorte". Vira-se e entra na porta giratória do banco. A porta tranca. Paula abre o zíper de cima da bolsa e mostra para o guarda as chaves, o celular, o estojo de maquiagem de metal. Como previsto, o guarda não pede para ela tirar as coisas. Luísa e Márcia já estão dentro do banco, a primeira na fila do caixa, a outra atrás do outro segurança. É quarta-feira, metade do mês, onze da manhã. Não há mais do que quatro clientes na agência. Só um caixa funcionando, uma mocinha com jeito de delicada. Mais dois funcionários atrás do balcão. No lado oposto do banco, dois gerentes.
Paula se posiciona ao lado do guarda da porta e abre o zíper do meio da bolsa. Coloca as duas mãos para dentro. Márcia, no fundo da agência, gira a pesada bolsa, que tem um tijolo dentro, e acerta a nuca do outro guarda. Quando o da porta percebe, já tem duas pistolas apontadas para si, uma para o rosto e a outra para o saco. Luísa pega outra arma da bolsa de Paula e aponta para a moça atrás do caixa. O guarda tenta, lentamente, levar a mão à cintura. Paula age rápido. Tiro na cabeça. O guarda cai, Paula vira-se e joga uma das armas para Márcia, que a pega no ar e dispara no outro guarda, que jazia desmaiado. Luísa tira da bolsa uma dessas sacolas de viagem, dobrada, e manda a caixa encher de dinheiro. A menina não se mexe. Não pisca, talvez tenha parado de respirar. Luísa pula o balcão e segura a caixa pelo pescoço, apontando a arma para sua cabeça. Grita para os funcionários encherem a sacola de dinheiro, notas altas. Eles ficam se olhando, parados. Márcia atira no braço de um deles. O outro diz que não pode fazer nada, só o gerente pode abrir o cofre. Paula manda os gerentes se aproximarem. Eles relutam.
Márcia atira na perna de um deles, o careca baixinho. O outro gerente, acompanhado por Paula, vai até o cofre e o abre. Sob ordem de Paula e consentimento do gerente, o funcionário enche a sacola com notas de cinqüenta e cem reais. Paula, Márcia e Luísa despedem-se, agradecendo a cooperação de todos. Antes de saírem, Paula volta e caminha na direção do gerente, que tem uma expressão apreensiva no rosto. Ele aguarda que ela se proxime. Paula leva a boca à orelha dele, dá uma leve mordida e sussurra: "te espero em Floripa, amor".
---Izq
Skol
Outro conto de 99. Também tem um pouco de Rubem Fonseca. Publicado no COL 130, em 29/12/1999, e depois de novo no COL 169, em 05/06/2000. As ilustrações, novas, são da Cau.
SKOL
Será que uma pessoa é diferente de uma garrafa de cerveja? Carlos já matou várias garrafas de cerveja. Vazias. Fácil, asséptico. Puxar o gatilho, sem gritos nem sangue nem porfavornãomemataporfavor.  Um mês praticando. Carlos está tão bom na pontaria que acerta uma long neck a mais de cinqüenta metros de distância, mesmo depois de já ter esvaziado algumas delas em seu próprio estômago. Mas será que com gente é tão fácil?
Um mês praticando. Carlos está tão bom na pontaria que acerta uma long neck a mais de cinqüenta metros de distância, mesmo depois de já ter esvaziado algumas delas em seu próprio estômago. Mas será que com gente é tão fácil?
Planejado. Zuza vai descer do ônibus, atravessar a Protásio, ir na direção da esquina onde Carlos já o espera, fingindo que coça o saco pra mão ficar perto do cano. Quando o malandro estiver passando por aquele poste ali, a mais ou menos quatro metros, Carlos tira o berro da cintura. Aponta. Puxa o gatilho, cabeça. Zuza cai no chão. Puxa o gatilho de novo, cabeça. Pra garantir. Arma na boca de lobo, vai embora.
E se o fiadaputa não morrer? Impossível. Duas balas nos miolos. Impossível. Os porco nem vão querer saber quem foi. Ladrão morto não faz falta.
A mão esquerda de Carlos solta o bolso da calça e sobe à altura de seus olhos. Está branca, os dedos enrugados. Merda de chuva. Choveu durante toda a noite, Carlos já não tem uma parte de seu corpo seca. Escorado desde as onze horas na esquina, na parede da loja de autopeças, parece uma estátua. Só se mexeu quando a perna direita começou a ficar dormente. Uns segundinhos flexionando o joelho e voltou para a posição.
Para evitar qualquer problema, saiu de casa sem os documentos. Ele sente a chave no bolso, a corrente gelada no pescoço e o revólver na cintura. Essa arma, segundo o Seu Doca, tinha sido roubada de um coronel aposentado da Brigada. Um .32, Rossi, cano curto, preto, cabo de plástico marrom. Seis tiros. Tá bem conservado, mas dá pra saber que é meio velho porque o cão não tranca, tem que puxar o tiro inteiro, direto. Mas Carlos já se habituou, embora nunca tivesse atirado antes de começar a praticar lá no sítio do Seu Doca, em Viamão. Na verdade, Carlos ainda não atirou em seres vivos. E, além de algumas brigas de boteco, nunca machucou ninguém. Costumava ser o primeiro a sair dessas confusões, talvez por saber que seus noventa e três quilos bem distribuídos em metro e oitenta e sete poderiam ferir algum bebum, de verdade. Carlos nunca cogitaria executar uma pessoa, se não fosse pro Seu Doca, que tanto lhe ajudou desde que ficou desempregado, há dois anos. Seu Doca, precavido, não confia em outro para fazer esse trabalho. Carlos aceitou, pensando na lealdade que devia a esse velho trambiqueiro e também na garantia dele de que teria sempre comida pros filhos e pra Bia, que tava grávida de novo. Mas tinha que apagar o alcagüete, era assim que Seu Doca chamava o cara.
Surge, lá longe, mais um Passo Dornelles/Safira. Tem que ser neste. Já passaram uns quinze nessa noite, e Zuza não apareceu. Passaram também três viaturas da Brigada, uma delas parou no posto de gasolina do outro lado da rua, ficou ali por uns dez minutos, enquanto Carlos torcia para que o dedo-duro não aparecesse justamente naquela hora, que os porco tavam no bico. Mas eles se foram e Carlos continuou. Opa, agora sim. Zuza desce do ônibus e vem caminhando devagar, pouco se importando com a chuva, que continua forte. Carlos lembra-se das garrafas. Será que vai ser tão fácil assim? Será que a arma vai funcionar, depois de tanta chuva, essa merda de arma velha? Fica imaginando que terrível vai ser se ele gostar, e inventar de repetir depois.
Olha para Zuza, atravessando a Protásio e imagina um cadáver caminhando em sua direção. Amanhã esse cara não existe mais. Será que ele falou com a mãe dele hoje? Será que não tem algum filho escondido por aí, que talvez nem saiba que o pai é um ladrãozinho dedo-duro, e vai virar órfão sem ter ao menos lhe conhecido? Uma vida inteira vai fora. É só puxar um gatilho. Carlos sente-se um covarde. Arma de fogo é pra covardes. "Não vou matar o cara. Outra hora, eu acho ele, dou um couro, se ele tiver amor à vida não vai mais abrir a boca". Sua pulsação está alta, sente-se ligeiramente tonto. Está decidido, Zuza vive. O malandro se aproxima. Está passando na frente da escada da loja de materiais de construção, olha para Carlos e bota a mão no canivete dentro do bolso, sem se preocupar em esconder suas intenções.
"Esse paunocu ainda vai querer me assaltar agora". Carlos finge que coça o saco. Levanta levemente a camiseta. Zuza vê o brilho na cintura de Carlos e sai correndo. "Putamerda!" O berro faz um barulhinho quando bate na fivela do cinto, o barulhinho que tantas vezes Carlos ouviu quando treinava o saque na frente do espelho. Tiro. Erra. Carlos já corre atrás de Zuza. Tiro. Erra. O gatilho emperra antes de dar o terceiro. Merda de chuva. Zuza tropeçou na escada. É alcançado por Carlos, que já leva as duas mãos, entrelaçadas, num coice no meio das costas do dedo-duro. Ele vai ao chão, entre o terceiro e o quarto degraus da escada de mármore acinzentado. Chute no rim esquerdo. Zuza está caído, apoiado em seu braço direito, a perna direita dobrada, a esquerda estendida por cima da outra. Agora, chute no rosto, o corpo vai para trás, olhos fechados. Ali fica, parado. Dois dentes no chão, mais adiante. Ainda respira. "O viado já desmaiou!?" Carlos lembra-se da arma. Onde é que ela ficou? Olha para trás. Antes de olhar para o chão, procura alguma testemunha na avenida. Ninguém.
 O pouco tempo de distração é suficiente para Zuza tirar o canivete do bolso e cravá-lo na perna direita de Carlos. A dor é imensa, seu corpo se torce inteiro para o lado, cai no chão. Zuza corre. Carlos se restabelece e vai atrás. Não o vê mais. Onde é que se escondeu o puto? Segue caminhando, não consegue correr. Passa pela parada de ônibus, pelas carrocerias destruídas na frente do ferro-velho, vê o canivete no chão, passa pela árvore e pelo contêiner de entulho. Tonteia, a dor na perna está forte. Se encosta no contêiner. Quando percebe Zuza se levantar lá de dentro, já é tarde.
O pouco tempo de distração é suficiente para Zuza tirar o canivete do bolso e cravá-lo na perna direita de Carlos. A dor é imensa, seu corpo se torce inteiro para o lado, cai no chão. Zuza corre. Carlos se restabelece e vai atrás. Não o vê mais. Onde é que se escondeu o puto? Segue caminhando, não consegue correr. Passa pela parada de ônibus, pelas carrocerias destruídas na frente do ferro-velho, vê o canivete no chão, passa pela árvore e pelo contêiner de entulho. Tonteia, a dor na perna está forte. Se encosta no contêiner. Quando percebe Zuza se levantar lá de dentro, já é tarde.
Apanha com uma tábua, com pregos na ponta. Zuza bate com raiva, chega a quebrar a tábua. Carlos está deitado de frente, apoiado nos cotovelos. Suas costas em carne, muito sangue. A tábua já não serve mais como arma. Zuza pega dentro da caliça uma garrafa long neck. Skol. Carlos já sabe o que vai acontecer. Em sua mente, os próximos segundos vão demorar a passar. Aparecem cenas de sua adolescência ali mesmo, na Bonja. A primeira vez em que viu Bia, ela dezessete anos e ele dois a mais. O casamento na igreja, Bia já grávida e a mãe dela chorando - os pais dele se recusaram a vir do interior, não gostavam da menina. Por fim, Seu Doca no boteco dizendo, eu sei que tu te garante, guri.
Zuza não hesita. A garrafa estoura, furiosa, na parte de trás da cabeça de Carlos, rasgando-lhe a pele e jogando seu rosto ao chão áspero. Seus pulmões ainda vão puxar ar por um minuto ou dois. Ninguém aparece para ajudar. Será que uma pessoa é diferente de uma garrafa de cerveja?
---Izq
Spectraman
Publicado originalmente no COL 125, em 14/12/1999, baseado em um sonho que eu acho que tive mesmo. A ilustração atual foi feita pela Cau.
 spectraman (é assim que se escreve?)
spectraman (é assim que se escreve?)
foi assim. eu tava correndo por uma dessas avenidas, parecia ali onde a bento vira joão pessoa, ou azenha, eu nunca sei. aí eu cheguei em um cruzamento onde passavam vários, milhares de carros. pensei, eu não sei atravessar avenidas. fiquei alguns minutos olhando aquela maré de carros sem saber o que fazer. o fluxo diminuiu e eu me dei conta que era só esperar quando não viessem carros e passar pro outro lado. foi o que eu fiz, mas quando estava no meio do percurso vi um carro de faróis acesos, era um escort antigo, daqueles quadrados, igual ao que eu tive, vindo em minha direção. comecei a correr, o carro passou por trás de mim, sem mais problemas. mas eu não consegui, não queria mais parar de correr. então, ouvi o refrão da bidê ou balde, e por que não?, abri os braços e comecei a voar. voei para a frente a uma velocidade muito grande. parei, flutuando no ar e resolvi subir acima do nível das árvores - eu não falei, mas tinha um monte de árvores - pensando, será que dá pra ver minha casa daqui? subi uns dez metros. esqueci da minha casa, fiquei olhando pro gasômetro, aquela luz avermelhada do pôr do sol. de repente, vem voando em minha direção, quem? o spectraman. ele gritava alguma coisa, em japonês, obviamente. aí, olha só que viagem. eu pensei em gritar pra ele, sai da frente cara! mas eu sabia que tava sonhando e que se gritasse, eu falo e grito dormindo, ia acordar a família inteira, já passava das três da manhã. então eu decidi, vou acordar. spectraman voava na minha frente, com braços estendidos para cima, em formato de vê. acordei, deitado na cama, olhando pra cima. e quem estava no meu quarto? spectraman. na verdade, era o ventilador de teto, duas das pás na posição dos braços do sujeito, e o bojo da lâmpada parecendo a cabeça. por dois segundos, fiquei parado. pirei de vez. não tem mais volta. quando acostumei os olhos com a escuridão, sentei na cama e fiquei rindo sozinho. realmente, não preciso de heavy drugs.
Lixo Eletrônico
Textos sobre Lixo Eletrônico (parecidos entre si, mas em níveis diferentes de detalhamento):
- Lixo Eletrônico (janeiro 2009, artigo publicado no ebook Para Entender a Internet)
- O ciclo do Lixo Eletrônico (setembro 2008, série de textos para o blog Lixo Eletrônico)
Metáfora 1.0
Escrevi esse texto contando sobre o projeto Metá:Fora. Na época, acho que no começo de 2005, o Bica revisou, mas não lembro se cheguei a publicar em algum lugar.
Arquivo anexado (PDF, 158KB).
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| metafora_1_0.pdf | 157.91 KB |
Mutirão da Gambiarra #1 - História da, histórias de MetaReciclagem
Em janeiro de 2009, compilei uma série de textos de autores diversos para montar a primeira edição do Mutirão da Gambiarra. Lancei a versão beta em PDF durante o Encontrão Intergalático de MetaReciclagem na Campus Party 2009.
Outros caminhos
A idade contemporânea sacralizou o planejamento de produtos. Tornou o design uma via de mão única, quase divina: a indústria desenha, enquanto os "consumidores" assumem o papel de receptores semipassivos - compram, usam, descartam e compram mais. Nesse mundo, quanto menos usos um produto tem, melhor. As coisas são feitas para um fim, e só para ele. Para outras utilidades, que se comprem outros produtos. O saber popular da gambiarra é combatido, desvalorizado como ação de gente que vive na precariedade, sem acesso a recursos materiais. A consequência direta disso é que cada vez mais as pessoas aprendem que problemas só podem ser resolvidos com consumo, e perdem o acesso à inovação cotidiana. Além disso, a definição das características dos produtos, objetos e ferramentas recai totalmente sobre o lado mais forte, que também decide sozinho sobre outros aspectos como durabilidade e obsolescência, contando com o braço armado da imprensa especializada (um fenômeno bastante visível no mercado de eletrônicos, mas também com automóveis, eletrodomésticos e outros).
O desvio (como o détournement) é um tipo de contestação que atua na desconstrução simbólica de todo esse cenário. Ao contrário da reciclagem, que busca reinserir no ciclo produtivo os produtos não mais utilizados, o desvio busca trazer à tona a criatividade latente no dia a dia. A partir do momento que essa invenção cotidiana de significado se dissemina, também se dissemina o tipo mais essencial de criatividade, aquele que pode ajudar as pessoas a resolverem problemas sem pôr a mão no bolso. Não se trata de mero elogio da precariedade, mas de construção de uma habilidade cada vez mais útil em época de colapso ambiental, de crise econômica, de mesmice cultural. Para isso, precisamos não só tratar a gambiarra como solução prática, mas também como elemento estético. Quando as pessoas perdem a vergonha da gambiarra, estamos começando a virar o jogo.
Processos criativos
Há algumas semanas a revista Época publicou uma entrevista com o Geert Lovink. Ele fala algumas coisas que fazem sentido, mas tem uma frase que não desceu redondo:
ÉPOCA – Por que o senhor critica os defensores da liberdade de cópia na rede?
Lovink – Acho que devemos fornecer meios para que a próxima geração da web ganhe dinheiro com ela, possa viver de seu trabalho e de sua criação. O problema é que o pessoal do software livre só pensa em trocar livremente seus programas. Nunca imaginaram como profissionais criativos poderão sobreviver quando nos movermos para uma economia baseada na internet.
Conversei com algumas pessoas e percebi que não fui o único que não gostou dessa frase, de alguma forma. Até faz algum sentido, mas não deixa de denotar uma falta de sensibilidade com o contexto: um comentário como esse publicado em algum ambiente onde haja familiaridade com o software livre, copyleft ou até creative commons poderia cumprir bem a função de crítica, mas numa revista como a Época (mesmo que ela não seja das piores no que se refere a tecnologias) pode ser um tiro pela culatra, matando debates antes de eles chegarem a nascer. Troquei uma idéia por email com o Geert, falando da possibilidade de coexistência de vários modelos econômicos. Falei do tecnobrega no Pará, perguntei se ele assistiu ao Good Copy Bad Copy. Ele publicou a resposta no blog dele. Traduzindo:
Eu entendo o argumento, mas vejo isso somente como uma solução de curto prazo. Depende da cultura de novas mídias, a que nós damos forma e representamos, bolar (to come up with) modelos sustentáveis a longo prazo para que provedores de conteúdo possam viver do seu conteúdo, se eles quiserem. O amadorismo deve ser uma escolha, não a opção padrão. As bandas não podem viver na estrada, e menos ainda escritores ou designers. Já é tempo de separar (unravel) as boas intenções do software livre e de código aberto das más conseqüências que o "livre" tem para produtores de conteúdo independentes e começar a imaginar, de uma forma coletiva, como fluxos alternativos de dinheiro podem ser facilitados. Voltar para as gravadoras e a indústria da mídia mainstream não é uma opção - mas o modelo do software livre e de código aberto também não.
É bom lembrar que ele foi um dos organizadores do My Creativity, um evento em Amsterdam que juntou um monte de gente e produziu uma bem fundamentada visão crítica de todo o barulho sobre "indústrias criativas". Mas eu não consigo deixar de notar duas coisas nessa linha de argumentação: a primeira é uma confusão entre o "modelo do software livre" e a mera distribuição de conteúdo; a segunda uma questão de referência e contexto.
Muitas pessoas já explicaram isso melhor do que eu, mas não custa repetir mais uma vez: a grande transformação que o software livre traz para a produção de conhecimento não é somente a livre circulação de informação compilada, mas a criação de ecossistemas complexos baseados em recursos abertos e livremente remixáveis. Mais do que só "trocar livremente os programas", eu posso ter acesso ao código-fonte de qualquer software livre, e ainda tenho a liberdade de modificá-lo e redistribuí-lo. Na minha opinião, em geral falta ousadia aos "criativos" para ir além da distribuição livre e começar a efetivamente abrir o processo criativo em rede. Ou seja, mais do que pensar em conteúdo, agitar redes criativas. Isso já acontece aqui e ali, mas ainda não existem muitos ambientes que partam dessa visão mais ampla. Lembro de ter acompanhado com interesse há alguns anos conversas na lista do estudiolivre sobre publicar faixas abertas do ardour na rede, mas até onde vi isso não andou muito (até porque o tamanho dos arquivos ainda faz isso ser um pouco impraticável). Glerm é um cara que já experimentou um pouco com a publicação de soundfonts e mais de uma vez abriu um HD inteiro na rede pra quem quisesse baixar, mas ainda assim as barreiras pra compreender e interatuar sao bastante grandes. Se me perguntarem, eu acho que ainda dá pra brincar bastante nesse sentido. Há algumas semanas instalei aqui o Celtx, um software para edição de roteiros e storyboards que me permite abrir meus arquivos na rede para colaborar com outras pessoas. Çtalker comentou comigo que o Celtx é meio careta e pode bitolar as pessoas com formatos já conhecidos de roteiro, e eu concordo, mas não deixa de ser um passo no sentido de pensar em processos criativos coletivos, como maneira de escapar à já batida imagem renascentista do criador isolado em seu estúdio/ateliê. Sei que o próprio Richard Stallman costuma enfatizar que música é diferente de software livre, mas eu gostaria de ver mais experimentação em entender a produção criativa como uma questão menos de circulação conteúdo do que como processo coletivo. Ainda sobre essa questão, é divertido ver o trecho de vídeo do Léo Germani perguntando ao Jorge Furtado se existe a possibilidade de produzir cinema como se produz software livre: ele começa dizendo que não sabe, quase refutando, mas começa a ver paralelos entre as duas atividades. A entrevista não termina, mas a pergunta continua no ar.
E aí vem a questão cultural. Eu entendo que na Europa haja toda essa expectativa de tentar entender como é que a criatividade, junto com a disseminação de tecnologias de produção criativa (também é bom lembrar que hoje em dia qualquer pessoa com um computador mediano tem virtualmente um estúdio de som ou uma ilha de edição de vídeo ao alcance das mãos), se encaixa no esquema geral das coisas. Eu entendo que se esteja tentando evitar que os criativos conectados tenham toda sua produção apropriada de maneira indesejável pelos intermediários corporativos. A imagem do youtube e do myspace terceirizando a distribuição de produção criativa mas ainda assim mantendo o grosso do lucro nas mãos dos mesmos capitalistas de sempre não deixa de me incomodar. Mas eu tenho visto (no Wizards of OS, no Picnic, no Futuresonic) a conversa sobre "como a gente vai ganhar dinheiro" falar muito mais alto do que a conversa sobre "o que a gente consegue fazer com isso tudo", e isso me incomoda. É claro que no Brasil, onde "criatividade" só dá dinheiro no mundo do jabá e na indústria da publicidade, onde nunca pareceu realmente viável viver da própria criatividade sem se vender para o mainstream e a galera já tá acostumada a viver de bicos aqui e ali, é mais fácil ignorar a questão de como se sustenta o mercado "independente". Na verdade, nem sei se consigo acreditar na existência de um "mercado independente" no Brasil. Existe o jabá, depois uma parte do mainstream que tem cara de independente, e um bando de gente que não ganha nada, e ponto. E aí vem outra questão: será que a gente vai continuar com o complexo de Daslu e tentar copiar um modelo que já não funciona na Europa, ou vamos ir mais a fundo e assumir nossa natureza um pouco mais aberta e colaborativa pra propor modelos econômicos além da oposição "distribuir de graça" x "transformar em conteúdo e cobrar pela distribuição"?
Software livre e Mídia Tática
Esse artigo foi publicado na revista eletrônica ComCiência, em junho de 2004.
O software livre já é uma opção pertinente para o usuário médio, ou seja, aquelas pessoas que utilizam um ambiente gráfico, cliente de email, player MP3, gravador de CD, descompactador de arquivos e aplicativos de escritório. Existe substituto à altura para grande parte do software proprietário necessário para quase todas essas tarefas realizadas cotidianamente. Para falar a verdade, em alguns casos o software livre supera as opções proprietárias em muitos, caso do navegador Firefox, entre tantos outros exemplos. Esse contexto é potencialmente revolucionário: qualquer pessoa pode hoje usar efetivamente um computador sem contribuir com as remessas de lucros enviadas anualmente para o exterior e evitando também a alternativa mais comum: o uso de software pirata. Isso tem impacto direto nas iniciativas públicas de universalização do acesso à tecnologia, como podem atestar os milhares de usuários dos telecentros de São Paulo.
A flexibilidade do software livre também é solo fértil para inovação. Com base no GNU/Linux e em soluções abertas, temos feito no MetaReciclagem algumas coisas que seriam impossíveis em software proprietário, não necessariamente pelo custo, mas pela impossibilidade de otimizar o código: um telecentro com 15 estações Pentium 100 Mhz diskless rodando em um servidor que é pouco mais potente do que um desktop doméstico; um videowall interativo com nove monitores, rodando em um servidor e duas estações, todos Pentium MMX 200 Mhz, com não mais do que 40Mb de RAM, e outras brincadeiras. Não são coisas simples de executar. Dalton Martins e nossa equipe de técnicos insanos passaram horas pesquisando essas e outras soluções. Mas os resultados aparecem, principalmente pelo empenho deles em fazer acontecer, e por podermos contar com conhecimento livre, o que expande nosso universo de colaboradores dos pouco mais de dez que estão diretamente envolvidos com o MetaReciclagem para os milhares que já aprimoraram algum pedaço de código. Nós nos valemos da força colaborativa do software livre para alavancar nossa própria criatividade.
Temos trabalhado com algumas iniciativas voltadas para o que pode ser chamado de Mídia Tática: o uso de ferramentas de comunicação em prol de movimentos sociais. Brigamos algumas vezes pelo uso de software livre nesses projetos: já chegamos a ponto de quase ter que forçar um projeto a adotar software livre. Apesar de haver uma grande coerência entre um esforço para a socialização do uso das mídias e o exemplo de criação colaborativa que é o software livre, sempre acabo sentindo uma certa resistência. Muitos dizem que não existe software para produção midiática. Isso é um engano tremendo. Gosto de mostrar o Dyne:bolic para essas pessoas. Alguns, um pouco mais informados, dizem que até existe, mas não dá pra confiar. Outro erro. Afirmam isso aqueles que nunca chegaram a testar o software livre. Poucos são os que realmente saíram da zona de conforto e efetivamente testaram. Esses, sim, podem reclamar, e concordo totalmente com o que eles costumam dizer: a interface dos softwares de produção em multimídia é muito menos intuitiva do que daqueles que são utilizados em ambiente profissional, a instalação é muito complexa, há dificuldades para adequar o material a padrões de mercado (separação de cores para gráfica, ou codecs de vídeo, por exemplo).
Acontece que não há maneira de surgir de repente o aplicativo ideal. A maioria dos "artivistas", como alguns deles gostam de ser chamados, tem um verdadeiro fetiche pela ferramenta perfeita. Justamente por isso, não saem da zona de conforto para testar soluções livres. Se os maiores interessados não se prontificam a testar e aprimorar o software, quem vai fazer isso? Essa é a mudança de paradigma. Não existe, como é o caso no software proprietário, uma empresa interessada em desenvolver o melhor para colher mais lucros.
Os casos de sucesso no desenvolvimento aberto foram aqueles em que os usuários eram os próprios desenvolvedores, ou então aqueles em que os usuários se dispunham a uma interação aprofundada com os desenvolvedores, frequentemente sendo questionados sobre cada uma das funcionalidades que queriam. Acontece que a grande maioria dos "artivistas" - com honrosas exceções, deixo claro - não se dispõem a tais sacrifícios. Deve ser algo prejudicial à imagem deles serem vistos conversando com geeks (alguém que gosta de tecnologia). Além disso, é bem mais fácil comprar um CD pirata em qualquer camelô por aí e instalar ao invés de perder duas horas explicando para um magrelo de óculos porque é que tem que ter um preview de efeitos de vídeo, não é mesmo? Alguns deles até se sentem orgulhosos de usar CDs piratas. Propagam que estão subvertendo o sistema. Pura ilusão. Fazer vista grossa às cópias para uso pessoal e depois cobrar pelo uso empresarial é uma das estratégias mais conhecidas de conversão de usuários e manipulação do mercado de software.
Usar software pirata, no momento em que estamos, só tem uma justificativa plausível: preguiça.
Até aí, tudo bem, um dos impulsos naturais do ser humano. Mas não é só isso. Se é o caso de um artista isolado usando software pirata para editar os vídeos captados na sua câmera comprada na última visita a Nova Iorque, eu não tenho o direito de reclamar muito. A vida é dele, se quer continuar a ser escravo de luxo de multinacionais desde que possa afirmar que está subvertendo o sistema, que fique à vontade. Mas se estamos falando de projetos de cunho social que tratam da capacitação de comunidades periféricas para o uso de mídia e replicação de estruturas de mídia alternativa (uma das possíveis extensões para a chamada terceira onda da inclusão digital), usar software proprietário é uma obscenidade. Por trás de toda a aura de responsabilidade social e mídia de protesto, esses artivistas estão agindo como propagandistas da indústria do software, criando mais e mais gerações de dependentes da ferramenta padrão de cada área, que vão precisar recorrer ao pirata se quiserem fazer um estúdio amador de áudio, por exemplo.
Como mudar essa situação? Bom, já ficou claro que o Brasil tem uma efervescência na produção de software livre. Talvez o pessoal de produção de mídia tenha que sair um pouco do comodismo e procurar essa moçada que, a cada dia inventa novas maneiras de fazer as máquinas conversarem. Isso é muito diferente de mandar uma cartinha para o SAC de um fabricante de software dizendo o que você quer na próxima versão do produto. O processo é tratar a tecnologia como artesanato. E rever todos os conceitos que você tem sobre o que é necessário para trabalhar com mídia. Garanto que é um processo criativo sensacional, embora não garanta maior reputação no clubinho hype da semana. O software livre continua se movimentando por aí, eventos pipocam para todos os lados. Acho que é o momento de aproveitar e recrutar alguns bons desenvolvedores para ajudar a migrar a produção de mídia também para software livre. Quem está comigo nessa?
Tecnologia social
Uma versão reduzida desse artigo foi publicada no caderno Mais, da Folha de São Paulo, em 19/04/2004
Os cadernos de informática e demais viciados em novidades costumam encontrar a cada meio ano a grande revolução que vai mudar os rumos da humanidade. A bola da vez parecem ser as chamadas social networks (redes sociais), como Orkut, Friendster, ICQ Universe, Flickr e afins. Trata-se de ambientes que mapeiam a rede de relacionamentos das pessoas e permitem a organização de grupos com interesses compartilhados, debates sobre esses interesses, e alguns outros meios de interação. Nenhuma dessas características é novidade para quem já se utiliza da internet para interagir com outras pessoas e conhece as listas de discussão, weblogs, comentários e publicações coletivas. Talvez a inovação do chamado software social esteja na interface integrada de todos esses recursos, e no Foaf (friend of a friend), um padrão de metainformação que surgiu paralelamente a esses sistemas. Particularmente, eu considero o software social mais um passo na evolução do que pode ser chamado de maneira abrangente como tecnologia social, um conceito que vai muito além de dispositivos conectados a redes telemáticas.
Ouvi falar pela primeira vez em tecnologia social da boca de Bráulio Brito, amigo e professor de semiótica mineiro, no meio de uma das crises de identidade do que costumava ser conhecido como Projeto Metá:Fora. É possível que o uso que eu faço da expressão seja diverso do aceito nos círculos acadêmicos. Se esse é o caso, não peço desculpas, apenas alego que, não sendo um profissional das palavras, não me incomodo em ocasionalmente agir como um pirata: roubo idéias, abuso delas a meu belprazer e depois as abandono. O fato é que tenho observado alguns padrões emergentes, em diferentes áreas do conhecimento, o que acaba anulando um pouco o meu fetiche por informática quando um novo sistema surge.
Antes de criticar o maravilhoso mundo da tecnologia da informação, esse apregoado elixir que trará a redenção de todos os povos em uma grande inteligência coletiva e democrática da era de aquário, devo declarar que sou um usuário assíduo da comunicação telemática. Brinco com a internet desde 1996, quando usava os terminais de fósforo verde através do Vortex, no CPD do Campus Saúde da UFRGS (Universidade Federal do RS); estive envolvido com dezenas de projetos relacionados a tecnologia da informação; recebo quase três mil emails mensais, sem contar com spam e surtos viróticos. Não obstante, sinto até raiva quando vejo iniciativas interessantes serem empacotadas e transformadas em produtos conceituais proto-revolucionários, com significado e resultados limitados, tomados sem que se observe todo o contexto.
Quero começar discordando do uso comum de termos como "comunicação digital" e "comunidades virtuais". Em um pequeno mas eloquente livro chamado "Cérebros e Computadores", Robinson Moreira Tenório trata de desmistificar o jargão adotado por um certo senso comum no mercado e na mídia, de que computadores significam informação digital, e o "velho mundo" neoludita - as pessoas "desconectadas", defasadas - são exemplo de um comportamento "analógico". Ora, não sendo um daqueles pilotos de naves em Matrix que lêem código binário, o uso que eu faço de um computador é profundamente analógico. Mover o ícone de um arquivo para a lixeira são os exemplos mais triviais. Por outro lado, há a questão do virtual. Há quase dois anos, eu e Hernani Dimantas criamos uma lista de discussão que veio a ser o Projeto Metá:Fora, que até hoje tenho dificuldade em definir: um conceito de produção colaborativa, um grupo de cento e cinquenta lusófonos espalhados pelo mundo criando projetos baseados no conhecimento livre, uma série de subprojetos abertos. Me entorta o estômago quando alguém define o Projeto Metá:Fora como uma comunidade virtual. Como assim, virtual? Está certo, usávamos meios de comunicação que contam com um alto grau de virtualização para debater novas idéias e mobilizar pessoas interessadas em agir com interesses comuns. Mas o sentido de comunidade era atual, real. Interagíamos pela internet, mas também usando papel e conversando em um bar.
Outra coisa que me aborrece são aquelas pessoas que, quando ouvem falar sobre tecnologia, pensam logo em computadores e assemelhados. O computador é um aparelho desagradável. Abstraídas as exceções, é composto por duas caixas beges feias, desajeitadas, que contribuem para o aquecimento da atmosfera, emitem radiação e um ruído irritante. Se isso é o supra-sumo da tecnologia, eu serei o primeiro a reclamar. Mas tecnologia para mim não se define nem encerra em computadores. Pelos padrões acadêmicos, sei que posso incorrer em mais um erro conceitual (não, eu não li tudo o que deveria sobre o assunto - evitem esse tipo de crítica), mas chamo de tecnologia qualquer artifício que modifique a natureza com uma intenção específica, e de tecnologia social qualquer desses artifícios que tenha por objetivo aproximar pessoas com interesses em comum e articular meios para que possam promover a ação em busca desses interesses. Nesse sentido, a tecnologia social abrange desde um caderno até um telefone celular. Sim, computadores podem fazer parte da equação, mas convém que se evite equiparar uma coisa à outra. Computadores podem ser o meio para a tecnologia social, mas essencialmente ela trata mais de uma maneira de usar as ferramentas de comunicação, e isso envolve auto-organização, colaboração e cooperação, construção e validação coletivas de conhecimento, quebra de hierarquias, descentralização e o caráter emergente das tomadas de decisão.
É possível pensar em diversos exemplos práticos que trabalham a questão da tecnologia social em vários aspectos além da questão da informática. Há os casos benéficos e há os destrutivos. Vou ficar com os primeiros:
* Mídia alternativa. É claro que a proliferação de weblogs e publicações coletivas e abertas tem seu significado. Mas vale a pena dar uma olhada nas rádios comunitárias - aquelas comunitárias mesmo, não valem as que tentam emular o ambiente e a programação de uma rádio comercial -; nos jornais de associações de bairro e pequenas entidades que não têm orçamento suficiente para formalizarem-se como ONGs; nos fanzines que acompanham as cenas culturais independentes.
Aliás, falando sobre mídia, acabei me envolvendo nos últimos anos com todo um contexto que é definido como mídia tática, que eu entendo como a reapropriação, por parte da sociedade, das ferramentas de comunicação. Há grandes exemplos por todo o mundo de movimentos sociais que utilizam as armas informacionais comuns ao mercado para denunciar os pecados do "inimigo"- seja ele uma empresa que pesquisa transgênicos, uma fabricante de sapatos que se serve de trabalho semi-escravo na Ásia ou a Organização Mundial do Comércio. Acontece que a cultura brasileira, pelo menos aquela que tenho visto por aí, tem uma natureza muito mais conversatória do que falastrona. Quero dizer com isso que tenho encontrado pessoas que vêem muito menos naturalidade em ser ouvidas do que em interagir: simultaneamente ouvir e falar. Seja isso medo de ser mal interpretados ou parte da formação cultural de um povo que criou entre outras coisas a Umbanda, uma das crenças mais descentralizadas e abrangentes de todo o mundo, o que interessa é que nós que pretendemos trabalhar na transformação social com o apoio da tecnologia de informação devemos estar cientes desse fato se queremos algum tipo de resultado.
* Comunicação em rede. Sim, estou falando da internet e suas fantásticas ferramentas de mobilização coletiva, aqui incluídas as redes sociais já mencionadas, mas também me fascina velocidade com que os camelôs descobrem que a fiscalização está na rua, ou dos apitos no Posto 9 avisando que a polícia tá na área.
* Colaboração. Sim, o software livre é um case maravilhoso. Mas o maravilhamento gringo frente à complexidade operacional de uma escola de samba ou, como apontou André Passamani, o mutirão para a construção do puxadinho - mais água no feijão, pagode e generosidade - podem ser exemplos ainda mais representativos.
A tecnologia social é, ninguém poderia negar, uma área extremamente abrangente. Eu tenho dedicado meu tempo a projetos que seguem uma série de princípios:
- Ênfase no que Hernani Dimantas chama de conversações, inspirado pelas conversations do manifesto cluetrain: mais do que simples expressão plural, a agregação de vozes em diferentes áreas do conhecimento em torno de objetivos em comum.
- Uma orientação emergente no que eu e Daniel Pádua definimos como Xemelê: a preocupação de que todos os envolvidos em determinada conversação mantenham uma linguagem acessível àqueles que não são de sua áreas, evitando jargão demasiado específico.
- Copyleft. O copyleft e os avanços conceituação e aceitação da ideia de conhecimento livre não é ingenuidade, é simples aceitação do fato de que o conhecimento é sempre misto de construção pessoal e coletiva, e que tanto a impossibilidade da propriedade intelectual quanto a anulação do papel individual em uma hipótese totalmente aberta são extremos que não nos interessam.
Em suma, as redes sociais são, sim, interessantes. Vale a pena participar. Eu tenho retomado o contato com pessoas que não via há muito tempo, tenho encontrado opiniões interessantes sobre assuntos que me dizem respeito e venho também tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas baseado nas afinidades que se tem a oportunidade de expor em tais sistemas. Mas que não se esqueça que este é só mais um passo de um longo processo.
Hipertexto:
- Orkut: http://www.orkut.com∞
- Friendster: http://www.friendster.com∞
- ICQ Universe: http://universe.icq.com∞
- Flickr: http://www.flickr.com∞
- Foaf: http://www.foaf-project.org/∞
- Hernani Dimantas: http://www.marketinghacker.com.br∞
- Howard Rheingold: http://www.smartmobs.com∞
- André Passamani: http://colab.info∞
- Manifesto Cluetrain: http://www.cluetrain.com∞
- Daniel Pádua: http://www.dpadua.org∞
- Copyleft e conhecimento livre: ver http://www.creativecommons.org
Teoria, Cadê?
"Teoria, Cadê", publicado como o primeiro Caderno Submidiático, não é um texto meu, mas uma edição em cima das transcrições do primeiro debate da Submidialogia #1.
Arquivo anexado (PDF, 256KB).
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| caderno_01.pdf | 255.7 KB |
/)